Fernando Canzian
05/03/2007
São dois governos distintos, com problemas e agendas diferentes. Mas ambos foram fundamentalmente iguais no principal vetor que hoje emperra o crescimento brasileiro: o inchaço do Estado e o aumento de seu peso sobre o setor produtivo e os trabalhadores --via carga tributária.
Nisso, FHC e Lula são irmãos siameses, apesar de toda a ladainha dos tucanos de que os petistas são "estatizantes" e atrasados, diferentes deles.
Lula de fato é distinto em vários outros aspectos, mas não difere do que foi FHC no fundamental: quando se trata de tirar o peso do Estado de cima da gente.
Sob Lula, muitas das iniciativas de modernização do Estado promovidas por FHC foram abandonadas. A ênfase que o PT dá às agências reguladoras (Aneel, Anatel etc.) e às concessões (de rodovias, por exemplo), fundamentais para atrair investimentos privados, é próxima de zero.
FHC, por sua vez, foi muito mais tímido que Lula na chamada agenda social. O tucano também foi menos responsável, do ponto de vista fiscal, que Lula. Só economizou nos superávits primários (para tentar reduzir a dívida pública) a partir de 1999, quando o FMI exigiu ao emprestar dinheiro ao Brasil.
Mesmo assim, o superávit do governo central promovido por FHC foi de 2% do PIB, em média, no segundo mandato (0,3% no primeiro). O de Lula alcançou 2,7%.
O ponto central, no entanto, é que, apesar de orientações diferentes, ambos governaram jogando o ônus de suas políticas para a sociedade, arrochando empresas e pessoas físicas com mais e novos impostos, contribuições e taxas.
No início do primeiro mandato de FHC, a carga tributária total era equivalente a 28,9% do PIB. Ele entregou o país a Lula com 35,8%. O aumento foi de 6,9 pontos percentuais.
Lula seguiu aumentando a arrecadação e os impostos, até bater nos 38,8% anunciados na semana passada. Em seu governo, o aumento foi de 3,3 pontos. Ou seja, manteve praticamente o mesmo ritmo de FHC.
O resumo é que o país não cresce, e a carga tributária não pára de subir, alimentando um Estado gigantesco e perdulário que não usa o dinheiro que arrecada para cumprir seu papel fundamental: proporcionar educação, saúde e segurança adequadas e um ambiente econômico que favoreça o desenvolvimento.
Não existe nada, absolutamente nada, que indique uma mudança nessa situação.
O economista Fabio Giambiagi, do Ipea (instituto de pesquisas ligado ao Ministério do Planejamento), acaba de lançar o livro "Raízes do atraso", que ajuda a explicar a "doença" do baixo crescimento que tomou conta do Brasil.
Abaixo, pequena introdução e entrevista com Giambiagi. Trechos foram publicados na Folha de domingo:
O Brasil não cresce porque não merece. E se converte em uma economia com mentalidade de funcionário público, com espírito de acomodação e dependência do Estado.
Para o economista Fabio Giambiagi, 44, que acaba de lançar o livro "Raízes do atraso - As dez vacas sagradas que acorrentam o país", o Brasil "colhe o que plantou".
Os desarranjos dos anos 80 e a Constituição de 1988 levaram à hiperinflação, ao endividamento e ao forte aumento da carga tributária. O resultado é o crescimento medíocre atual.
O livro propõe duas idéias-força: 1) o país precisa caminhar para uma economia em que o bem-estar dependa do esforço, criatividade e êxito dos indivíduos, e não do apoio do governo; e 2) que o papel do Estado seja o de ajudar as pessoas a buscar esse êxito, e não apenas o de transferir renda.
"O Brasil está se convertendo em um 'show-case' de políticas sociais voltadas para o bem-estar de clientelas específicas", diz Giambiagi. "O elemento comum desses programas é que eles fornecem recursos públicos em troca de nada."
O economista do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), ligado ao Ministério do Planejamento, defende mudanças nos programas e, evocando Mário Covas (1930-2001), defende um "choque de capitalismo" no Brasil. Leia entrevista:
FOLHA - No início de seu livro, o sr. cita Nelson Rodrigues: "Nada é mais cansativo do que tentar demonstrar o óbvio". O que é óbvio neste Brasil que não consegue crescer?
GIAMBIAGI - Entre 1991 e 2006, o gasto público primário do governo central passou de 14% para 24% do PIB. Estamos falando de um aumento de gasto público de dez pontos percentuais em 15 anos, o que dá uma média de 0,7% do PIB por ano. O principal responsável pelo aumento foi o crescimento das despesas previdenciárias. De 2,5% do PIB em 1988 para quase 8% em 2006. Isso é triplamente dramático.
Primeiro, pela magnitude do número em si. Estamos falando de uma variação de mais de 5% do PIB em 18 anos. Segundo, pelo fato de que aconteceu num momento em que a demografia nos favorecia, em que o número de pessoas idosas apenas estava começando a aumentar. E, terceiro, é um fenômeno do qual ninguém quer ouvir falar. Nós temos um mega, maiúsculo problema macroeconômico e todo mundo faz de conta que ele não existe.
FOLHA - O sr. diz no livro que a Constituição de 88 será julgada com "extrema severidade". Que o pêndulo foi longe demais. Que, em vez de ensinar a pescar, o Brasil resolveu dar peixe para todo mundo. É uma crítica forte aos programas sociais...
GIAMBIAGI - Nós temos que distinguir duas coisas: a existência dos programas e, segundo, o aumento do seu valor. Estou me referindo a programas assistenciais como o da Loas (Lei Orgânica da Assistência Social), que garante um salário mínimo para quem nunca contribuiu para o INSS, e aos aposentados rurais. Há controvérsia se eles são previdenciários ou assistenciais, mas são, no mínimo, semi-assistenciais.
A existência de programas assistenciais é a expressão de uma sociedade civilizada. O fato de eles existirem fala bem do Brasil. Agora, uma coisa é defender a existência dos programas e outra muito diferente é o que tem acontecido ao longo dos últimos 12, 13 anos.
Vamos tomar como referência a situação de duas pessoas: uma que já tivesse um benefício assistencial desse tipo em 1994 e, a segunda, um trabalhador honesto, que trabalha dez ou 12 horas por dia, ganha o seu dinheiro suado e paga todos os seus impostos desde 1994.
A primeira pessoa, que recebe um benefício assistencial do Estado, sem nunca ter contribuído para isso, tem hoje um poder aquisitivo mais de 100% superior ao que tinha em 1994. E a segunda pessoa, que sustenta o país, que faz o país crescer, tem hoje um poder aquisitivo inferior ao daquela época. Sendo que, além disso, a carga tributária no período passou de 24% do PIB para 38% do PIB. Eu pergunto: é justo isso?
Tendo isso em perspectiva, me parece que, no cardápio para a próxima década, deveríamos contemplar a possibilidade de desvincular o piso previdenciário do salário mínimo.
Há uma questão consensual que o país tem que encarar: o governo vai passar para a sociedade a mensagem de que o seu bem-estar vai depender do ato de boa vontade do governo de plantão? Ou vai passar a mensagem de que, de agora em diante, os acréscimos de renda dependerão, fundamentalmente, do mérito de cada um?
O que me preocupa é que nós estamos optando por um caminho diferente daquele pelo qual optaram as economias que estão crescendo. O Estado é como se ele dissesse para as pessoas: "Venha a mim, que eu te acolherei". "Venha a mim, que você vai se dar bem". "Receba um valor do Estado, que este valor vai aumentar no futuro".
FOLHA - O sr. cita Mário Covas em seu livro, pregando um "choque de capitalismo". O sr. acha que o Brasil, com a atual configuração, com a herança da Constituição de 88, com um governo como o de Lula, carrega alguma chance de fazer isso?
GIAMBIAGI - Sou uma gota no oceano. Não estou discutindo aqui as políticas para os próximos quatro anos. Até porquê elas estão dadas, refletem escolhas da sociedade mais do que legítimas, devidamente sacramentadas nas urnas e que têm trazido alguns resultados inequivocamente positivos. O que eu estou discutindo no livro é qual país vamos querer para os próximos 20 ou 30 anos e como as características desse nosso padrão estão por trás do baixo crescimento brasileiro.
Temos que, aos poucos, tentar emular aquilo que funciona melhor nos outros países. O Chile é hoje um país que, aos poucos, vai se descolando dos problemas da América Latina. Se continuar na sua trajetória dos últimos anos, daqui a 10 ou 20 anos vai acabar virando um país desenvolvido. Hoje, a grande maioria dos chilenos entende qual é a regra do jogo do capitalismo e mesmo com um governo socialista aderiu claramente a este tipo de padrão.
O Estado brasileiro tem de continuar a assegurar um padrão mínimo aos marginalizados da mesma forma que vem fazendo até agora. Mas, o principal desafio que nós temos pela frente é de como fazer com que os filhos dessas pessoas tenham uma ascensão social ao longo do tempo, que vá progressivamente dependendo menos da boa vontade do pai-Estado e cada vez mais compreender que deve depender fundamentalmente do esforço próprio, da educação e de como cada um fizer uso dela.
FOLHA - Das "vacas sagradas" que o sr. enumera no livro, quais as principais as serem removidas?
GIAMBIAGI - A primeira, pelo peso que isso tem assumido, deveria ser uma mudança no papel do salário mínimo. Em 2005, o salário mínimo no Nordeste era maior do que a renda média das 90% pessoas mais pobres da região. Eu pergunto: que política é essa que lida com um parâmetro que é maior do que a renda média de 90% das pessoas? O salário mínimo no Nordeste é uma política ineficaz para atacar a extrema pobreza.
Dados do Ipea mostram que de cada R$ 100 que se gasta com o aumento do mínimo, só R$ 3 vão para as famílias extremamente pobres do Brasil. Eu não consigo pensar numa política mais ineficaz do ponto de vista do combate à extrema miséria. É algo completamente diferente do que acontece com o Bolsa Família.
Outra "vaca sagrada" é a questão dos direitos trabalhistas. Há na sociedade uma enorme hipocrisia: a idéia de que direitos trabalhistas são intocáveis, quando todo mundo sabe, do faxineiro ao presidente da República, que isso é inteiramente falso. A situação típica é alguém que trabalha sem seus direitos entrar na Justiça quando demitido. A primeira coisa que ocorre é um juiz propor um acordo entre as partes, por um valor bem menor ao que o demitido teria direito. Ele aceita e está resolvido.
De duas uma: ou esses direitos são sagrados e a pessoa não deveria assinar acordo por nada menos do que 100% do que reivindica, ou não são sagrados. Se não são sagrados, por que criar toda essa parafernália jurídica, quando essas questões poderiam ser discutidas de uma forma muito mais saudável para o país e para as próprias partes desde o começo num processo de negociação, como ocorre nos outros países.
É claro que questões como salário mínimo e direito a férias são parte de um contrato social que deve ser respeitado e mantido se nós não quisermos ter um sistema de exploração selvagem. Mas temos que entender que há um conjunto de dispositivos legais que conspiram contra decisões de investimentos de longo prazo das empresas e contra a própria durabilidade do emprego.
Mantidos esses princípios, custa muito para uma empresa tomar uma decisão de investir pesadamente num empregado com vistas a mantê-lo na firma durante 10 ou 20 anos, porque ela sabe que, se algum dia ela tiver que demitir essa pessoa, o custo da demissão poderá, no limite, se tornar proibitivo.
O resultado disso é que o empregado fica com insuficiente treinamento e a empresa, com uma produtividade aquém daquela que poderia atingir se seguisse normas como as que são adotadas em outros países.
FOLHA - Diante desses problemas, o Brasil ainda está vulnerável a crises?
GIAMBIAGI - Eu destaco duas transformações silenciosas: primeiro, a dívida externa está desaparecendo e as reservas internacionais estão aumentando fortemente. Eu não descartaria que, na altura de 2009 ou 2010, nós cheguemos a uma situação em que não apenas a dívida externa líquida do governo tenha desaparecido, como a própria dívida externa do país venha a ser praticamente zeradas.
Se as reservas internacionais daqui até o final do governo Lula chegarem a US$ 140 bilhões, o que é um cenário possível, ao mesmo tempo que a dívida externa se reduzir, nessas circunstâncias o impacto de uma mudança no ambiente internacional é completamente diferente do que se tinha.
A segunda diferença é o que tem acontecido no âmbito da gestão da dívida pública. Mantida a tendência, podemos chegar a 2010 com 100% da dívida associada a instrumentos financeiros ou pré-fixados ou indexados a índices de preços.
No dia em que isso acontecer, teremos um sistema financeiro completamente diferente daquilo que foi gestado na altura de 1970 e que, de modo geral, teve suas características mantidas depois da estabilização. Em tais circunstâncias, o poder da política monetária vai ser muito mais forte do que é hoje.
Lula e FHC: iguais demais
2,6%. Essa foi a média de crescimento do PIB brasileiro no primeiro mandato do presidente Lula. Igual à do primeiro de FHC. E não muito diferente dos 2,3%, em média, de FHC 2.São dois governos distintos, com problemas e agendas diferentes. Mas ambos foram fundamentalmente iguais no principal vetor que hoje emperra o crescimento brasileiro: o inchaço do Estado e o aumento de seu peso sobre o setor produtivo e os trabalhadores --via carga tributária.
Nisso, FHC e Lula são irmãos siameses, apesar de toda a ladainha dos tucanos de que os petistas são "estatizantes" e atrasados, diferentes deles.
Lula de fato é distinto em vários outros aspectos, mas não difere do que foi FHC no fundamental: quando se trata de tirar o peso do Estado de cima da gente.
Sob Lula, muitas das iniciativas de modernização do Estado promovidas por FHC foram abandonadas. A ênfase que o PT dá às agências reguladoras (Aneel, Anatel etc.) e às concessões (de rodovias, por exemplo), fundamentais para atrair investimentos privados, é próxima de zero.
FHC, por sua vez, foi muito mais tímido que Lula na chamada agenda social. O tucano também foi menos responsável, do ponto de vista fiscal, que Lula. Só economizou nos superávits primários (para tentar reduzir a dívida pública) a partir de 1999, quando o FMI exigiu ao emprestar dinheiro ao Brasil.
Mesmo assim, o superávit do governo central promovido por FHC foi de 2% do PIB, em média, no segundo mandato (0,3% no primeiro). O de Lula alcançou 2,7%.
O ponto central, no entanto, é que, apesar de orientações diferentes, ambos governaram jogando o ônus de suas políticas para a sociedade, arrochando empresas e pessoas físicas com mais e novos impostos, contribuições e taxas.
| Folha Imagem |
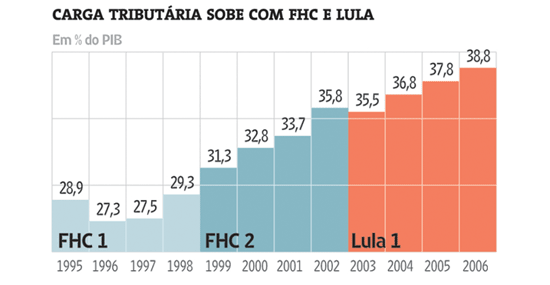 |
| Gráfico mostra a evolução da carga tributária durante os governos Lula e FHC |
No início do primeiro mandato de FHC, a carga tributária total era equivalente a 28,9% do PIB. Ele entregou o país a Lula com 35,8%. O aumento foi de 6,9 pontos percentuais.
Lula seguiu aumentando a arrecadação e os impostos, até bater nos 38,8% anunciados na semana passada. Em seu governo, o aumento foi de 3,3 pontos. Ou seja, manteve praticamente o mesmo ritmo de FHC.
O resumo é que o país não cresce, e a carga tributária não pára de subir, alimentando um Estado gigantesco e perdulário que não usa o dinheiro que arrecada para cumprir seu papel fundamental: proporcionar educação, saúde e segurança adequadas e um ambiente econômico que favoreça o desenvolvimento.
Não existe nada, absolutamente nada, que indique uma mudança nessa situação.
O economista Fabio Giambiagi, do Ipea (instituto de pesquisas ligado ao Ministério do Planejamento), acaba de lançar o livro "Raízes do atraso", que ajuda a explicar a "doença" do baixo crescimento que tomou conta do Brasil.
Abaixo, pequena introdução e entrevista com Giambiagi. Trechos foram publicados na Folha de domingo:
| Ana Carolina Fernandes/Folha |
 |
| O economista Fabio Giambiagi lança o livro "Raízes do atraso" |
Para o economista Fabio Giambiagi, 44, que acaba de lançar o livro "Raízes do atraso - As dez vacas sagradas que acorrentam o país", o Brasil "colhe o que plantou".
Os desarranjos dos anos 80 e a Constituição de 1988 levaram à hiperinflação, ao endividamento e ao forte aumento da carga tributária. O resultado é o crescimento medíocre atual.
O livro propõe duas idéias-força: 1) o país precisa caminhar para uma economia em que o bem-estar dependa do esforço, criatividade e êxito dos indivíduos, e não do apoio do governo; e 2) que o papel do Estado seja o de ajudar as pessoas a buscar esse êxito, e não apenas o de transferir renda.
"O Brasil está se convertendo em um 'show-case' de políticas sociais voltadas para o bem-estar de clientelas específicas", diz Giambiagi. "O elemento comum desses programas é que eles fornecem recursos públicos em troca de nada."
O economista do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), ligado ao Ministério do Planejamento, defende mudanças nos programas e, evocando Mário Covas (1930-2001), defende um "choque de capitalismo" no Brasil. Leia entrevista:
FOLHA - No início de seu livro, o sr. cita Nelson Rodrigues: "Nada é mais cansativo do que tentar demonstrar o óbvio". O que é óbvio neste Brasil que não consegue crescer?
GIAMBIAGI - Entre 1991 e 2006, o gasto público primário do governo central passou de 14% para 24% do PIB. Estamos falando de um aumento de gasto público de dez pontos percentuais em 15 anos, o que dá uma média de 0,7% do PIB por ano. O principal responsável pelo aumento foi o crescimento das despesas previdenciárias. De 2,5% do PIB em 1988 para quase 8% em 2006. Isso é triplamente dramático.
Primeiro, pela magnitude do número em si. Estamos falando de uma variação de mais de 5% do PIB em 18 anos. Segundo, pelo fato de que aconteceu num momento em que a demografia nos favorecia, em que o número de pessoas idosas apenas estava começando a aumentar. E, terceiro, é um fenômeno do qual ninguém quer ouvir falar. Nós temos um mega, maiúsculo problema macroeconômico e todo mundo faz de conta que ele não existe.
FOLHA - O sr. diz no livro que a Constituição de 88 será julgada com "extrema severidade". Que o pêndulo foi longe demais. Que, em vez de ensinar a pescar, o Brasil resolveu dar peixe para todo mundo. É uma crítica forte aos programas sociais...
GIAMBIAGI - Nós temos que distinguir duas coisas: a existência dos programas e, segundo, o aumento do seu valor. Estou me referindo a programas assistenciais como o da Loas (Lei Orgânica da Assistência Social), que garante um salário mínimo para quem nunca contribuiu para o INSS, e aos aposentados rurais. Há controvérsia se eles são previdenciários ou assistenciais, mas são, no mínimo, semi-assistenciais.
A existência de programas assistenciais é a expressão de uma sociedade civilizada. O fato de eles existirem fala bem do Brasil. Agora, uma coisa é defender a existência dos programas e outra muito diferente é o que tem acontecido ao longo dos últimos 12, 13 anos.
Vamos tomar como referência a situação de duas pessoas: uma que já tivesse um benefício assistencial desse tipo em 1994 e, a segunda, um trabalhador honesto, que trabalha dez ou 12 horas por dia, ganha o seu dinheiro suado e paga todos os seus impostos desde 1994.
A primeira pessoa, que recebe um benefício assistencial do Estado, sem nunca ter contribuído para isso, tem hoje um poder aquisitivo mais de 100% superior ao que tinha em 1994. E a segunda pessoa, que sustenta o país, que faz o país crescer, tem hoje um poder aquisitivo inferior ao daquela época. Sendo que, além disso, a carga tributária no período passou de 24% do PIB para 38% do PIB. Eu pergunto: é justo isso?
Tendo isso em perspectiva, me parece que, no cardápio para a próxima década, deveríamos contemplar a possibilidade de desvincular o piso previdenciário do salário mínimo.
Há uma questão consensual que o país tem que encarar: o governo vai passar para a sociedade a mensagem de que o seu bem-estar vai depender do ato de boa vontade do governo de plantão? Ou vai passar a mensagem de que, de agora em diante, os acréscimos de renda dependerão, fundamentalmente, do mérito de cada um?
O que me preocupa é que nós estamos optando por um caminho diferente daquele pelo qual optaram as economias que estão crescendo. O Estado é como se ele dissesse para as pessoas: "Venha a mim, que eu te acolherei". "Venha a mim, que você vai se dar bem". "Receba um valor do Estado, que este valor vai aumentar no futuro".
FOLHA - O sr. cita Mário Covas em seu livro, pregando um "choque de capitalismo". O sr. acha que o Brasil, com a atual configuração, com a herança da Constituição de 88, com um governo como o de Lula, carrega alguma chance de fazer isso?
GIAMBIAGI - Sou uma gota no oceano. Não estou discutindo aqui as políticas para os próximos quatro anos. Até porquê elas estão dadas, refletem escolhas da sociedade mais do que legítimas, devidamente sacramentadas nas urnas e que têm trazido alguns resultados inequivocamente positivos. O que eu estou discutindo no livro é qual país vamos querer para os próximos 20 ou 30 anos e como as características desse nosso padrão estão por trás do baixo crescimento brasileiro.
Temos que, aos poucos, tentar emular aquilo que funciona melhor nos outros países. O Chile é hoje um país que, aos poucos, vai se descolando dos problemas da América Latina. Se continuar na sua trajetória dos últimos anos, daqui a 10 ou 20 anos vai acabar virando um país desenvolvido. Hoje, a grande maioria dos chilenos entende qual é a regra do jogo do capitalismo e mesmo com um governo socialista aderiu claramente a este tipo de padrão.
O Estado brasileiro tem de continuar a assegurar um padrão mínimo aos marginalizados da mesma forma que vem fazendo até agora. Mas, o principal desafio que nós temos pela frente é de como fazer com que os filhos dessas pessoas tenham uma ascensão social ao longo do tempo, que vá progressivamente dependendo menos da boa vontade do pai-Estado e cada vez mais compreender que deve depender fundamentalmente do esforço próprio, da educação e de como cada um fizer uso dela.
FOLHA - Das "vacas sagradas" que o sr. enumera no livro, quais as principais as serem removidas?
GIAMBIAGI - A primeira, pelo peso que isso tem assumido, deveria ser uma mudança no papel do salário mínimo. Em 2005, o salário mínimo no Nordeste era maior do que a renda média das 90% pessoas mais pobres da região. Eu pergunto: que política é essa que lida com um parâmetro que é maior do que a renda média de 90% das pessoas? O salário mínimo no Nordeste é uma política ineficaz para atacar a extrema pobreza.
Dados do Ipea mostram que de cada R$ 100 que se gasta com o aumento do mínimo, só R$ 3 vão para as famílias extremamente pobres do Brasil. Eu não consigo pensar numa política mais ineficaz do ponto de vista do combate à extrema miséria. É algo completamente diferente do que acontece com o Bolsa Família.
Outra "vaca sagrada" é a questão dos direitos trabalhistas. Há na sociedade uma enorme hipocrisia: a idéia de que direitos trabalhistas são intocáveis, quando todo mundo sabe, do faxineiro ao presidente da República, que isso é inteiramente falso. A situação típica é alguém que trabalha sem seus direitos entrar na Justiça quando demitido. A primeira coisa que ocorre é um juiz propor um acordo entre as partes, por um valor bem menor ao que o demitido teria direito. Ele aceita e está resolvido.
De duas uma: ou esses direitos são sagrados e a pessoa não deveria assinar acordo por nada menos do que 100% do que reivindica, ou não são sagrados. Se não são sagrados, por que criar toda essa parafernália jurídica, quando essas questões poderiam ser discutidas de uma forma muito mais saudável para o país e para as próprias partes desde o começo num processo de negociação, como ocorre nos outros países.
É claro que questões como salário mínimo e direito a férias são parte de um contrato social que deve ser respeitado e mantido se nós não quisermos ter um sistema de exploração selvagem. Mas temos que entender que há um conjunto de dispositivos legais que conspiram contra decisões de investimentos de longo prazo das empresas e contra a própria durabilidade do emprego.
Mantidos esses princípios, custa muito para uma empresa tomar uma decisão de investir pesadamente num empregado com vistas a mantê-lo na firma durante 10 ou 20 anos, porque ela sabe que, se algum dia ela tiver que demitir essa pessoa, o custo da demissão poderá, no limite, se tornar proibitivo.
O resultado disso é que o empregado fica com insuficiente treinamento e a empresa, com uma produtividade aquém daquela que poderia atingir se seguisse normas como as que são adotadas em outros países.
FOLHA - Diante desses problemas, o Brasil ainda está vulnerável a crises?
GIAMBIAGI - Eu destaco duas transformações silenciosas: primeiro, a dívida externa está desaparecendo e as reservas internacionais estão aumentando fortemente. Eu não descartaria que, na altura de 2009 ou 2010, nós cheguemos a uma situação em que não apenas a dívida externa líquida do governo tenha desaparecido, como a própria dívida externa do país venha a ser praticamente zeradas.
Se as reservas internacionais daqui até o final do governo Lula chegarem a US$ 140 bilhões, o que é um cenário possível, ao mesmo tempo que a dívida externa se reduzir, nessas circunstâncias o impacto de uma mudança no ambiente internacional é completamente diferente do que se tinha.
A segunda diferença é o que tem acontecido no âmbito da gestão da dívida pública. Mantida a tendência, podemos chegar a 2010 com 100% da dívida associada a instrumentos financeiros ou pré-fixados ou indexados a índices de preços.
No dia em que isso acontecer, teremos um sistema financeiro completamente diferente daquilo que foi gestado na altura de 1970 e que, de modo geral, teve suas características mantidas depois da estabilização. Em tais circunstâncias, o poder da política monetária vai ser muito mais forte do que é hoje.
 |
Fernando Canzian, 40, é repórter especial da Folha. Foi secretário de Redação, editor de Brasil e do Painel e correspondente em Washington e Nova York. Escreve semanalmente, às segundas-feiras, para a Folha Online.
E-mail: fcanzian@folhasp.com.br |
