|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
Horas no escuro
A convite da Folha, cinco novos escritores criam minicontos alinhavados pela falta de luz, e Caco Galhardo desenha suas versões
Caco Galhardo
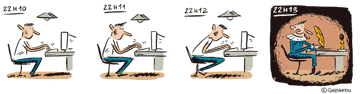 |
|
11 de março
CAROL BENSIMON
ESPECIAL PARA A FOLHA
Meu pai desapareceu no
apagão de 1999. Antes, era
bom o escuro. Vinha com
chuva, e geralmente depois de
um estouro, no tempo em que
o pai ligava para a companhia
de energia elétrica e só dava
ocupado. Tão ocupado que ele
desistia (era fácil desistir
quando os telefones eram de
disco). Meu pai então me chamava para ir até a janela, e dali
dava para ver um bocado de
cidade: zona leste, um pedaço
de sul, e quase todas as casas
dos primos. A gente ficava ali,
mergulhados na falta de lógica das manchas pretas e amarelas. Não era raro inclusive
estarmos numa situação
fronteiriça, nosso prédio como o próprio limite entre o
claro e o escuro, dali para
frente luz e para trás escuridão.
Depois de mapear a cidade,
era hora de pegar a lanterna e,
na parede branca, o pai tentava fazer um coelho com as
mãos. Saía meio rinoceronte.
Cresci. E de repente o pai ficou estranho à sua maneira, e
eu fiquei estranha à minha
maneira. O pai: 500 ml diários
de uísque (nacional) e um interesse além da conta por taxidermia. Eu: sombra preta,
blusa preta e algum amor platônico. Luz continuava faltando, interrompendo disco
ou programa de tevê, mas
agora era cada um no seu
quarto, eu me escondendo em
mim, meu pai se escondendo
nele. Em temporal, a janela
batia. Ninguém dava bola. Comecei a esquecer o nome das
ruas.
Na noite em que o pai sumiu, meu disco do Iron Maiden parou num falsete. Fiquei
um tempo ali no quarto escuro, ouvindo os ruídos que vinham da sala. Pedras de gelo
no copo, palavrão, rádio de pilha, e logo mais um berro:
"Rá! Eu não votei nesse presidente". O pai tinha degringolado, fazendo um luto ao contrário: primeiro aceitou para
depois se revoltar (a mãe
morrera de uma doença improvável). O escuro deixava
tudo mais difícil, e tanto, que
ele dormia agora com a luz do
banheiro acesa.
A porta da frente bateu. Fui
para a janela e vi a cidade inteira sem luz, um buraco negro que havia tragado todas as
ruas. Fiquei ali por muito
tempo. Ouvia as buzinas
soando numa avenida distante. Como seria ter mãe durante um blecaute? Enquanto isso, o pai caminhava no breu.
Ia conseguir chegar ao fim da
cidade antes de a luz voltar?
Parecia o único jeito de não
desistir do próprio sumiço.
No próximo apagão, era minha vez.
CAROL BENSIMON , 27, é doutoranda em literatura na França e autora de "Sinuca Embaixo d'Água" (Companhia das Letras).
A idade da razão
RICARDO LÍSIAS
ESPECIAL PARA A FOLHA
Eu tinha quase acabado de
passar o vestido quando percebi a lâmpada piscando. Corri até a tomada para desligar o
ferro. Em vez de simplesmente virar o botão do aparelho,
resolvi tirar o fio da parede.
Acho que ainda estou um pouco confusa.
Alisei com a ponta dos dedos a porção de tecido que ficara enrugada e, sem querer,
encostei o punho no ferro
quente. Doeu.
Ninguém veio ver o motivo
do meu grito. Estranhei de início, mas me lembrei, um pouco depois, que estava sozinha
em casa. Mesmo no escuro,
deixei o ferro esfriar e dobrei a
tábua de passar roupa. Tateei
a parede até chegar ao meu
quarto. Consegui achar um
cabide vazio, afastei os outros
vestidos e guardei o meu preferido.
Deitei. Senti falta de passar
a escova no cabelo, mas estava
muito escuro. Talvez eu devesse ao menos tê-lo desembaraçado um pouco. Mesmo
com o creme, dói.
Tentei dormir, mas meu coração disparou. Não é sempre
que sou ansiosa, só que ultimamente não tenho conseguido me controlar. É uma
sensação ruim. Virei de bruços e coloquei as pernas para
fora do lençol. Isso me refrescou um pouco. No entanto, se
a energia tivesse voltado, talvez eu preferisse ligar o ventilador.
Não me incomodo com o
barulho. Gosto de ouvir os ruídos da casa: o chuveiro, a televisão, minha sobrinha chorando. Ela é a coisinha mais
fofa desse mundo.
Procurei refazer o rosto dela na imaginação para ver se,
com isso, conseguia pegar no
sono. Virei-me de novo na cama e o lençol escorreu pelos
meus seios antes de cair no
chão. Quando estendi o braço
para pegá-lo, lembrei-me dos
remédios. Por isso eu não estava conseguindo dormir...
Resolvi levantar para apanhá-los no banheiro e notei
um movimento estranho na
janela da sala. Tinham vindo
me estuprar de novo. Chamei
a polícia pelo celular. Por sorte, demoraram um pouco para
arrombar o trinco. Eram os
cinco. Com o barulho da viatura, pularam o muro e se perderam no matagal atrás de casa.
O delegado me disse que o
ideal seria mudar de faculdade. Mas para onde eu vou? Ele
não soube dizer. Se você continuar lá, tenha sempre uma
companhia por perto.
Só que às vezes, olhei para
ele, a gente acaba muito sozinha.
RICARDO LÍSIAS , 34, é doutor em literatura,
tradutor e escritor, autor de "O Livro dos Mandarins" (Alfaguara).
Se não fosse o apagão
TATIANA SALEM LEVY
ESPECIAL PARA A FOLHA
Disse-lhe tudo o que ensaiara
durante mais de uma semana,
sem esquecer uma frase, uma
palavra, sem se esquecer de o
ferir na medida justa. Disse-lhe
a verdade, ocultando apenas os
detalhes, pois foi assim que
combinaram desde o início.
Ele se exaltou mais do que ela
imaginava, xingou-a mais do
que ela imaginava. Depois, bateu a porta e se foi. Ela, diante
do vazio repentino, teve medo e
se arrependeu. Em menos de
dois minutos também bateu a
porta. Ele já não estava no corredor. Ela teve que esperar o
elevador chegar ao térreo e subir de volta ao oitavo andar. Comia o dedo médio até a carne, o
sangue. Entrou no elevador
xingando, por que tão lerdo
sempre que ela tinha pressa?
Por que o social estava quebrado? E se agora ele não a quisesse mais?
Estava assim, confabulando
sobre o que ia fazer e dizer,
quando sentiu o corpo sendo
jogado para o alto. De repente,
sem mais nem menos, o elevador parou, e ela se viu dentro da
pequena caixa no escuro. Tentou o interfone sem sucesso. O
celular, no impulso, ficara em
casa. Fechou os olhos e começou a pedir em voz alta que o
elevador voltasse a funcionar,
não tinha medo nem claustrofobia, apenas queria chegar até
ele a tempo.
Mas o tempo foi passando, e
nada. De início, berrou, esmurrou a porta, chamou por ajuda,
chorou, maldisse o destino. Depois cansou. Sentou-se no chão,
e todos os seus pensamentos
começaram a andar pra trás:
vai ver o destino tinha razão, o
elevador parado devia ser um
sinal de que ela fizera o que devia ser feito. E ela acreditava
em sinais.
Duas horas depois, quando a
luz voltou, o elevador desceu
até o térreo, como se aquele intervalo de tempo não tivesse
existido, e ela apertou novamente o botão e retornou à casa, segura da sua decisão.
E foi assim que ela terminou
sem saber que se não fosse o
apagão ela o teria alcançado
ainda na sua rua, e eles teriam
feito as pazes. Que pouco tempo depois se casariam e seriam
felizes para sempre. Mas porque histórias como essas não
têm mais lugar na literatura,
nem na vida, quis o destino que
ela estivesse no elevador durante o apagão na cidade do Rio
de Janeiro, e afirmasse para si
mesma, com alegria e confiança, que, sim, tinha feito a coisa
certa.
TATIANA SALEM LEVY , 30, é doutora em literatura,
tradutora e escritora, autora de
"A Chave de Casa" (Record).
Faltou força?
BRUNO ZENI
ESPECIAL PARA A FOLHA
Quando o trem parou de
deslizar sobre os trilhos, e as
luzes das casas que acompanham a linha férrea extinguiram-se, e os olhos procuraram-se no breu, e passageiros
assustados se levantaram,
sentindo o coração bater, ela
alcançou junto ao colo o crucifixo que lhe descia quente
entre os seios, beijou as chagas do corpo e se benzeu três
vezes. Depois de minutos de
olhos fechados, permitiu que
suas pálpebras levantassem,
fruindo o suor e algo mais que
misturavam calor entre suas
pernas trêmulas, nuas debaixo da saia.
Nas celas, presos na tranca,
de banho tomado, abandonaram leituras continuadas,
cartas sendo redigidas, apostas em maços de cigarros,
conversas sobre planos imediatos e castelos futuros. Voltaram-se para o mundão, livre, imerso em negro, alheio a
eles -eles confinados e em
paz, provisoriamente. Focos
brancos e vermelhos cruzaram o céu e foram avistados
por alguns, entre centenas
junto às grades; um deles acenou, solitário, para a máquina
voadora.
Um casal ficou na cama -o
concreto da via elevada ali fora ainda vibrando do movimento dos autos, fachos luminosos penetrando a alcova
funda; dormiram sem água,
chuveiro elétrico inoperante,
tontos de prazer, intoxicados
de ar poluído e odor espesso
de sexo.
Em uma festa grã-fina, as
luminárias piscaram quando
a mulher de longo dirigia-se
ao banheiro retocar a maquiagem borrada de uma lágrima recém-vertida.
Alguém a pé, percorrendo a
avenida vazia e absorta, lembrou de olhar o céu e procurar
estrelas improváveis no preto
mais denso de então.
Em casa, sem iluminação
fria na cozinha, ele apreciava
o vento bater nas plantas, que
ondeavam no calor externo.
Velas sobre mesas de bar,
nas guaritas, nas cabeceiras.
Sonhos velados na escuridão,
inconscientes da queda.
Longe: insetos sobre pistilos, vermes subterrâneos, peixes em profundidade, mar
quebrando espuma, rios caudalosos, pegadas na mata,
olhos de pássaros, semiabertos, o frio da noite, fotossíntese esperando o dia.
No cerrado, um lobo-guará,
pelos do dorso eriçados, persegue, sôfrego, o cheiro da
presa.
BRUNO ZENI , 34, é jornalista e escritor, autor
de "Corpo a Corpo com o Concreto" (Azougue).
Brancura lunar
JOCA REINERS TERRON
ESPECIAL PARA A FOLHA
Foi num fechar e abrir de
pálpebras. Ao abri-las, estava
escuro. Nenhum estalo ou nada que indicasse o fim do
mundo. Apreciei a quietude
do instante e então ela perguntou se acontecera algo de
estranho. Expliquei. "Agora
estamos em pé de igualdade",
ela disse. O tom de sua voz
permitia adivinhar-lhe o sorriso.
Terminamos o prato. Enquanto esbarrava nas taças e
derrubava talheres, eu podia
sentir os movimentos dela do
lado oposto da mesa, através
das lufadas de seu perfume.
Ao contrário do que ocorria
comigo, desastres não pareciam iminentes quando ela se
movia.
Da rua vinham sons abafados de perplexidade. Murmúrios nervosos nas escadarias.
A porta de um carro bateu na
distância. Não havia luz alguma no interior do apartamento, apenas nossas silhuetas
ainda mais enegrecidas pela
escuridão. Depois de levar toda a louça até a cozinha em
dois minutos, ela me puxou
pelos dedos.
Um enorme aprendizado
deu-se naquelas duas horas,
acompanhando-a singrar entre móveis na mesma velocidade da luz. "É a minha casa,
eu a conheço bem", ela disse.
Um único prédio aceso fulgurava na amplidão da janela do
corredor, coroado pela lua
perfurada por morcegos. "Venha."
No quarto, despi-a sem
pressa. A brancura de sua pele
tremeluzia, iluminando tudo,
atribuindo forma às coisas
quase apagadas. "Mas existe
uma diferença entre a velocidade da luz e a velocidade da
treva", ela disse, "É mais ou
menos como andar debaixo
d'água. O tempo é diferente.
Parece um sonho".
Acariciei seus olhos fechados e tentei imaginar o que
eles viam. Ela me beijou e nos
deitamos. Com a lua ao fundo,
o corpo dela era a última paisagem desconhecida da Via
Láctea. Os Alpes nevados e o
Monte Fuji perfurando as nuvens. Ela apelidou cada parte
de meu corpo com nomes de
astronautas. "Já você aqui é a
Apollo 11", ela disse, "sempre
apontando para o céu".
Depois, permanecemos
abraçados em silêncio. Perguntei-lhe o que estava pensando. Ela sorriu e disse que
afinal conseguia me enxergar.
"Este seu corpo aqui deitado é
igual àquele outro que enxergo em meus sonhos", ela disse, "E agora, você pode me
ver?" E então, entre música
interrompida e buzinas, a luz
voltou.
JOCA REINERS TERRON , 41, escritor, é autor
de "Sonho Interrompido por Guilhotina" (Casa da Palavra) e lança em breve "O Peso do
Coração" (Companhia das Letras).
Texto Anterior: Poluidoras, motos driblam fiscalização
Próximo Texto: Proposta amplia forma de atuação da PM
Índice
|




