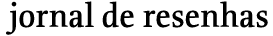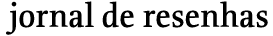|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
O lugar da República
Grupo de intelectuais discute a questão republicana
FRANCISCO DE OLIVEIRA
A República, a democracia e a federação no Brasil poderiam ser pensadas pelos seus avessos, o que, mesmo sendo
grave, não é irreparável, visto que são
aperfeiçoáveis, formadas pela vontade do
povo que, para sua própria felicidade,
não é perfeito.
O problema maior não estaria na imperfeição de nossas instituições e formas
políticas, mas talvez em que temos sido,
no século que acaba de findar-se, república sem republicanos, democracia -nos
curtos períodos de sua precária vigência- sem democratas e federação sem
federalistas.
Aos avessos soma-se um mal explicado
desinteresse pela elaboração teórica dos
seus fundamentos, princípios e doutrinas. A experiência institucional brasileira
continua reclamando dessa falta de interesse, sem o qual nenhuma cultura política pode se firmar.
A República esteve - junto com a
Abolição, com a qual nasceu, separando-se em seus desenlaces- no centro dos
debates, desde a segunda metade do século 19. Mas, com a vitória da República,
o debate minguou e baixou de nível. O divórcio entre a questão social da Abolição
e a questão republicana pode ter sido fatal para as duas. Logo a militarização da
República impôs o debate pelo silêncio,
falado por armas e quarteladas, contraprova da instabilidade que atravessa toda
a história republicana, incluídas a ditadura varguista, a ditadura militar de 1964/
1984 e as tentativas de golpe de Estado
que, em média, no período pós-revolução de 1930, ocorreram a cada três anos.
O debate republicano foi agitado sobretudo pelos próprios políticos e intelectuais propagandistas, enquanto o panorama de hoje e de já algum tempo assinala a tibieza da produção -existe?- de
parte dos políticos, e os intelectuais recuaram da linha de frente da propaganda
e se reservaram, com a crescente importância das ciências sociais e sua profissionalização, ao papel de analistas.
A Constituinte de 1988
Tudo se passa como se a República estivesse plenamente consolidada, necessitando apenas de pequenos reparos, já
que sua arquitetura conceitual pareceria
irretocável. O último grande esforço reformista deu-se com a Constituinte de
1988, que avançou muito nos retoques e
pouco na modificação da arquitetura
mais ampla. Na contramão, as reformas
do ciclo Fernando Henrique Cardoso estão transformando-a num Frankenstein
irreconhecível, aprofundando o "ad hoc"
e o casuísmo.
Partidários da esquerda e da direita
sempre se desentenderam sobre o significado da República. Para os segundos, ela
tem sido a forma política que permitiu, a
salvo de grandes rupturas, a mudança de
turno do mando; sempre que a forma
não acolheu os desígnios dos grupos
mais poderosos, a república não resistiu,
de que a própria Revolução de 1930 e a ditadura militar de 1964 são os mais recentes e dramáticos exemplos.
A república, para a direita, é a consagração da indivisibilidade de seu domínio, e
a lei e as regras republicanas existiram
para os adversários: "Para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei". A reivindicação da autonomia cidadã foi identificada
como o movimento centrífugo da barbárie -ecos do pensamento autoritário
clássico-, contra o que agitavam-se e
acionavam-se os quartéis, ferindo-se de
morte a instituição republicana.
Para a esquerda, o significado da República era, também, impreciso. Visto que
esta é significativamente o governo das
formas, limites, regras das relações, hierarquia e contenção dos poderes, repartição entre o público e o privado, a esquerda sempre teve dificuldades em aceitá-la,
no pressuposto de que programas revolucionários deveriam subvertê-la. Aceitando que a República vem carecendo,
praticamente desde sua fundação, de amplas reformas, não se encontra, entretanto, nenhuma elaboração teórica séria sobre ela por parte da esquerda.
Além disso, o que nunca esteve muito
longe da verdade, as unidades republicanas e seu pacto constituíam, no mais das
vezes, redutos e domínios incontestes de
ferozes oligarquias; ironicamente, esse
era, também, o diagnóstico dos Oliveira
Viana, Alberto Torres e Francisco Campos.
A República à prova
O processo de intensas transformações
da sociedade brasileira no século 20 trouxe lenha à fogueira de uma forma de governo, de regime e de pacto que mal se segurava. Uma industrialização -que realizou em 50 anos o programa abortado
desde a segunda metade do século 19, nas
condições do capitalismo moderno,
complexo, oligopolista e intervencionista, com uma dupla crise internacional,
Segunda Guerra Mundial e Grande Depressão, moldando as novas formas mesmo das repúblicas mais consolidadas, incluindo aqui as monarquias constitucionais "qua" repúblicas- submeteu a República brasileira às mais duras provas.
Das quais se saiu por meio de uma poderosa recentralização no nível mais alto da
União, com um Estado reestruturado e
poderosamente intervencionista "ad
hoc", levando de roldão todas as regras,
hierarquias, pacto das relações, embaralhando os territórios e jurisdições do público e do privado, numa cultura política
que nunca tinha primado por esses recortes.
Nessas condições, como conciliar república e iberismo? Ademais, reconheça-se,
as transformações na relação entre público e privado, Estado e sociedade, cidadão
e mercado, que ocorreram com maior
força a partir da segunda metade do século 20, não foram nada fáceis nem imediatamente reconhecíveis nas novas condições da internacionalização do capital e
do mundo da Guerra Fria.
A nova forma de estruturação das nações, com a constituição dos grandes blocos, e o chamado processo de globalização, nome eufemístico e redondo para a
etapa superior do imperialismo norte-americano, têm forte impacto sobre as
estruturas e arcabouços internos da república. O "ad hoc" permanente torna letra morta qualquer disposição legal, mesmo que emergencial, de apenas três dias
antes; é a emergência da emergência, ou a
exceção permanente.
A feroz atividade legisferante do Executivo, uma tendência mundial agravada na
periferia, tende a transformar o Legislativo em casa de conivência, subalterna, sob
o pretexto da velocidade das decisões do
mundo internetizado. O monitoramento
permanente à Orwell quebra sigilos, invade privacidades, apontando a flagrante
contradição entre um mundo dominado
economicamente por 500 megacorporações e os institutos pensados para repúblicas da concorrência perfeita, mas o faz
no suposto da permanência da concorrência perfeita, misturando cidadãos e
empresas, indivíduos e corporações.
Uma república falível, até o ponto que
suas sucessivas medidas provisórias o
atestam, cobra infalibilidade dos funcionários, cuja missão constitucional é exatamente a de zelar pelas regras da vida
pública. Acuada nos novos tempos do dinheiro virtual, a República dá mostras de
sucumbir.
Parafraseando Roberto Schwarz, a hora
é péssima, ótima para pensar a República. Há um movimento amplo neste sentido, que se esboça desde o MST, com sua
reivindicação radical de propriedade da
terra, que é simultaneamente republicana, democrática e anacrônica -visto que
não é mais a propriedade da terra o decisivo, mas ela ainda é o pilar central das
velhas regras mercantis que continuam a
reger a vida do cidadão-, passando pelos movimentos populares, com sua reivindicação de participação e transparência, que atinge os partidos políticos e o
sistema político como um todo, até o movimento dos procuradores.
Experiências como a do orçamento
participativo -que não deve ser tido como o emplastro do conto de Machado-,
que introduzem quase um outro nível de
ordenação que pode conflitar com o estabelecido na arquitetura republicana, exigem não apenas ação, mas pensamento
inovador, para que ele próprio não se
anule enredando-se na contestação inútil
das instituições consagradas. As eleições
municipais recentes estão a sugerir inovações, desde que as palavras de ordem
vencedoras pedem soluções simples para
uma complexidade crescente. Que fazer
diante da Lei de Responsabilidade Fiscal
que, na forma em que está, representa
uma nova recentralização no nível federal e pode tornar os prefeitos e governadores meros arquivistas, anulando a vontade popular?
Quem é republicano?
Essa nova complexidade está a requerer
ser interrogada com as armas da crítica,
para refazer não apenas a pergunta de caráter utilitário "para que serve a república", mas para que serve a república em
nossa teoria política, constitucional, sociológica e ficcional. Na argamassa da
formação da sociedade brasileira, qual é o
lugar da República? Por que em antigas
manifestações culturais populares existe
o lugar do rei, do príncipe, do imperador,
da coroa imperial e não existe o lugar do
presidente? Por que as armas da República não ornam os carros alegóricos dos
carnavais? Quem é republicano e até onde a república institui e constrói, ela mesma, os modos intelectuais de interrogar a
sociedade e a própria teoria da sociedade?
Estas são as questões a que se dedica
"Pensar a República". De novo, e isso é alvissareiro, os intelectuais se jogam à tarefa indeclinável e insubstituível anunciada
no título. O grupo dos "Repúblicos", reunindo Renato Janine Ribeiro, Sergio Cardoso, Marcelo Jasmin, Olgária Matos, José Murilo de Carvalho, Luiz Werneck
Vianna, Maria Alice Rezende de Carvalho, Heloísa Starling e Wander Melo Miranda, se abalança à complexidade rastreando os conflitos e convergências entre a república e a democracia; o que quer
dizer essa forma mista cuja definição precisa é sempre precária, mas indispensável; as novas condições que estão a exigir
um novo humanismo cívico, ao tempo
em que as demandas pragmáticas o dificultam; as raízes do interesse na fundação republicana; o fetiche das formas
-já que toda forma é um fetiche- na
república; a cidadania numa época global; a contribuição republicana à civilização brasileira, o sertão como metáfora da
dificuldade republicana; a violência como forma urbana de uma república não
republicana.
Tal como os antigos clubes republicanos, "Os Repúblicos" retomam a tradição
do debate, que é a caução da ação republicana. Já não era sem tempo. O fôlego
da República é curto e o oxigênio do debate é urgente.
Riobaldo Tatarana é um jagunço trágico. Refestelado em sua cadeira de balanço, do alto do amplo alpendre de sua casa
de cangaceiro reformado e bem-posto,
metáfora não muito forçada da dominação imperfeita, mas contínua, das classes
que se sucedem no comando da República, ele narra uma história. Parece-se pouco, estilisticamente, com o "Angelus Novus", mas é de um acúmulo de desastres
que ele fala. O desastre da lei e da sociabilidade da lei, da regra e do pacto cidadão.
A sobrevivência da ordem pelo pacto do
avesso.
Sobrevivente do instinto, das cinzas dos
projetos de Medeiro Vaz, Joca Ramiro e
da modernidade de Zé Bebelo, sua fala
mansa vem tocada pela beleza de Diadorim, que lhe deu acesso ao fracasso e à incompletude da República. Que lhe decifrou a pertinácia, persistência, teimosia,
que resultaram no único sucesso: o de inventar uma república de onde ela não poderia ter saído, do escravismo, analfabetismo, prebendalismo e predação das elites; por isso, torta, meio popular, meio de
cima.
Logo ele, Riobaldo, o mais despojado e
ignorante dos jagunços dos bandos que
cruzaram as áridas e sertanejas páginas
da república de Rosa, ficou para contar a
história. Há mais que metáfora nessa fratura inconsútil do que somente pode ser
pelo desejo do avesso.
Francisco de Oliveira é professor aposentado de
sociologia na USP e autor, entre outros livros, de
"Direitos do Antivalor" (Vozes).
Pensar a República
Newton Bignotto (org.)
Editora UFMG
(Tel. 0/xx/31/3499-4656)
192 págs., R$ 21,00
Texto Anterior: Elefante complexo
Próximo Texto: Da militância política à filosofia
Índice
|