

São Paulo, sábado, 10 de maio de 2003
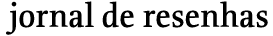 |
 |
|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
A hora dos reis
Uma síntese do pensamento político do século 11 ao 14 Soberania A Construção de um Conceito Raquel Kritsch Humanitas (Tel. 0/xx/11/3091-2920) 576 págs., R$ 32,00 CICERO ARAUJO Este livro é uma competente síntese do pensamento político da chamada "Baixa Idade Média" (séculos 11 a 14). Voltada tanto para quem desconhece o assunto quanto para o iniciado, sua autora fez um painel das questões teóricas centrais, sem deixar de esclarecer o contexto político e intelectual do qual elas emergem. A capa estampa o imperador do Sacro Império Oto 3º "recebendo homenagem das províncias" (cerca de 1000 d.C.)", e a contracapa, a "prisão do papa Bonifácio 8º pelos emissários do rei francês Felipe, o Belo", em 1303. É mais ou menos esse o período percorrido pelo livro, o lento declínio das instituições teológico-políticas medievais e a discreta, mas contínua, ascensão de uma nova agência, o Estado territorial. Se o leigo vai encontrar nesse texto muito material para saborear, o iniciado terá uma reinterpretação de autores e argumentos em torno dos vínculos entre a reflexão medieval e a moderna. O assunto não é nada simples e Raquel Kritsch trata de mobilizar um impressionante exército de autores do período, desde generais como Tomás de Aquino e Marsílio de Pádua, até soldados só reconhecíveis pelas lentes dos especialistas. Após uma rápida explicação da política medieval até a fundação do Sacro Império (ocorrida no ano 800), o livro toma como ponto de partida da análise a famosa Querela das Investiduras, uma das inúmeras disputas entre o Papado e o Império a respeito de suas respectivas jurisdições. Ao resgatar o conflito, a autora destrinça os fundamentos teóricos das duas instituições, os argumentos divergentes a respeito da autoridade papal e imperial e seus desdobramentos práticos. O trabalho avança então para os séculos 12 e 13, um período de enormes transformações, registra os acontecimentos intelectuais mais relevantes -o nascimento das universidades, o estudo do direito romano, a interlocução com o mundo árabe, o florescimento das comunas medievais- e analisa o impacto da redescoberta da filosofia natural da Antiguidade. A autora detém-se nesse ponto para discutir a obra de Aristóteles, o filósofo antigo mais influente dessa fase. Uma parada que aplaina o terreno para um longo capítulo sobre o pensamento de Tomás de Aquino. A poderosa síntese das novas tendências intelectuais, operada por esse teólogo, lançará também as bases para que a intelectualidade medieval cogite da autonomia da "natureza" (o mundo criado) e, por aí, da autonomia da esfera puramente terrena da política. A esse passo a autora dá grande importância, sem deixar de enfatizar que "a separação conceitual entre o mundo natural e sobrenatural operada por Tomás de Aquino" não visava "à independência total de uma esfera em relação à outra". De qualquer forma, ela possibilitará uma abertura de horizontes, na medida em que novos autores estarão dispostos, com as ferramentas conceituais lançadas por Tomás de Aquino, a afirmar claramente que a igreja seria "apenas um corpo místico", sem jurisdição terrena. Ou reafirmar, mas em termos inusitados, a primazia da igreja sobre todos os outros poderes. Demarcado esse campo, os dois capítulos conclusivos retomam as disputas entre o Império e o Papado à luz das novas forças intelectuais e se ocupam de uma disputa papal com a emergente força política do Estado territorial, encarnada na figura do rei da França, em via de afirmar sua própria primazia. Essa segunda disputa gira em torno do direito do rei Felipe, o Belo, de cobrar impostos do clero francês, o que é contestado pelo papa, gerando um debate em torno dos direitos respectivos de cada autoridade. Raquel se fixa nesse ponto para explicar como, intelectualmente, a "hora dos reis" e a noção de um poder político laicizado teriam finalmente alcançado a luz do dia, graças às contribuições de autores como João Quidort, Marsílio de Pádua e Guilherme de Ockham. Um livro cujo projeto é tão abrangente fica sempre suscetível à crítica de que acaba problematizando pouco os assuntos abordados, especialmente o tema central, que é a "soberania". Essa crítica, é claro, não retira os méritos do trabalho, mas chama a atenção para as dificuldades de um projeto que pretende mostrar como um conceito foi "construído" num longo processo histórico. Penso que a maior dificuldade é encontrar um equilíbrio adequado entre ruptura e continuidade na trilha que vai do pensamento medieval ao moderno. A opção da autora foi inclinar a balança fortemente para o lado da continuidade. Terminada a leitura do livro, ficamos com a imagem de uma lenta acumulação rumo a um conceito teoricamente acabado, embora com uma história prática ainda a percorrer. Na conclusão, a autora se sente segura em afirmar que, já no início do século 14, "passavam a estar disponíveis, em matéria doutrinária, todos os elementos indispensáveis à consagração de um novo conceito de lealdade, aquele necessário à consolidação jurídica do Estado moderno". No entanto, nas páginas que imediatamente antecederam essa conclusão, ela havia discutido as idéias de dois grandes apologistas (Marsílio de Pádua e Guilherme de Ockham) do Sacro Império, uma instituição que continuava profundamente cravada no imaginário do tempo e cuja permanência representava um claro obstáculo à plena afirmação dos Estados territoriais. Sabemos que esses autores são críticos ferozes das pretensões de poder temporal da igreja. Mas como explicar suas obsessões -e as de Dante, outro grande apologista do mesmo período- pelo Império? Indiretamente, Raquel Kritsch responde a essa pergunta dizendo que suas defesas do Império foram uma simples "retribuição ao imperador", como se eles não mais acreditassem naquela instituição e estivessem de fato olhando para outra coisa, já que "a disputa entre o papa e o imperador, naquele momento, era de certo modo um anacronismo". Pergunto-me se essa saída não subestima as intenções explícitas dos autores em prol de uma interpretação que amarra excessivamente a inteligência política -que é normativa, e não apenas uma tentativa de adequar o pensamento à realidade- ao contexto factual. Pois não raro vemos aparecer, na história das idéias, uma reflexão política que resiste a conformar-se às novas realidades. Por exemplo: o melhor das visões republicanas pode ser encontrado justamente quando as instituições republicanas estavam em franca erosão, como ocorreu na Roma antiga ou na Florença renascentista. Dante, Ockham e Marsílio não poderiam estar sinceramente clamando por uma instituição política laica, mas de caráter universal (como o Sacro Império), exatamente por causa de sua cada vez mais evidente carência? Esse problema nos remete a uma outra questão de fundo: até que ponto uma reconstrução que dá tanta ênfase à continuidade não fica prisioneira de uma perspectiva teleológica da história? Na introdução do livro, a autora revela estar ciente dessa perspectiva e diz que a rejeita. Porém a idéia da acumulação conceitual no sentido daquilo que se consagrará no futuro como "soberania moderna" é tão forte na reconstrução que, no fim das contas, para os autores que tradicionalmente consideramos os clássicos modernos do conceito, não parece restar mais nada a acrescentar, a não ser escolher uma das opções que o "menu" medieval já oferecia há um bom tempo. Essa visão é perfeitamente defensável, e Raquel Kritsch não está sozinha em sua defesa. Penso, porém, que deixa um certo desequilíbrio entre continuidade e ruptura, para o qual os historiadores das idéias deveriam estar mais atentos. Cicero Araujo é professor de ciência política na USP. Texto Anterior: Deciframento sem fim Próximo Texto: À luz de Bergson Índice |
|
|