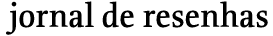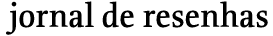|
Próximo Texto | Índice
Lições da distância
Ensaios do historiador italiano Carlo Ginzburg analisados por Laura de Mello e Souza
Olhos de Madeira - Nove Reflexões Sobre a Distância
Carlo Ginzburg
Tradução: Eduardo Brandão
Companhia das Letras
(Tel. 0/xx/11/3846-0801)
320 págs., R$ 28,00
LAURA DE MELLO E SOUZA
Disposto a transformar um pedaço inanimado de madeira num
boneco, o carpinteiro Geppetto
amargou dissabores sem conta
desde que sua criatura adquiriu
vida própria. Mal terminara as
mãos de Pinocchio, o boneco, e
este já lhe roubava a peruca. Se há
muita naturalidade no modo pelo
qual o criador encara a animação
da madeira, prévia mesmo à atribuição de forma, há um momento de inquietação e estranhamento, expresso quando Geppetto,
após talhar na madeira os cabelos,
fronte e olhos, deu-se conta de
que estes o acompanhavam quando ele se movia no quarto "e que o
olhavam fixo, fixo". "Geppetto,
sentindo-se olhado por aqueles
dois olhos de madeira, e quase
magoado, disse com tom ressentido: "Grandes olhos de madeira,
por que olhais para mim?". Ninguém respondeu."
Carlo Ginzburg usa como epígrafe a parte final do trecho acima
e dele tira o título de seu penúltimo livro, "Olhos de Madeira"
("grandes olhos", na verdade, ou
"occhiacci", no original), coletânea de ensaios publicada em janeiro de 1998 e só agora traduzida
para o português, depois de já ter
saído na Itália mais uma coletânea sua, "Rapporti di Forza"
(2000). "Olhos de Madeira" trata
de questões referentes à teoria da
história, à teoria literária e à crítica
de arte em geral e chega a aturdir,
dada a erudição vertiginosa.
Desde 1966, ano da publicação
de "Os Andarilhos do Bem" ("I
Benandanti"), Ginzburg acha-se
envolvido no que ele mesmo definiu como um "projeto historiográfico", de feição muito peculiar
e original. Tendo participado do
grupo de historiadores italianos
que "criaram" a micro-história,
dela se valeu sobretudo no intuito
de "alargar para baixo a noção de
indivíduo" -como disse em outro livro célebre, "O Queijo e os
Vermes" (1976)- e opor-se às
generalizações advindas da febre
quantitativista que, na época,
atingia a história.
As discussões sobre níveis de
cultura e circularidade cultural,
presentes desde seu primeiro trabalho, mas talvez mais óbvias a
partir de 1976, tornaram "Mitos-Emblemas-Sinais" (1986) um
ponto de referência obrigatório e
uma alternativa ao aspecto um
tanto estático das análises culturais empreendidas nos estudos de
história das mentalidades à francesa. Ginzburg se diferencia também pela originalidade de sua formação, por um lado muito italiana -Eugenio Garin e sobretudo
Arnaldo Momigliano são influências evidentes-, e, por outro,
muito marcada por estudiosos de
origem alemã: Leo Spitzer, Erich
Auerbach e, mais do que todos, os
warburguianos, com destaque
para Erwin Panofsky e E.H. Gombrich. Um dos melhores frutos
desse casamento entre historiografias italiana e alemã é "Indagações sobre Piero" (1981), em que
erudição e sensibilidade se aliam
numa proposta de análise mais
histórica para as obras de arte.
No decorrer de todos esses
anos, Ginzburg evitou o sucesso
fácil e os modismos. Se às vezes
suas opções podem oferecer riscos -os exercícios de morfologia
e história se estendem demais em
"História Noturna" (1989), e ele
chega cansado no final-, nada
do que fez até hoje é descartável, e
muito disso é imprescindível.
Ninguém sai igual após uma incursão pelos seus textos, sempre
muito perturbadores. E ele também muda sempre: neste livro,
aparece mais envolvido com os
temas da cultura judaica.
Numa época de banalização e
vulgaridade como a nossa, quando é fácil sucumbir à massificação
e ao trabalho excessivo, Ginzburg
faz lembrar que o conhecimento é
um processo difícil, penoso, semeado de imprevistos. Em entrevista concedida a Maria Lúcia Pallares-Burke em outubro de 1998,
elogiou o movimento italiano do
"slow food", surgido em oposição
ao "fast food", e defendeu o "slow
reading". Esse "método" é o único possível para a leitura de
"Olhos de Madeira": livro árduo,
impenetrável à primeira leitura,
acaba aderindo ao leitor e o persegue como os olhos enigmáticos de
Pinocchio.
É preciso parar, voltar para trás,
reler, descansar, tentar de novo:
não porque o texto seja obscuro
ou confuso, mas porque é denso,
repleto de citações e referências
eruditíssimas, amarrado como os
romances policiais, em que um
minuto de desatenção compromete o entendimento do enredo.
"Olhos de Madeira", como indica o subtítulo, discorre sobre a
distância, alertando para seus benefícios e perigos. Sem ela, não há
exercício crítico possível, e com
ela pode-se perder a perspectiva e
o senso moral.
No primeiro ensaio, "Estranhamento:
Pré-História de um Procedimento Literário", Ginzburg traz subsídios magníficos
e insuspeitados para a compreensão do
artifício, consagrado a partir da Ilustração, de usar o que é distante para entender melhor o que é próximo ou para poder dizer a verdade nua e crua que, de outra forma, seria impossível enunciar.
Antes do persa de Montesquieu, antes
dos estrangeiros-símbolo que pulularam
na literatura francesa pré-ilustrada e sobre os quais Paul Hazard chamou a atenção num livro belíssimo ("A Crise da
Consciência Européia", 1935), o estranhamento se expressou seja nos "estrangeiros", seja nos "marginais" -camponeses, índios, bárbaros-, porque os tomou como seres capazes de explicar por
fora o que não se entendia por dentro. Esse procedimento remonta à "Germania",
de Tácito (final do século 1º/século 2º), às
reflexões do imperador estóico Marco
Aurélio (século 2º de nossa era), celebriza-se no ensaio de Montaigne sobre os
canibais (1578) e pode ser encontrado no
cavalo-narrador Kholstomer, pela boca
do qual Tolstói contesta o direito de propriedade (1860-1863).
Valendo-se da teoria literária -mais
presente, neste livro, do que a antropologia, outrora tão visitada por ele-, Ginzburg dá uma estocada nos formalistas
russos e diz que o estranhamento não é
técnica, mas modo de compreensão, alcançável quando, como Maquiavel, se
observa a realidade do exterior, de longe,
"de uma posição periférica e marginal";
quando, por meio de abordagem mais
histórica que formal, atenta-se para a tradição longa de certos textos, acompanhando-os através do tempo e do espaço.
Pintar ao revés
O clímax do ensaio talvez seja o final,
quando "Em Busca do Tempo Perdido",
de Marcel Proust, é indicado como clivagem nessa tradição sobre o estranhamento. Ao conversar com a viúva de Saint-Loup sobre o amigo, morto na guerra, o
narrador descrê "da estratégia militar como encarnação da idéia absurda de que a
existência humana seja previsível". "Mesmo supondo-se que a guerra seja científica", pondera o narrador proustiano,
"ainda assim seria preciso pintá-la como
Elstir pintava o mar, ao revés, e partir das
ilusões, das crenças que retificamos pouco a pouco, como Dostoiévski contaria
uma vida".
Proust não pretendia exaltar o romance
histórico nem Ginzburg pretende dissolver as fronteiras entre história e literatura: é, ao contrário, muito cioso da distinção entre uma e outra. O que conta, para
Ginzburg, é que historiadores, romancistas e pintores estejam "irmanados num
fim cognitivo". Modificando um pouco o
trecho citado, afirma: "Mesmo supondo-se que a história seja científica, ainda assim seria preciso pintá-la como Elstir
pintava o mar, ao revés".
Ao revés, aqui, assume o sentido que o
"aparentemente insignificante" e o "excepcional normal" assumiram em outras
obras de Ginzburg: "O estranhamento é
um meio para superar as aparências e alcançar uma compreensão mais profunda
da realidade". Não há por que enfocar
apenas personagens e objetos consagrados ou obviamente "importantes": fazê-lo pode levar com mais probabilidade a
chover no molhado. Daí a escolha, em
obras passadas, do moleiro Menocchio,
dos "andarilhos do bem", das bruxas e de
seu vôo noturno.
Outro ensaio que sustenta a carpintaria
do livro é o oitavo, "Matar um Mandarim
Chinês", em que se trata justamente do
outro lado do estranhamento, problematizado por Diderot: "A distância em relação aos lugares e ao tempo talvez atenue
mais ou menos todos os sentimentos",
entre eles o senso moral.
"Tuer le mandarin", mote vulgarizado
a partir do Iluminismo e ficcionalizado
por Eça de Queirós em "O Mandarim",
pertence a uma tradição que remonta a
Aristóteles, para quem os homens, em
sua vida diária, preocupavam-se sobretudo com os objetos que não estavam muito distantes no espaço ou no tempo, "desfrutando do presente e confiando o que é
distante ao acaso e à sorte". O espelho
quebrado em nossa casa perturba mais
do que um incêndio longínquo, e a figurinha perdida no horizonte pode ser abatida por um tiro com menos incômodo do
que o boi que se abate com as próprias
mãos. Basta pensar na África -geograficamente distante- e no Holocausto
-que começa a ficar distante no tempo,
já que suas últimas testemunhas oculares
estão morrendo- para constatar as implicações contemporâneas desse tipo de
procedimento e de tradição.
História e memória
Para o historiador, porém, a distância é
imprescindível, decisiva na própria construção do objeto de estudo. "Distância e
Perspectiva", o sétimo ensaio do livro,
aborda de forma brilhante a constituição
do paradigma de história que ainda é o
nosso, mesmo se bastante arranhado nas
últimas décadas pelos ataques de "céticos" e "fundamentalistas". História se
distingue de memória por pressupor
uma reflexão sobre a distância que nos
separa do passado, expressa por meio de
um gênero literário chamado historiografia. História deriva da palavra grega
pesquisa; memória, por sua vez, reporta-se a ritos e cerimônias numa chave eminentemente afetiva.
Num vôo vertiginoso, Ginzburg mostra
que nosso paradigma historiográfico se
construiu durante mais de um milênio,
detectando três momentos decisivos:
Santo Agostinho e o modelo de adaptação (entre imutabilidade divina e mudança histórica); Maquiavel e o modelo
de conflito (meramente secular e procurando combinar a consciência trágica "de
que a realidade é o que é" e o distanciamento necessário à sua compreensão);
Leibniz e o modelo de multiplicidade (assentado na pluralidade dos pontos de vista, mas buscando a coexistência harmoniosa entre eles).
"O núcleo do paradigma historiográfico corrente", constata Ginzburg, "é uma
versão secularizada do modelo da adaptação, combinado com doses variadas de
conflito e multiplicidade".
Céticos e fundamentalistas -leia-se,
grosso modo, os pós-modernos de variado matiz- aceitam e adaptam o modelo
assentado na multiplicidade, mas têm
ojeriza aos modelos fundamentados na
adaptação e no conflito. Recusam a perspectiva, pois ela impõe uma compreensão crítica do passado que, nos dias que
correm, é cada vez mais eclipsada pela
supervalorização da memória e do relativismo, em que múltiplas versões podem
se equivaler, e o emotivo adquire maior
peso. Maquiavel nos ensinou que, enquanto metáfora cognitiva, a perspectiva
pressupõe "a tensão entre ponto de vista
subjetivo e verdades objetivas e verificáveis" -corolário incompatível com o
subjetivismo excessivo.
Ilustrando, contudo, a ambiguidade
inerente ao conhecimento, Ginzburg expressa profundo mal-estar ao descobrir,
nesse percurso, que a noção de perspectiva histórica surgiu com Santo Agostinho,
pensador cristão, e não poderia ter surgido antes porque representa "uma projeção secularizada da ambivalência para
com judeus". Até hoje, nosso modo de
conhecer o passado traz as marcas do
sentimento cristão de superioridade ante
os judeus. Por isso, num escrito curto e
cortante que encerra o livro, Ginzburg
consegue mostrar "Um Lapso do Papa
Wojtila", que, ao pedir perdão aos judeus, repetiu as palavras de São Paulo, invocando-os como "irmãos mais velhos".
No contexto paulino, o mais velho seria
servo dos mais novos: a fala do papa, certamente bem-intencionada, repetia uma
fórmula e um estereótipo milenares, em
que a condição judaica era sempre de subordinação e de servidão. "O involuntário ressurgimento dessa tradição nas palavras de quem, como o papa Wojtila,
procurava naquele momento infringi-la
confere ao lapso uma dimensão trágica."
"Olhos de Madeira" retoma as reflexões
sobre morfologia e história que, desde
"Mitos-Emblemas-Sinais", tornaram-se
frequentes nas obras de Ginzburg. O núcleo dessas reflexões é composto, aqui, de
quatro ensaios, dois deles inéditos e geniais - "Ecce - Sobre as Raízes Culturais
da Imagem de Culto Cristã" e "Estilo - Inclusão e Exclusão". Dos outros dois,
"Ídolos e Imagens" complementa "Ecce"
(ambos giram em torno do surgimento
da nossa idéia de representação iconográfica, possível tanto pelo afastamento
com relação à tradição judaica, que proibia a imagem, quanto graças à reelaboração da mesma) e "Mito - Distância e
Mentira" abarca um arco de tempo longuíssimo, da Antiguidade à época contemporânea, numa sucessão de reflexões
semifragmentadas que, apesar de instigantes -como a sugestão de que tanto o
uso político da mentira quanto o discurso
falso deságuam no mito-, deixam o leitor um pouco no ar.
"Ecce", o quarto capítulo do livro, é de
tirar o fôlego. Mostra que uma série de
traduções do "Livro de Isaías", ambientadas no judaísmo helenístico de Alexandria e fecundadas pelo indiscutível elemento messiânico da cultura judaica, distorceram significados originais e entraram nos Evangelhos de Lucas e de Mateus para, durante a Idade Média, mas sobretudo no Renascimento, moldarem
uma iconografia cristã. A palavra hebraica para moça foi traduzida pelos sábios
alexandrinos com a palavra grega para
virgem, e assim "uma predição normalíssima" se transformou "numa profecia sobrenatural".
O que era menção ao "servo de Deus"
passou a ser associado ao menino Jesus e
se transformou no "cordeiro" que levava
"sobre si os pecados de muitos": não por
acaso, em aramaico uma só palavra designava servo, rapaz e cordeiro.
Quem redigiu os evangelhos não estava
preocupado com a verdade factual como
a entendemos e apresentou a idéia messiânica como acontecimento: "Que Jesus
historicamente tenha existido, é difícil
afirmar, porque sua vida e sobretudo sua
morte chegaram até nós envolvidas e
obscurecidas pela vontade de demonstrar que ele de fato fora o Messias anunciado pelos profetas". O apego às frases
nominais, próprio do estilo profético, está atrás da cadeia de formulações que
unem Velho e Novo Testamento e que
desembocaram nas representações iconográficas em estudo: "Eis a Virgem";
"eis o meu Servo"; "eis o Cordeiro de
Deus"; "eis o Homem".
As Anunciações, os João Batistas, os Ecce Homo do Renascimento são o ponto
de chegada de um percurso tortuosíssimo, já que para judeus e cristãos primitivos -como Eusébio de Cesaréia- Deus
não podia ser representado. Paradoxo
dos paradoxos, "uma característica recorrente nos textos proféticos judaicos
criou as premissas de um fenômeno totalmente diferente e novo: o surgimento
da imagem de culto cristã". "Ídolos e
Imagens", o quinto capítulo do livro, dá
continuidade a esse tipo de análise, debruçando-se sobre as circunstâncias históricas e os autores em que "a atitude
substancialmente hostil para com as imagens" foi substituída "por uma atitude
substancialmente favorável".
Todas essas discussões reequacionam o
problema da representação, central no
terceiro ensaio do livro e menos referido
à reflexão morfológica: "Representação
-A Palavra, a Idéia, a Coisa". Nele, relativiza-se a teoria dos dois corpos do rei, cara a Ernst Kantorowitz e a seus discípulos, e examina-se sob nova perspectiva o
costume de representar o soberano morto por meio de manequins de cera, madeira ou couro, destacando-se, nesse processo, o papel assumido pelo dogma da
transubstanciação, proclamado em 1215.
O dogma da transubstanciação defendia a idéia de que, no momento da eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo estavam, efetivamente, na hóstia. O momento de sua proclamação coincidiu com um
"desencantamento do mundo das imagens": de um lado, abriu-se uma nova
possibilidade de conceber a representação (já discutida nos ensaios acima referidos), e, por outro, tornou-se possível a
idéia de que o manequim que representava o rei era, de fato, o rei. Essa negação
dos dados sensíveis em nome de uma
realidade profunda e invisível significou a
vitória da abstração e, no caso dos manequins -que, na França, se chamaram
"representação"-, "o símbolo concreto
da abstração do Estado".
Estilo e tradução
Deixei para o final o sexto ensaio do livro e o último do grupo "histórico-morfológico", "Estilo - Inclusão e Exclusão",
porque considero que, de certa forma,
amarra a discussão e dá mais inteligibilidade aos grandes temas presentes na coletânea: a relação entre história e verdade,
entre o invariável e o específico; os limites
e os riscos do pós-modernismo e do relativismo. O estilo deve ser entendido como expressão individual ("o estilo é o homem", na frase depois muito vulgarizada
de Buffon) ou como expressão coletiva,
referida à cultura? Varia no tempo, sendo
portanto sensível à história, ou permanece, incorporando-se aos povos, fundamentando a idéia de raça e a de Estado
nacional?
Para uma tradição de pensamento que
teve importância no mundo germânico,
o estilo seria a "essência oculta" unificadora de cada período e de cada civilização, fechados sobre si mesmos em razão
de suas peculiaridades. Ora, a idéia de civilização como fenômeno homogêneo
(estilística e racialmente) desemboca na
exclusão dos diferentes: "As implicações
de tais idéias -de Auschwitz à ex-Iugoslávia, da pureza racial à faxina étnica-
são bem conhecidas".
Cada estilo traz sua marca -como ensina a peritagem em história da arte- e
cada língua constitui "um mundo diferente e, até certo ponto, incomensurável". Contudo os estilos, como as línguas,
podem ser traduzidos. Abrir mão da tradução seria renunciar à compreensão do
diferente -a tradução "é o argumento
mais poderoso contra o relativismo"- e,
em última instância, penso eu, à interpretação. As razões que norteiam as reservas
feitas por Ginzburg a Foucault em "O
Queijo e os Vermes", notadamente a "Eu,
Pierre Rivière...", ficam, aqui, mais claras
do que nunca.
A grande lição desses ensaios é que nada tem sentido isoladamente e que a
compreensão das diferenças e dos objetos, mesmo se à distância, faz parte do
ofício do historiador. Três anos depois de
concluído, "Olhos de Madeira" conserva
uma atualidade inquietante. Quando nos
sentimos fitados por olhos estranhos e
enigmáticos, temos que nos esforçar para
entender o porquê desse olhar.
Laura de Mello e Souza é professora de história
na USP e autora, entre outros livros, de "Norma e
Conflito" (Ed. UFMG).
Próximo Texto: Nuno Ramos: Considerações sobre o Divino
Índice
|