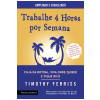Publicidade
Publicidade
Diretor do Reina Sofía inaugura nova fase no museu
Publicidade
FABIO CYPRIANO
CRÍTICO DA FOLHA
Um dos museus mais importantes da Europa, o Reina Sofía, em Madri, que tem entre suas obras-primas nada menos que o "Guernica", de Pablo Picasso (1881-1973), vem passando por uma revolução.
Desde 2008, quando Manuel Borja-Villel assumiu sua direção, o Reina ganhou uma nova e arrojada disposição para seu acervo. Pinturas valiosas de Mark Rothko (1903-1970) são exibidas ao lado de produtos da indústria cultural, no caso o filme "Janela Indiscreta" (1954), de Alfred Hitchcock (1899-1980). "Ambos são sobre visualidade", disse o diretor à Folha, numa pausa na montagem da mostra "Lygia Pape - Espaço Imantado", na Estação Pinacoteca.
A íntegra do texto está disponível para assinantes do jornal e do UOL, empresa controlada pelo Grupo Folha, que edita a Folha.
Villel, vem imprimindo à instituição uma série de transformações. Contrário à postura "colonial" dos museus do século 18 e 19, ou "pós-colonial" do atual mundo globalizado, ele está criando uma nova identidade ao museu espanhol, que inclusive se baseia no diálogo com a produção brasileira.
Leia a seguir, a íntegra da entrevista na qual Villel esclarece suas propostas, concedida à Folha na última sexta (16), na Estação Pinacoteca, onde conferia a montagem da mostra "Lygia Pape. Espaço Imantado", na qual é um dos curadores.
| Gabo Morales/Folhapress | ||
 |
||
| Manuel Borja-Villel na Estação Pinacoteca, em São Paulo |
Folha - Quando esteve à frente da Fundação Tàpies, entre 1990 e 1998, você criou grandes vínculos com a arte brasileira, certo?
Manuel Borja-Villel - Sim, lá organizamos a primeira grande mostra internacional de Hélio Oiticica, em 1992, e depois de Lygia Clark, em 1996.
E o que o levou a observar a arte brasileira, e latino-americana, em geral?
Parte, como tudo, de uma história pessoal e também de uma ideia acadêmica. A história pessoal era trabalhar em museu monográfico. Em Barcelona, como na Espanha, não havia museus de arte moderna. E artistas como Miró, Tàpies e Picasso, quiseram dar algo à cidade, ou seja, havia um sentido positivo. Mas havia um problema que um museu monográfico, de certo modo, sempre possui e é referência ao nome próprio, ao autor, mesmo que a Fundação Tàpies fosse muito, muito aberta. Mas, mesmo assim, era algo que me incomodava. A partir daí fiz uma exposição que se chamava "Os limites do Museu", que era um questionamento da própria instituição.
E esse questionamento continuou e é daí que surge o desenvolvimento intelectual: da ideia de que os museus são estruturas do século 18 e 19, que tinha uma posição colonial e que era, basicamente, o museu que acumulava tesouros, como peças egípcias. Essa posição colonial, nas últimas décadas, se transformou num neocolonialismo, que tem a ver com os efeitos da globalização e com a transformação da cultura em um elemento de consumo, com a troca da experiência estética por uma experiência meramente de consumo.
E esse é um questionamento que sigo até agora, refletindo sobre as bases da instituição: no questionamento de como se coleciona, por exemplo. Uma das coisas que questiono muito é que museus estão baseados na ideia de propriedade, na acumulação. Mas, especialmente hoje em dia, creio que os museus deveriam estar baseados no relato, em compartilhar, em perceber que, no mundo atual, quem recebe também dá.
A partir dai, isso também implica em refletir como se criam os relatos. Nesse questionamento, se dá conta de que os relatos que temos da modernidade são eurocêntricos. Por isso, é necessário questionar a modernidade e a interpelação tem que ser externa. Na época dos romanos, a escravidão era algo normal. Então só de fora que se percebe que algo considerado normal, não é, em verdade, tão normal. Foi a partir daí que passei a me interessar pela condição latino-americana em sua excentricidade, em estar fora, como um elemento de interpelação, de questionamento, não apenas pela arte latino-americana, mas para entender a própria arte europeia.
E qual o papel de Hélio Oiticica nessa história?
A mostra dele, em 1992, foi um momento de inflexão. Ele usava termos como "Crelazer" e vários outros, porque ele mesmo dizia, claramente, que conceitos ocidentais como minimalismo ou pop não eram adequados e necessitava de um vocabulário próprio. Quando Lygia Clark fazia terapia, isso não era possível num museus tradicional, era preciso um espaço distinto. Então, a partir de uma série de mostras com Oiticica, Clark e ainda Marcel Broodthaers, que foi o primeiro, culminando com "Os Limites do Museu", desenvolvemos todo um questionamento sobre os museus, que sigo fazendo até hoje. Esse questionamento gira em torno de certos temas: como narrar, como arquivar, qual é o espaço de mediação nos edifícios e como se atende ao público.
Em 1992, Oiticica era um desconhecido na Europa...
Eu quase fui demitido... Recebi críticas de todo tipo. E isso é curioso porque, agora, não se pode fazer uma exposição "in" se não há Lygia Clark ou Hélio Oiticica. Mas, em 1992, as críticas foram muito duras! Diziam que ele era um artista menor...
E como você chegou a ele?
Foi ao dar-se conta de que há outras realidades. De que no Brasil, Venezuela, Argentina, isso é, na América Latina, a história é cheia de derivas, desvios, viagens, portanto muito distinta daquela que nós, europeus, construímos como linear, sem fissuras. (Jesús Rafael) Soto trabalha na Venezuela e Paris, assim como Clark. Essa complexidade tem a ver com a viagem, com a deriva, a mutação, a antropofagia, e a não diferenciação entre erudito e popular, que é uma separação, falsa, construída no mundo ocidental. Então, ai se dá conta que a modernidade democrática, a modernidade não hegemônica é a modernidade do sul.
Mas, é preciso tomar cuidado para não cair na própria armadilha do norte e não transformar Lygia Clark em santa, ou criar o santo Hélio Oiticica, porque ai estaremos criando outro cânone. Por isso é preciso questionar essa moda de exposições com Clark e Oiticica, porque é impressionante a capacidade do sistema em absorver todo é ilimitada. É preciso dar-se conta, e por isso é importante a mostra de Lygia Pape, em criar novos termos, novas palavras, novas formulas para entender a obra de arte, senão vamos cair em outro cânone.
Mas as famílias desses artistas tem contribuído muito para colocar esses artistas...
Em um pedestal! Porque o pedestal, e isso não é uma teoria nova, o pedestal significa a aura, que significa o fetiche, o fetiche representa a mercadoria e a mercadoria é o dinheiro! É lógico e coerente, mas totalmente contrário à proposta desses artistas.
Então, como expor esses artistas?
Como fazer? Isso é o que estamos realizando a partir da coleção do Reina Sofia. E estamos fazendo em vários níveis, o que é uma revolução, porque é uma grande ruptura. Primeiro, o relato. E o relato não é por disciplinas, porque esse é um conceito moderno, mas está cheio de transversalidades, onde, por exemplo, há um Rothko e, ao lado, "Janela Indiscreta", de (Alfred) Hitchcock, afinal ambos são sobre visualidade. James Stewart nunca toca nada, na verdade apenas uma vez em Grace Kelly, mas é sobre a espionagem, a Guerra Fria, então, há várias camadas.
Outra forma é criar microrrelatos, ao contrário de uma história universal. Antes das obras que acabo de citar, há um trabalho de Jorge de Oteiza (1908 - 2003), que, quando vem ao Brasil (1957), há uma deriva da modernidade. Isso implica também em outras cartografias, cartografias de caminhos que não levam a nenhum lugar, com caminhos que vão de Madri a São Paulo, sem passar por Nova York ou Paris. Ou de São Paulo a Valparaiso.
E há elementos de oralidade, porque ao usar todos esses microrrelatos, nos quais não há um elemento único, mas uma multiplicidade de elementos, há uma característica oral, que é muito distinta dessa coisa platônica, das coisas fixas e isso tem a ver com a ideia de narrador do Walter Benjamin. Isso é, você conta as histórias, mas os espectadores precisam memorizá-las e quando o fazem, elas a reconstroem e as estão recriando.
Bom, isso é um aspecto. Outro aspecto ligado a esse é entender o museu não como um templo clássico do século 19 e nem tampouco um edifício de marca, como um Frank Gehry ou um Richard Meyer, mas como uma cidade. Em uma cidade não se tem uma experiência linear, é possível perder-se, há derivas , descobertas, e isso ocorre no Reina. É um grande museu, como uma cidade, uma espécie de caos entre aspas.
Mas é a sua gestão que o tornou assim, o edifício poderia ter um percurso linear...
Sim, mas não me interessa um percurso linear porque a história não é assim. Outro aspecto que estamos desenvolvendo é que haja a experiência estética do "flaneur, uma experiência que seja contemplativa, outra discursiva, de debates, e outra mesmo terapêutica, se houver abertura.
Finalmente, estamos trabalhando ainda sobre a ideia de um museu que não seja colonial, que não se baseie na acumulação de tesouros, que não seja um museu europeu com seu comitê internacional de aquisição de arte latino-americana, comprando obras para acumular tesouros. Estamos entendendo o museu não como proprietário mas como depositário e como uma rede, um lugar que se conecta com outros. E isso estamos fazendo com companheiros latino-americanos. Estamos gerando arquivos na América Latina: no Chile, no Uruguai, na Argentina. Os arquivos crescem ai e criamos uma rede, uma rede onde todos são importantes, não importa o tamanho ou a representação ou a organização institucional. Com isso, todos ganhamos, porque a riqueza é compartida. Não é uma exploração, uma posição colonial, que ainda por cima é limitativa, porque quando se tem algo, também se representa algo. No MoMA, quando se apresenta arte latino-americana é a visão deles, independente da abertura que ela tenha.
Então, o que você está fazendo é o oposto do Museu de Belas Artes de Houston que está comprando não só arte latino-americana, como documentos sobre arte...
Sim porque o que fazemos é uma pluralidade de arquivos, onde não há um sistema de classificação, mas muitos. Onde não há uma voz, mas uma multiplicidade de vozes, com o qual se cria um relato que é realmente plural. Creio que essa é a grande ruptura desse momento.
E isso é o que no site do museu se chama Rede Conceitualismos do Sul?
Sim. Esse é o núcleo da rede.
Mas há outras duas redes apoiadas pelo museu...
Sim. Há uma outra rede chamada Outra Institucionalidade, que tem a ver com a teoria do comum, que tem a ver com a ruptura da ideia tradicional da dialética entre privado e público. Mas isso, que é uma ideia burguesa, por sorte ou azar, não é bem assim. De fato, o privado acaba sendo tudo, absorvendo tudo. O privado tem a ver com a espoliação do trabalho cognitivo. Quando se faz uma pesquisa, essa pesquisa acaba sendo utilizada pela Microsoft, por exemplo. É uma espoliação permanente do trabalho intelectual ou artístico. E, em geral, os que menos recebem são os artistas, ou certos artistas, e os pesquisadores.
Por outro lado, quando há uma estrutura pública, ao final o público acaba gerindo o global de um modo que acaba sendo estatal e não público. Por isso, é preciso uma nova categoria que é a do comum. A ideia é que tudo volte a todos. E, como é algo novo, não há modelos, é algo que se constrói. E essa rede tem a ver com essa nova forma de pensar a institucionalidade e questionar a propriedade privada, a precariedade do trabalho, onde os museus são os primeiros culpados. Quando um curador faz uma pesquisa de um artista que estava totalmente desconhecido e fazemos um seminário sobre ele, sempre vai haver alguém do mercado, que aparece e, em dois dias, ele vai oferecer ao museu a obra daquele artista pelo dobro do que valia antes!
Como um museu público, como o Reina Sofia, consegue ter uma ação tão radical, se o governo espanhol é tão conservador, não surgem problemas?
Até o momento não porque há seis anos, para nossa sorte, foi feito um pacto de Estado. Antes o diretor do museu era um cargo político, mas agora, o Museu do Prado, a Biblioteca Nacional e o Reina Sofia tem autonomia. Eu fui eleito por um grupo independente e tenho um contrato.
Mas quem paga a conta é o Estado?
O que passa é que, com a crise, estamos mudando. E, frente às crises, há duas saídas: a melancolia, que é a mais comum. E é mesmo como o filme de Lars Von Trier, que se chama "Melancolia", e é a espera da morte. Eu me nego à melancolia, ao lamento de uma época da Espanha que se tinha muito dinheiro. E isso se acabou, provavelmente para sempre. E por isso estamos buscando novas fórmulas, uma fórmula mista, privado e publica, e, ao mesmo tempo, criando uma fundação que cubra toda Ibero América. Creio que a crise implica numa mudança de mentalidade, inclusive de identidade. A identidade tradicional de nação perdeu sentido. A identidade tradicional era, como os museus, de representação: a identidade explica quem você é, brasileiro, espanhol, catalão. Isso se acabou. Identidade, agora, é algo em fluxo. E essa ideia em fluxo tem a ver com regiões muito mais amplas, como o mundo ibero-americano, que inclui a península ibérica e toda América Latina.
E temos que ser conscientes que essa realidade existe em nível econômica. Normalmente, sempre pensamos que as ideias artísticas vão a frente da economia, mas, ultimamente, o mundo financeiro vai muito mais rápido. A realidade do sistema econômico é conseguir o máximo de benefício com o mínimo investimento. Então, depende de nós que pensemos numa realidade de acordo com nossos princípios, princípios de intercâmbio, de criar um espaço democrático, um espaço do que é comum.
A força desse sistema econômico, de fato, parece refletir no atual sistema da arte. Enquanto artistas como Lygia Pape, Lygia Clark e Hélio Oiticica tinham uma proposta artista muito radical, há 30 anos atrás, isso não se vê agora...
Por isso me interessa tanto o que se passa na Europa, porque é um dos meus passados, nós todos temos vários passados, não apenas um, todos somos de muito lugares. Mas um elemento que me interessa muito no mundo ibero-americano, em contraposição com a China, por exemplo, é que a China está copiando a parte mais perversa do mundo ocidental que é o mercado. Já na América Latina, por conta das ditaduras, a arte criou seus próprios circuitos, suas próprias formas de relação, de intercâmbio. E como há essa tradição na América Latina, não podemos perder isso de vista, mas agora há uma fascinação, que é lógica, mas que é uma fascinação psicológica, de um certo erotismo pela fama. E as ideias progressistas, especialmente na Europa, estão perdendo seu lugar. Então temos que aprender com essas estruturas do passado.
+ Livraria
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade
Publicidade
As Últimas que Você não Leu
Publicidade
+ LidasÍndice
- Alice Braga produzirá nova série brasileira original da Netflix
- Sem renovar contrato, Fox retira canais da operadora Sky
- Filósofo e crítico literário Tzvetan Todorov morre, aos 77, em Paris
- Quadrinhos
- 'A Richard's estava perdendo sua cara', diz Ricardo Ferreira, de volta à marca
+ Comentadas
- Além de Gaga, Rock in Rio confirma Ivete, Fergie e 5 Seconds of Summer
- Retrospectiva celebra os cem anos da mostra mais radical de Anita Malfatti
+ EnviadasÍndice