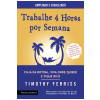Publicidade
Publicidade
"No Brasil, foge-se como o diabo da cruz dos juízos de valor", disse Pignatari
Publicidade
DE SÃO PAULO
Em 2007, quando fez 80 anos, o poeta Décio Pignatari falou à Folha sobre concretismo, desentendimentos com Ferreira Gullar, sua temporada na Europa nos anos 50, a experiência com o teatro e o estudo da literatura na academia.
Poeta Décio Pignatari morre 85 em São Paulo
Décio Pignatari: Kierkegaard em Dogville
"No Brasil, você sempre caminha para uma coisa que é muito pobre. Faz-se literatura comparada, mas se foge como o diabo da cruz dos juízos de valor. Aí, vem um Harold Bloom [crítico literário norte-americano] e espanta todo mundo porque ele fala mesmo "é bom" e "eu gosto". E é preciso, senão como é que você vai orientar os mais novos?", questionou.
Leia a entrevista abaixo.
*
Oitentação
Prestes a completar 80 anos, Décio Pignatari não quer celebrar data nem cinqüentenário da poesia concreta; ele diz que não guarda rancor do inimigo íntimo Ferreira Gullar, critica a arquitetura e vê vanguardismo na moda
EDUARDO SIMÕES
NOEMI JAFFE
ENVIADOS ESPECIAIS A CURITIBA
No dia 20 deste mês, o poeta, dramaturgo, crítico, tradutor e professor Décio Pignatari chega aos 80 anos, firme no propósito de fugir de homenagens à efeméride pessoal. E também às profissionais. Convidado para participar de uma exposição sobre os 50 anos da poesia concreta, que será aberta dia 15, no Instituto Tomie Ohtake, Pignatari já avisou que não vai. Mas está colaborando com o evento para o qual realizou uma série de gravações de seus poemas.
O concretista pretendia passar o aniversário na Cidade do México, ao lado do segundo neto, Rafael, que faz um ano no dia 19. Como não conseguiu tirar o visto a tempo, ficará em Curitiba, onde vive desde 1999. "Vou passar aqui tomando um champanhe português, na tranqüila solidão, olhando o 'big brother' Niemeyer", diz, referindo-se ao "olho" do Museu Oscar Niemeyer, próximo de onde mora.
No Paraná desde que se aposentou da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Pignatari dá aulas no mestrado em Comunicação e Linguagem da Universidade Tuiuti.
Avesso a rememorações e entrevistas, o poeta abriu uma generosa exceção e conversou por mais de três horas com a Folha. Relembrou o rompimento político e estético com os neoconcretos, movimento encabeçado pelo poeta Ferreia Gullar. Falou sobre a segunda parte de sua trilogia feita para o teatro, iniciada com "Céu de Lona" (2004), concluída há pouco mais de um mês na Itália. Explicou ainda como será o livro que reunirá sua correspondência com os irmãos Augusto e Haroldo de Campos (1929-2003), com quem fundou a poesia concreta no Brasil.
E mais: o poeta dos textos verbais, visuais e sonoros diz que, no Brasil, a única vanguarda que houve nos últimos tempos foi a silente moda: "Ela me espantou. É realmente uma linguagem de vanguarda". Por fim, Pignatari sintetizou seus 80 anos numa de suas caras palavras-valise: "oitentação".
FOLHA - O senhor e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos serão homenageados a partir do dia 15 de agosto com uma exposição no Instituto Tomie Ohtake sobre a poesia concreta. Pretende vir a São Paulo?
DÉCIO PIGNATARI - Eu não vou. Já avisei ao [curador] Walter Silveira. Eu não sou contra. Falo apenas: "Vocês usem o material, façam, podem fotografar. Não gosto muito de homenagens e não participo. Recentemente, por acaso, fizeram uma homenagem a mim da qual eu gostei, aqui na Universidade Tuiuti do Paraná, onde eu estou já há oito anos. Eu revi toda a minha gente, alunos ou colegas, de São Paulo e Rio. Fizeram uma homenagem visual que me agradou. Primeiro, porque os dois [organizadores] tinham sido alunos meus. Os melhores alunos que tive, não só aqui, mas em toda pós-graduação nos últimos 30 e tantos anos. Mas não quero saber de comemoração.
A ideia de reconhecimento não interessa ao senhor? Não se incomoda, por exemplo, com o fato de Ferreira Gullar, que assinou em 1959 o "Manifesto Neoconcreto", ser mais aceito pela academia e pela crítica geral como um grande poeta brasileiro, ao passo que a poesia concreta não tem o mesmo espaço?
Não me incomodo. É algo natural. O signo novo é sempre minoritário.
Mas até hoje?
Sim, porque ele [Gullar] fez de tudo, ele ingressou no Partidão [comunista]. Inicialmente até chegamos a trabalhar juntos. Mas, posteriormente, acho que o Gullar repensou: "Eu tenho condições de ser o dom Pablito Neruda do Brasil". Então ele entrou para o Partidão, porque, para você fazer carreira, o Partidão era ótimo, tinha meios de promover. Falando aquela linguagem social e politicamente correta, você tinha muito mais chance.
Como foi o rompimento com Gullar?
Nós fomos inimigos íntimos, o Gullar e eu. Mas eu não briguei com ele pessoalmente. Eu brigo e depois dou risada, não quero saber de guardar rancor pessoal. Não é necessário publicar, mas o [o poeta Manuel] Bandeira certa vez falou: "O Gullar estava se afogando, e vocês [os concretos] o puxaram pelo cabelo". O Gullar é uma espécie de buscapé sem o rabo, que de repente você não sabe para que lado vai. Ele já percorreu todos os caminhos. Ele tinha talento, publicou "A Luta Corporal", que é um livro importante, que antecedeu a nossa publicação. Mas o "Manifesto Neoconcreto", depois, não foi um rompimento. Foi luta pelo poder. Depois que o [poeta] Mário Faustino [1930-1962], que estava no "Jornal do Brasil", morreu, aí o Gullar e os cariocas tomaram o poder e fizeram o racha.
Quais eram as diferenças políticas e estéticas entre o grupo paulista e Gullar?
O Gullar tinha de fazer versos, não podia fazer poesia concreta. Eu queria poesia concreta participante. E fiz, escrevi a "Stela Cubana Número Quatro" apoiando Fidel Castro. Mas eu queria um engajamento seguindo o que dizia Maiakóvski, ou seja: "Não há obra revolucionária sem forma revolucionária". Era isso o que nós seguíamos e acrescentamos ao "Plano Piloto" da poesia concreta. Em 1965, no entanto, depois que surgiu a ditadura brasileira, nós tomamos uma posição de formação de frente ampla. Eu falei: "Chega de briga". E fui falar com o Gullar.
Os irmãos Campos tinham uma relação diferente do senhor com a idéia de reconhecimento da poesia concreta?
Bom, o Augusto se queixa em relação ao reconhecimento. Eu não quero saber disso, não me importo. Não existe vanguarda majoritária. O signo novo não pode ser majoritário. O novo põe em questão o que foi feito antes.
Imagine o Picasso chegar em 1958 e fazer 50 anos do quadro "Les Demoiselles d'Avignon". Não basta ser simplesmente de vanguarda. O importante é você ter uma poesia de alto repertório. Só isso.
E quais são seus critérios para avaliar os repertórios?
Eu costumo perguntar aos meus alunos ou em conferências: sabem quantos brasileiros lêem "Os Lusíadas" por ano? Dezessete. Eu fiz as contas, incluindo os departamentos de literatura.
Para mim, que tenho Camões como número 1, não adianta 17 lerem "Os Lusíadas" ao ano. Porque, para mim, o cotejo é sempre internacional. Se você me perguntar qual é o maior poeta do Brasil, eu vou responder: "O que você está querendo dizer?". É um problema de teoria da informação. Eu não gosto de falar em primeira, segunda ou terceira categoria. E sim em primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Você tem grandes, ótimos criadores, mas muito poucos de primeiro nível, como Dante e Mallarmé.
No segundo nível está a grande maioria dos grandes escritores, especialmente prosadores, como Dostoiévski, Faulkner, Tolstói, que era um plagiário. Eles são todos excelentes criadores, que fizeram grandes obras de segundo nível.
E, no Brasil, quem temos no primeiro nível?
Nós temos os grandes, mas eles justamente não estão nos departamentos de letras. O número 1 do século passado se chama Joaquim de Sousândrade. E quem é que vai ler? Quem é que entende? A penetração da informação nova é muito lenta, demora até entrar no "mainstream". Ele está sendo publicado agora. Ninguém entende o que aquele homem está falando...
Mas esse problema é historicamente típico do Brasil ou do mundo em geral?
Não, isso existe em geral. Vi gente extraordinária que foi reconhecida muito depois. Nos séculos 17 e 18, ninguém lia Shakespeare. Na Inglaterra, Shakespeare não existia. Acho que mal era representado. Ele foi ressuscitado no Romantismo.
Mas, no Brasil, há mais autores de primeiro e segundo níveis?
Você tem os grandes criadores do século 20, como não? É uma pena que Álvares de Azevedo tenha morrido tão cedo. Esse era um byroniano, tinha talento demais. Assim como o Castro Alves, que eu adorava na adolescência. E o século 20 produziu os grandes poetas do Brasil. O Drummond não deve nada a Octavio Paz. Selecionando bem. João Cabral é poeta realmente de primeiro nível, no Brasil, de segundo nível mundial. Ele não chega a ser nenhum Mallarmé, não chega a um Cummings, a um Pound, não chega a um Eliot, que para mim é grande mesmo, até maior que Pound. Eu não engulo os cantos inteiros do Pound.
E na prosa? Guimarães Rosa está entre os primeiros?
Aqui, Guimarães Rosa em primeiro, Dyonélio Machado em segundo, e depois vêm todos os nordestinos. Ou seja, vêm aí José Lins do Rego, os bons. Você tem alguns, mas tem de selecionar as obras deles, mas você tem Graciliano Ramos, José Lins, o Guimarães Rosa.... Quando li "Sagarana", eu falei: "Mas que coisa absurda, esse sujeito misturou Rui Barbosa com Euclydes da Cunha. "Sagarana" para mim é detestável, mas ele surpreendeu com "Grande Sertão: Veredas". Aí ele sabia quem era Joyce, ele sabia quem é Camões, ele realmente sabe quem é Euclydes.
Esse tipo de avaliação não parece ter eco no meio acadêmico brasileiro...
No Brasil, você sempre caminha para uma coisa que é muito pobre. Faz-se literatura comparada, mas se foge como o diabo da cruz dos juízos de valor. Aí, vem um Harold Bloom [crítico literário norte-americano] e espanta todo mundo porque ele fala mesmo "é bom" e "eu gosto". E é preciso, senão como é que você vai orientar os mais novos? Nós nos perguntávamos, Augusto, Haroldo e eu, nas nossas reuniões: o que queria dizer um grande poeta brasileiro? O que queria dizer um grande autor brasileiro? Se começarmos a cotejar internacionalmente, onde ele ficaria? O Antonio Candido, que foi meu orientador na academia, acabou transformando os setores de letras no mesmo que eram os catedráticos. Quer dizer, um nacionalismo que não faz muito sentido e onde você até procura evitar estudar, por exemplo, as influências estrangeiras sofridas por um escritor brasileiro.
O sr. poderia dar um exemplo?
Por exemplo, a influência do Joyce no Rosa. Eu defendi e dei cursos durante décadas sobre "Os Ratos", do Dyonélio Machado. Só esse livro do Dyonélio, gaúcho, já vale toda aquela festa nordestina, que, de resto, fez trabalhos interessantes, não importa se é best-seller. Se é sucesso, é sucesso, por que não? Não sou contra fazer sucesso.
Escritores como Erico Verissimo e Jorge Amado eram best-sellers, foram os primeiros best-sellers brasileiros. Mas não atingem, para mim, nenhum deles, o valor de "Os Ratos", que pegou no ar, naturalmente, o romance em 24 horas do James Joyce, não é? Ele fez ali algo extraordinário.
Como será o livro de cartas que a Unicamp está preparando?
A [pesquisadora] Maria Eugênia Boaventura, que fez o "O Salão e a Selva", a biografia de Oswald de Andrade, está cuidando disso. O que pode ter interesse para pesquisadores no futuro é a correspondência minha com os Campos. Eu na Europa, eles em São Paulo, entre 1954 e 1956. Eram cartas assim de dez, 12, 15 páginas, e eu datilografava todas, eu não escrevia à mão.
Tenho muitas delas, pois eu tirava cópia, à máquina mesmo, com carbono. E era uma briga danada, discussões de tudo o que você pode imaginar, até xingatórios. E imbatível mesmo é o Haroldo. Só o Haroldo sozinho, meu Deus, só a correspondência do Haroldo deve ter 2.000 cartas.
Nessa correspondência se vê tudo, o nascimento da poesia concreta praticamente. Aquilo que antecedeu também, porque eu tinha sonhado mesmo em ir embora do Brasil. Era natural, para alguém que admirava poetas, escritores e artistas de fora, querer conhecer que mundo é esse. Gente que eu admirava. Que primeiro mundo era esse? Era a Europa.
E como estas suas viagens à Europa influenciaram a poesia concreta que estava por vir?
Eu fiquei um ano em Paris, seis meses em Munique, me interessava muito por desenho industrial. Eu já estava ligado ao grupo de artistas concretos que tinha já uma visão do design. Fui justamente para a Alemanha para conhecer a recém-inaugurada Hochschule für Gestaltung, a escola superior da forma que tinha sido inaugurada pelo [designer, arquiteto e artista plástico suíço] Max Bill [1908-1994]. E aí tive minha primeira conversa com [poeta boliviano de origem suíça Eugen] Gomringer [1925-], quando nos demos conta de que o nosso caminho era o mesmo. Foi uma maravilha essa descoberta. Então, primeiro Gomringer. Segundo, pela primeira vez eu ouvi falar em semiótica e Charles Sanders Peirce. E, terceiro, a primeira vez em que eu ouvi falar em cibernética, por meio de um livrinho do Norbert Wiener que ficaria famoso: "Cibernética e Sociedade - O Uso Humano de Seres Humanos". Essas duas informações, mais a ligação a Gomringer, foram fundamentais.
Em 2004, o senhor lançou "Céu de Lona", primeira parte da trilogia que investiga as relações entre intelectuais e suas mulheres. Como andam a segunda e terceira partes?
Eu havia começado a segunda parte em Ferrara, em maio do ano passado, e agora voltei lá para concluir. Chama-se "Viagem Magnética", que trata da Nísia Floresta, a grande, a primeira feminista brasileira. Ela e o Auguste Comte [filósofo francês fundador do Positivismo], que, na verdade, aparece bem "en passant". Ela mesma nunca foi positivista. A história é bem outra.
Uma professora de Minas, a Constância Lima Duarte, me cedeu muito material. Mas ela fez todo o trabalho oficial, politicamente correto. Eu vou fazer uma obra de ficção, onde vão acontecer coisas espantosas. Não é a Nísia histórica que aparece. É uma peça eroticamente muito forte. É uma peça de idéias, não de uma pessoa. E a terceira vai ser sobre Kierkgaard e Regine Olsen, e vai se chamar "O Salto", que é uma das idéias fundamentais do Kierkgaard. Você chega no momento da angústia absolutamente necessária. Você não vai sair dela sem dar "o salto", que para ele é Deus.
Como gostaria que as peças fossem encenadas e por quem?
Com a maior liberdade. E pelo Bob Wilson, porque foi ele que marcou a minha mudança para o teatro. Estava em São Paulo, quando vi sua montagem de "Quando Despertamos de entre os Mortos", de Ibsen. Era o que eu queria, as falas e os gestos são deslocados. O texto vinha de três fontes diferentes. Pô, eu fiquei apaixonado pelo Bob Wilson.
No Brasil, não acha que tem alguém que seja capaz?
O Antunes. Embora ele hoje seja uma lástima. Eles só são bons na primeira peça, depois, um desastre.
Nem o Zé Celso?
O Zé Celso não. O Zé Celso fez "O Rei da Vela" e mais alguma coisa. O Zé Celso é abominável. Abominável nos últimos 20 anos. Eu fazia crônica na Folha quando fiz crítica a ele. Ele ficou uma vara. Mandava sujeitos me telefonar, me xingar de tudo quanto era nome. É uma baixaria baseada na ignorância. A gente do teatro brasileiro é muito ignorante.
Das lutas nas décadas de 50, 60, cuja riqueza o senhor exalta, o que restou?
Ficou o que você desfruta hoje. Ficou um outro Brasil. Já é um outro Brasil, ainda em nível de C para B. Mas é um outro Brasil. Você não tem idéia do que era. Não tem nem idéia do que era namorar e casar naquele tempo. Não tem idéia da estupidez, dos preconceitos em relação a tabus sexuais, tabus da virgindade. O número de estudantes universitários, naquele tempo, eu calculo, devia ser cem mil. Hoje caminhamos para 4 milhões.
E o que restou das vanguardas?
Não, não há mais. Vai haver muitas vanguardas. Não há mais a idéia de uma única vanguarda. São muitos focos que podem ser vanguarda. No Brasil, infelizmente, ficamos para trás numa delas e para a frente noutras. Por exemplo, o Brasil ficou para trás na arquitetura, cultivando o concreto que faz o edifício pesar 500 vezes mais.
E em que vanguarda o Brasil está presente?
Logo vão acabar com ela também, mas a única vanguarda que houve nesses últimos tempos, por incrível que pareça, e que me espantou, foi a moda. A moda me espantou. Todos os desfiles de moda. Meu deus do céu, eles fazem aquelas roupas incríveis e todo mundo se pergunta: mas ninguém vai vestir isso? Justamente essa moda é uma linguagem de vanguarda.
Eu não conheço bem, mas eu vejo os desfiles, as fotos, as coisas incríveis que acontecem na moda, pombas. A moda como roupa experimental. Acho espantoso como linguagem a moda.
+ Livraria
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade
Publicidade
As Últimas que Você não Leu
Publicidade
+ LidasÍndice
- Alice Braga produzirá nova série brasileira original da Netflix
- Sem renovar contrato, Fox retira canais da operadora Sky
- Filósofo e crítico literário Tzvetan Todorov morre, aos 77, em Paris
- Quadrinhos
- 'A Richard's estava perdendo sua cara', diz Ricardo Ferreira, de volta à marca
+ Comentadas
- Além de Gaga, Rock in Rio confirma Ivete, Fergie e 5 Seconds of Summer
- Retrospectiva celebra os cem anos da mostra mais radical de Anita Malfatti
+ EnviadasÍndice