[RESUMO] Psicólogo e filósofo Joshua Greene fala à Folha sobre estudos acerca da moralidade.
O americano Joshua Greene começou sua carreira científica tentando entender o que acontecia no cérebro das pessoas diante de um dilema inusitado: usar ou não usar um rapaz gordo como breque de bonde?
Esse tipo de cenário, por mais estapafúrdio que pareça, virou uma das bases da pesquisa sobre o funcionamento das nossas noções de certo e errado, em grande parte graças a Greene e colegas.
Nos dois principais estudos conduzidos pelo psicólogo e filósofo, o corpo do pobre sujeito só é prensado pelo bonde porque tem o tamanho exato para impedir que o veículo mate outras cinco pessoas. Troca-se uma vida por cinco, portanto.
Greene e colaboradores descobriram que as pessoas reagem de modo específico a contextos diferentes desse cenário. É mais fácil que alguém tope sacrificar o pobre obeso se tiver de apertar um botão ou uma alavanca para desviar o bonde do que se tiver de empurrar a vítima na direção do veículo com as próprias mãos, ainda que o resultado de ambas as ações seja o mesmo.
O cérebro levado a imaginar esses cenários reage de forma muito diversa —no segundo caso, ativando áreas ligadas às emoções. Os dados levaram o psicólogo da Universidade Harvard a formular suas ideias sobre a origem dual dos sistemas morais: eles teriam uma profunda base emocional, a qual só mais tarde ganha elementos de racionalidade.
Em seu livro "Moral Tribes" (tribos morais), Greene propõe que isso está na raiz de boa parte das desavenças políticas e culturais. Nossa moralidade emocional funciona bem quando lidamos com membros de nossa própria tribo, diz ele, mas patina diante de pessoas ligadas a grupos muito diferentes.
Para sair desse impasse, ele propõe uma adesão pragmática ao utilitarismo, ou seja, a tentativa de priorizar o mínimo de sofrimento e o máximo de bem-estar para o maior número possível de pessoas.
Essa estratégia, que ele chama de "pragmatismo profundo", está baseada numa série de estratégias propostas por Greene: evitar o uso de julgamentos emocionais e automáticos diante de uma controvérsia moral; debater com base em fatos antes de chegar a conclusões sobre o que é certo e errado; resistir à tentação de puxar a brasa para a sardinha do seu próprio grupo num debate.
Com isso, teríamos à mão uma "metamoralidade" —um arcabouço que permitiria resolver dilemas morais envolvendo grupos de visões muito diferentes entre si.
Convidado do ciclo de palestras Fronteiras do Pensamento, Greene falou com a Folha por telefone em sua visita ao Brasil.
Um dos problemas do utilitarismo proposto pelo senhor é que ele tem pouco apelo intuitivo se comparado à moralidade mais "automática" da maioria das pessoas. Haveria algum meio de aumentar o apelo dele?
Concordo que não existe saída fácil. A grande força —e a grande fraqueza— do utilitarismo é que ele vai além da simples intuição. Como explico em meu livro, quando você tem tribos diferentes com interesses conflitantes, não há como apelar para as intuições morais delas, que podem ser bem diferentes entre si.
Digamos que o utilitarismo é como uma segunda língua que todos podemos aprender a falar de um jeito desajeitado. Não é o idioma no qual expressaríamos naturalmente nossos instintos morais, mas é algo que podemos acessar se estivermos dispostos a fazer esse esforço, porque todos nos importamos com as consequências das nossas ações.
Seria um nível básico de imparcialidade cuja fundação é o fato de que todos temos algum compromisso com a justiça, com a ideia de evitar o sofrimento e buscar a felicidade, mesmo que não tenhamos um sentimento profundo no nosso coração que crie um apego por esse ponto de vista.
O pensamento religioso, que muitas pessoas associam às bases da moralidade, acaba sempre sendo tribal, na sua opinião?
Todas as religiões têm elementos universais e outros que são típicos de cada tribo. Por exemplo, a ideia básica da regra de ouro [presente nos ensinamentos de Jesus e Confúcio, por exemplo], "não faça aos outros o que você não quer que façam com você", ocorre numa variedade muito grande de religiões e é compatível com uma metamoralidade.
O que acaba fazendo muita diferença é: qual o tamanho do seu círculo de preocupação em determinada cultura religiosa? Ele se estende apenas aos seus vizinhos e correligionários ou vai mais longe?
Então, a questão não é dizer que a religião é compatível ou incompatível com a metamoralidade, mas perceber que ela pode funcionar como uma espécie de portal moral para uma visão mais global.
Um fenômeno meio assustador que aparece às vezes em experimentos na sua área de pesquisa é a chamada punição antissocial, quando os participantes de um estudo aceitam perder recompensas apenas para punir quem é generoso demais. É algo que se manifesta com mais frequência com participantes que são de países desiguais e pouco democráticos. Quais as implicações dessa descoberta?
Essa é uma observação bastante interessante. Para deixar claro do que estamos falando: nesses jogos de laboratório, normalmente cada um dos participantes recebe uma pequena soma em dinheiro e pode investi-la numa espécie de fundo comum ou ficar com o dinheiro para si, ou então investir só parte da soma e guardar o resto. O dinheiro investido volta com juros ao longo das rodadas e é dividido igualmente entre os participantes.
Ou seja, racionalmente, do ponto de vista coletivo, seria do interesse de todo mundo fazer o investimento. Mas, se alguém guarda o dinheiro e deixa os outros investirem, individualmente ela sai ganhando mais do que os outros, às custas deles.
Para evitar isso, os participantes têm o direito de punir os colegas: podem tirar parte do dinheiro de outros jogadores entre as rodadas. Só que, para isso, eles também perdem parte do dinheiro deles. Portanto, a punição tem um custo para quem pune.
Em vários casos, os outros jogadores punem quem contribui pouco para o fundo comum. É a chamada punição pró-social, que mantém as contribuições coletivas num nível mais alto. Mas há também a punição antissocial que você citou: há quem escolha punir quem contribui muito para o fundo, tirando dinheiro de quem é "generoso demais".
Quando você pergunta para as pessoas que aderem a essa punição por que elas fazem isso, em geral elas respondem coisas como "não gosto desse jogo, não gosto que me forcem a seguir essas regras estranhas". Elas tendem a perceber o sistema como algo coercitivo.
É intrigante que o sr. coloque as coisas dessa maneira, porque eu já tinha visto outras explicações segundo as quais a variável-chave seria a confiança —em culturas nas quais as pessoas não confiam nas instituições, elas tenderiam a agir desse modo.
Sim, acho que o que eu disse antes tem mais ou menos esse significado. A questão é uma revolta contra o sistema segundo o qual as coisas funcionam.
Acho que é um fenômeno similar ao que vemos quando as pessoas votam em políticos com retórica violenta, de personalidade antissocial e desonesta, como Donald Trump.
O raciocínio é: "Não estou nem aí se essa escolha acabar até me prejudicando, tudo o que eu quero é chacoalhar esse sistema que está me mantendo por baixo".
Parece haver um consenso de que a desigualdade econômica tem aumentado no mundo todo. Há dados mostrando qual o efeito disso sobre as tentativas de achar um terreno comum no que diz respeito a dilemas morais? Sociedades desiguais são naturalmente mais divididas?
Uma democracia que continua a ser uma democracia tende a autocorrigir esse tipo de desequilíbrio: existem mecanismos para fazer com que as pessoas que concentram a riqueza em suas mãos acabem revertendo boa parte de seus ganhos em benefício de toda a sociedade.
Mas, ao menos nos EUA, um certo ramo da elite econômica queria achar outra estratégia para manter seus ganhos. E é óbvio que eles não iam dizer na cara de todo mundo: "Vamos diminuir os impostos pagos pelas grandes empresas e pelos ricos e gastar menos com serviços que beneficiam a população". Não seria uma plataforma muito popular.
Eles precisavam de outra coisa para fazer com que as pessoas embarcassem no projeto deles, e por isso têm apelado para preconceitos tribais naturais: o problema são os mexicanos, os muçulmanos, os elitistas esnobes querendo tirar o seu suado dinheirinho de americano comum.
Quais são seus próximos grandes projetos de pesquisa ou como escritor?
O que tenho no horizonte é tentar aplicar métodos mais diretos para fazer com que diferentes tribos morais achem pontos em comum e trabalhem juntas.
Além disso, no meu laboratório, estamos investigando algumas questões básicas sobre como o pensamento humano funciona —como traduzimos pensamentos em palavras e imagens, por exemplo.
O outro lado dessa busca é aprender como aplicar descobertas desse tipo na criação de máquinas que de fato sejam capazes de pensar.
Reinaldo José Lopes, jornalista, é autor de "1499: O Brasil Antes de Cabral" e assina o blog Darwin e Deus no site da Folha.
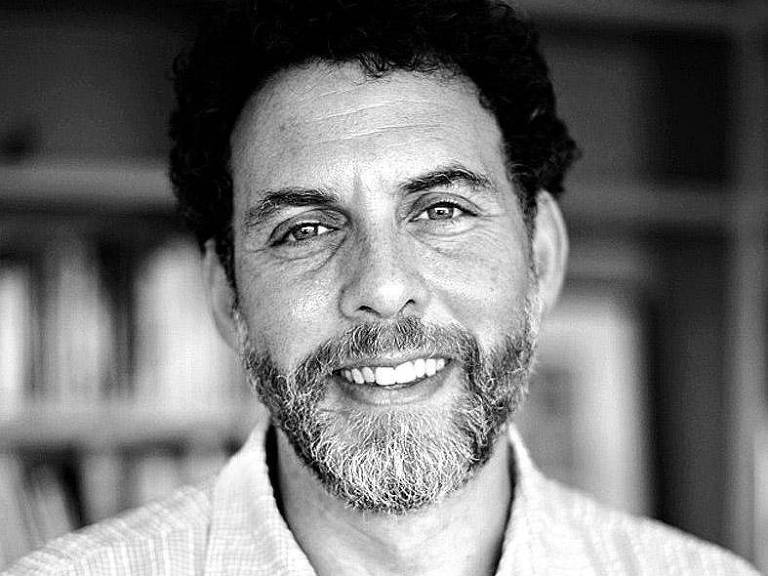








































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.