Saímos do escritório na sexta, umas seis da tarde. A Bruna vai levar o filho numa festa, o Thiago vai pegar a Maria Clara na escola, eu e o Chico subimos a rua a caminho do shopping, onde vamos comprar presentes de dia das mães para as nossas mulheres. O sol brando de maio parece um prêmio para os nossos esforços.
Passamos uma semana brigando com a história. Na quarta-feira acreditamos que havíamos vencido, que a trama se sustentava como a estrutura de uma casa, mas na quinta de manhã o episódio desmoronou diante dos nossos olhos. “Este personagem jamais agiria assim”. “E o final? Como pudemos achar crível?”. Trabalhamos com roteiro há um tempo, não desanimamos: erguemos do chão as vigas, os pilares, os tirantes, os caibros, pusemos tudo de pé outra vez, com outros pontos de apoio, outros encaixes: funcionou.
Subimos a rua com esta satisfação ao mesmo tempo heroica e comezinha que um trabalho realizado traz. Falamos do episódio, depois das mulheres, dos filhos. Por um instante posso nos ver de fora: ali vão dois homens em paz. Aos poucos, porém, o papo migra pras manchetes dos jornais. Avança na Câmara o projeto “Escola sem Partido”, que proíbe falar em “gênero” ou “orientação sexual” nas salas de aula. Exposições estão sendo censuradas. Artistas são vistos como párias por uma boa parte da população. As eleições de outubro podem ser catastróficas. No mundo todo o Estado do bem-estar social, esse filho pródigo do século 20, resultado do enlace furioso e profícuo entre o liberalismo e o socialismo —tão diferentes entre si, sob certos aspectos, mas ambos filhos do iluminismo, ungidos na pia batismal da Revolução Francesa— está dando lugar a um autoritarismo raivoso, excludente, obtuso. Uma nuvem carregada esconde o sol.
Nos vejo de fora não mais no espaço, mas no tempo. Será que esses dois homens subindo a rua em paz, criando histórias para uma série, indo comprar presentes para suas mulheres, são a imagem de um mundo em vias de desaparecer, como dois judeus na Alemanha, em 1932, como a protagonista de “O Conto da Aia” (Ed. Rocco, Hulu), antes da ascensão do totalitarismo teocrático?
Dias antes, comento, ouvi uma entrevista com o diretor tcheco Milos Forman (“Um Estranho no Ninho”). Em 1944, Forman tinha 10 anos e vivia em Praga. Certa noite, assistia das coxias a uma opereta da companhia teatral para a qual seu irmão mais velho trabalhava. No meio de um número animado, a cantora começa a chorar e sai correndo do palco. O diretor entra em cena, pede desculpas e explica que não poderão continuar. Naquele dia os alemães haviam, nas palavras de Forman, “cancelado a cultura”. Na manhã seguinte todos os teatros, cinemas e museus seriam fechados, todos os atores, músicos, artistas, pintores, bibliotecários, poetas, enfim, todos aqueles que trabalhavam com arte deveriam se apresentar às fábricas e ajudar a produzir armamentos para a vitória do Terceiro Reich.
Parece inimaginável, hoje, mas também deve ter parecido inimaginável num fim de tarde ensolarado, na Alemanha, em 1932, quando dois judeus voltavam para casa depois do trabalho, ou em Praga, na mesma tarde, quando as cantoras aqueciam a voz nos camarins, ou quando a protagonista de “O Conto da Aia” tomava um dry martini com o namorado, na cozinha, antes de seu mundo ruir. Havia nuvens carregadas no céu, “mas vai passar”, devem ter pensado, como nós pensamos naquela sexta-feira, a caminho do shopping.

































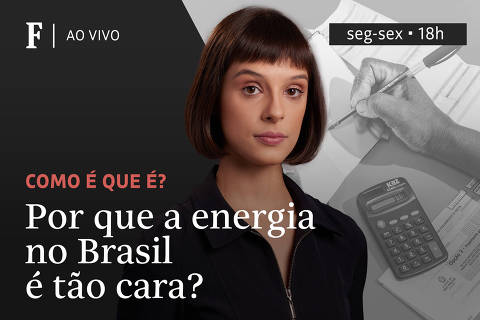

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.