Meu pai não dava a mínima para a Páscoa, mas a gente festejava o Natal. E nada de Papai Noel: cresci achando que quem trazia presentes para as crianças era o próprio bebê Jesus, “Gesú bambino”.
Os primeiros anos de minha adolescência foram minha época teológica. Por predisposição natural ou cultural, eu era um teólogo tomista: como Tomás de Aquino, acreditava na razão. Não tinha simpatia pelo papo agostiniano de “credo quia absurdum” (tenho fé justamente porque é absurdo, ou seja, não é preciso entender para acreditar —a frase é de Tertuliano, mas combina muito com Agostinho).
Meu racionalismo tomista se fortalecia na ideia seguinte: eu não teria por que respeitar uma divindade que não me dotasse da inteligência suficiente para entender seus atos e suas intenções.
Natal, para minha teologia, era uma fonte de grandes joias e perplexidades, sendo que as perplexidades também eram alegrias, porque eram ocasiões para pensar coisas complicadas e instigantes.
Eu entendia que Jesus vinha como segundo Adão, para corrigir o pecado do primeiro —embora me fosse dificílimo admitir que, ao comerem a maçã, Adão e Eva tivessem desobedecido e pecado. Afinal, ao meu redor, todos queriam que eu estudasse e investigasse a incrível complexidade do mundo. Eu achava ótimo.
Agora, como poderia Deus querer que os homens não saboreassem o fruto da árvore do bem e do mal? Se é para estudar, tem que ser sem censura, claro. Tudo bem, eu tolerava essa contradição.
Aí surgia um segundo problema. Nos primeiros livros da Bíblia, mais de uma vez é dito que os pais não serão condenados por causa dos filhos, e os filhos não serão condenados por causa dos pais, mas cada um será condenado por seus próprios pecados (por exemplo, em Deuteronômio 24:16).
Essa ideia de que cada um é responsável por seus pecados e crimes, e nunca pelos de seus próximos, parecia-me justa e certa —e, de fato, é uma ideia que o espírito moderno aceita imediatamente. Por que você iria para a cadeia se seu pai roubou ou assassinou?
Agora, nos mesmos livros, é também dito, repetidamente, que o Senhor pode punir a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira ou quarta geração (por exemplo, em Números 14:18).
Essa outra ideia, que soava muito menos justa, estava na raiz do dito pecado original: Adão e Eva fizeram uma besteira (que eu, como disse, não achava nada demais), e eis que a espécie inteira pagava o pato pelos séculos dos séculos.
Na época, eu não sabia que a doutrina do pecado original era uma invenção de Agostinho, sempre preocupado em achar razões para os filhos de Deus se sentirem culpados.
À vista do absurdo dessa culpa herdada de Adão e Eva, eu entendia que Deus, um belo dia (o Natal, justamente), mandara seu filho entre nós para acabar com a injustiça do pecado original. Jesus seria supliciado para acalmar a raiva um pouco infantil de Deus, que durava desde a desobediência de Adão e Eva.
Claro, o sacrifício de Cristo me parecia bizarro e loucamente excessivo. Além disso, eu constatava que o suplício dele tinha sido meio que em vão, porque ouvia que a gente seguia nascendo pecador (precisando do batismo para se lavar) e, mesmo batizado, era pecador por definição.
Pergunta que se impunha era: se Jesus veio lavar a lousa de vez e zerar a nossa conta, por que o pecado continuaria sendo o razão principal da relação entre Deus e os homens?
Muito, mas muito mais tarde, aprendi que, nos cinco ou seis primeiros séculos do cristianismo, se travou uma luta (até a morte, é o caso de dizer) entre os que pensavam que o homem se define como pecador culpado (proposta de Agostinho) e os que pensavam que, com o sacrifício de Cristo, acabara o pecado (não apenas o original) e que a gente podia, enfim, ser cristão sem bater o mea culpa a cada minuto (proposta dos gnósticos e de muitos outros que, aliás, foram todos silenciados).
Bom, suponho que meu pai achasse o Natal uma festa porque, para ele, significava o fim da relação culpada com um Deus raivoso e vingador. E ele gostava que, no Natal, as crianças recebessem muitos presentes para que, na relação com os adultos e com Deus, elas pudessem se sentir amadas e ser muito mais gratas do que culpadas.
Vou fazer como ele, celebrar o Natal com espírito gnóstico, na alegria. E vou entrar em férias. Retomo dia 9 de janeiro. Boas festas para todos.

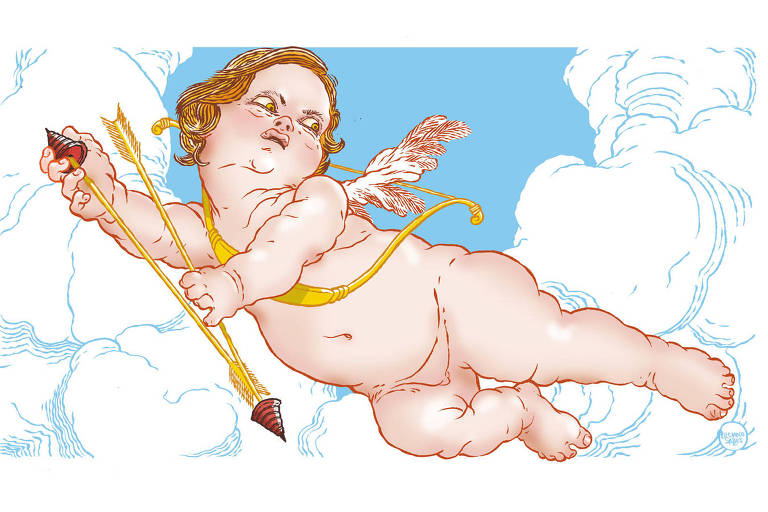

































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.