Em 2020 eu li um livro que vinha ignorando havia dez anos: "A Geração Superficial: O que a Internet Está Fazendo com Nossos Cérebros", de Nicholas Carr. Foi um dos finalistas do Prêmio Pulitzer em 2011 e é muito apreciado por pessoas que parecem odiar a internet.
Mas em 2011 eu amava a internet. Sou da geração que tem idade para se recordar de um tempo antes do ciberespaço, mas jovem o suficiente para ter crescido como nativo digital. E eu adorava minha terra nova.
As vastidões infinitas de informação, as pessoas que você conhecia como avatares mas pelas quais passava a nutrir sentimentos como humanos, a impressão de que não havia limites ao que a mente poderia alcançar. Minha vida, minha carreira e minha identidade foram construtos digitais tanto quanto físicos. Eu sentia pena daqueles que me precederam e viveram limitados por um mundo físico do qual eu estive entre os primeiros a escapar.
Uma década se passou, e minha certeza se esvaiu. A vida online ficou mais rápida, mais veloz, áspera, barulhenta. "Um pouquinho de tudo o tempo inteiro", nas palavras do humorista Bo Burnham. Smartphones levaram a internet para todo lugar, colonizando momentos que eu jamais imaginara preencher. Muitas vezes já entrei num banheiro público e vi todos simultaneamente usando o mictório e olhando para uma telinha.
As consequências coletivas foram ainda piores. A internet havia sido minha fuga do pátio do colégio, mas agora a impressão era que ela convertera o mundo inteiro num pátio do colégio. Assistir a Donald Trump tuitar até chegar à Presidência pareceu algum tipo de apoteose sinistra. Não queríamos ficar entediados –e agora nunca ficaríamos.
Assim, quando me deparei com o livro de Carr, eu estava preparado para lê-lo. E o que encontrei foi crucial: não apenas para uma teoria, mas para toda uma paisagem de teóricos da mídia do século 20 –Marshall McLuhan, Walter Ong e Neil Postman, para citar apenas alguns— que previram o que estava pela frente e tentaram nos avisar.
O argumento de Carr começou com uma observação que soou familiar:
"O próprio modo de funcionar do meu cérebro parecia estar mudando. Foi então que comecei a me preocupar com minha incapacidade de prestar atenção a uma coisa por mais que alguns minutos. A princípio, pensei que o problema fosse um sintoma da deterioração mental da meia-idade. Mas me dei conta de que meu cérebro não estava apenas à deriva.
Estava esfomeado. Estava exigindo ser alimentado como a internet o alimentava –e quanto mais era alimentado, mais faminto ficava. Mesmo quando não estava diante do meu computador, eu ansiava por checar emails, clicar sobre links, procurar alguma coisa no Google. Queria estar conectado."
Esfomeado. Foi essa a palavra que me fisgou. Era como meu cérebro também parecia. Carente. Inquieto. Houve época em que ele queria informação. Mas depois passou a querer distração. E depois disso, com as mídias sociais, validação. Uma batida constante da mesma coisa: você existe, você é visto.
A pesquisa de Carr o levou à obra de McLuhan, que hoje continua vivo em reprises de "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" e em sua máxima aforística "o meio é a mensagem". Esse ditado nunca me convenceu muito. Foi outra citação de McLuhan, tirada de seu clássico de 1964 "Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem", que calou fundo: "Nossa resposta convencional a todas as mídias, ou seja, que é como elas são usadas que conta, é a postura entorpecida do idiota tecnológico. Pois o ‘conteúdo’ de uma mídia é como o naco de carne suculenta levado pelo ladrão para distrair o cão de guarda da mente".
Nos disseram –e nos ensinaram— que as mídias são neutras e que o conteúdo é quem manda. Você não pode falar nada sobre "televisão". O que importa é se você assiste a "Kardashians" ou "Os Sopranos", "Vila Sésamo" ou "Patrulha Canina". Dizer que você lê "livros" não quer dizer nada: você devora romances escabrosos e chamativos ou livros de história da Europa no século 18? O Twitter não passa da nova praça central da cidade; se o seu feed é uma paisagem infernal cheia de indignação e brigas internas, cabe a você mesmo controlar sua experiência melhor.
Há alguma verdade nisso, é claro. Mas há menos verdade nessa ideia que em seu oposto. A visão de McLuhan é que os meios de comunicação importam mais que o conteúdo; que são as regras comuns que regem toda a criação e o consumo em uma mídia que transformam as pessoas e a sociedade. A cultura oral nos ensina a pensar de uma maneira, a cultura escrita, de outra. A televisão converteu tudo em entretenimento, e as mídias sociais nos ensinaram a pensar com a multidão.
Os argumentos de McLuhan foram levados adiante por Postman. Este foi mais moralista que McLuhan; tendia mais a lamentar o rumo seguido pela sociedade que a mapeá-lo objetivamente. Mas ele assistiu à maturação de tendências que McLuhan havia apenas pressentido. Como me disse Sean Illing, coautor de "The Paradox of Democracy", McLuhan afirma: não olhe apenas para o que está sendo expresso; olhe para os meios em que está sendo expresso. E então Postman fala: não olhe apenas para como as coisas estão sendo expressas –olhe para como as coisas que estão sendo expressas determinam o que é de fato exprimível". Em outras palavras: o meio bloqueia certas mensagens.
Em seu livro profético de 1985 "Amusing Ourselves to Death" (divertindo-nos até a morte), Postman argumentou que a distopia que devemos temer não é o totalitarismo de "1984", de George Orwell, mas a sonolência narcotizada de "Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley. A TV nos ensina a esperar que qualquer coisa e tudo deve ser divertido. Mas nem tudo deveria ser entretenimento, e a expectativa de que o seja é uma mudança social e mesmo ideológica imensa. Postman faz questão de distanciar-se dos críticos que lamentam a chamada "junk television".
"Não faço objeção ao lixo na televisão. As melhores coisas na televisão são seu lixo, e ninguém nem nada é seriamente ameaçado por isso. Além disso, não medimos uma cultura por sua produção de trivialidades declaradas, mas pelo que ela declara ser significativo. Nosso problema está justamente nisso, pois a TV está mais trivial, logo, mais perigosa, quando suas aspirações são elevadas, quando ela se retrata como portadora de discussões culturais importantes. A ironia aqui é que é isso que os intelectuais e críticos constantemente exortam a televisão a fazer. O problema dessas pessoas é que elas não levam a televisão suficientemente a sério."
Por isso Postman achava preocupantes não as sitcoms, mas os programas de jornalismo. A televisão, ele escreve, "nos presta o maior desserviço quando coopta modos de discurso sérios –jornalismo, política, ciência, educação, comércio, religião— e os converte em pacotes de entretenimento. Seríamos todos mais bem servidos se a televisão ficasse pior, não melhor."
Tudo isso soa um pouco como manifestação de mau humor ou excentricidade. No entanto, Postman fincou posição aqui: a fronteira entre o entretenimento e todo o resto estava ficando difusa, e com isso apenas os artistas de entretenimento conseguiriam atender às expectativas que tínhamos em relação aos políticos. Ele passa tempo considerável refletindo, por exemplo, sobre as pessoas que foram políticos viáveis numa era do texto mas que seriam excluídas da política por não comandarem atenção na tela.
Esse processo começou na época de Postman, com a ascensão de Ronald Reagan à Presidência, mas floresceu plenamente na nossa, com Arnold Schwarzenegger, Jesse Ventura e, é claro, Donald Trump. Por mais alarmado que Postman estivesse, nada em seu livro se aproxima da bizarrice absoluta do mundo em que vivemos hoje.
A TV-realidade é um exemplo quase exato demais do entretenimento que consome todo o resto: um gênero inteiro em que o que seduz vem do fingimento da realidade, em que a palavra "realidade" não faz mais que indicar um outro tipo de ficção.
Nos últimos dez anos a narrativa voltou-se contra o Vale do Silício. Reportagens elogiosas deram lugar a críticas difamatórias, e os visionários que inventam nosso futuro passaram a ser caracterizados como figuras maquiavélicas que enfraquecem as bases do nosso presente.
Minha frustração com essas narrativas, tanto então quanto hoje, é que elas focam pessoas e empresas, não tecnologias. Desconfio que isso seja porque a cultura americana ainda fica profundamente incomodada com críticas a tecnologias. Existe algo que é quase um sistema imunológico que nos protege contra isso: você é chamado de ludita, alarmista.
"Nesse sentido, todos os americanos somos marxistas", escreveu Postman, "porque acreditamos piamente que a história nos conduz na direção de algum paraíso preordenado e que a tecnologia é a força por trás desse movimento."
Acho que isso é verdade, mas que coexiste com uma verdade oposta: os americanos somos capitalistas e acreditamos piamente que, se uma escolha é feita livremente, isso lhe garante a presunção de ser imune à crítica. Essa é uma razão por que é difícil falar sobre como somos transformados pelas mídias que usamos. Essa conversa exige julgamentos de valor, em algum nível.
Eu estava pensando nisso recentemente quando ouvi que Jonathan Haidt, psicólogo social que vem colhendo dados sobre como as mídias digitais prejudicam os adolescentes, disse sem meias palavras. "As pessoas falam em como modificar as plataformas sociais –vamos esconder os botões de ‘curtir’, por exemplo. Bem, o Instagram tentou —mas vou dizer muito claramente: não existe jeito, jeitinho ou alteração arquitetônica que fará com que seja ok que meninas adolescentes, passando pela puberdade, postem fotos delas para serem avaliadas publicamente por desconhecidos ou outras pessoas."
O que chamou minha atenção no comentário de Haidt é quão raramente ouço qualquer argumento estruturado dessa maneira. Ele argumenta três coisas. Primeiro, que o modo como o Instagram funciona está alterando como os adolescentes pensam. Está reforçando ao extremo a necessidade deles de aprovação de sua aparência, do que dizem e do que fazem, tornando essa aprovação ao mesmo tempo sempre disponível e eternamente insuficiente.
Em segundo lugar, isso é culpa da plataforma –é uma característica intrínseca do modo como o Instagram foi projetado, não apenas de como ele é usado. E em terceiro lugar, isso é mau. Embora muitas pessoas usem o Instagram, tirem prazer disso e passem pelo corredor polonês ilesos, ainda é mau. Não devemos querer que nossos filhos sejam moldados por essa fôrma.
Ou tome-se o Twitter. O Twitter, como mídia, vai empurrando seus usuários pouco a pouco na direção de ideias que podem sobreviver sem contexto, que podem transitar legivelmente em menos de 280 caracteres. Ele incentiva uma consciência constante do que todas as outras pessoas estão discutindo. Converte o critério pelo qual se mede o sucesso de uma conversa em não a reação e resposta de outras, mas no volume de reações.
Também ele é uma fôrma. E tem impactado com força especial algumas de nossas indústrias mais poderosas: a mídia, a política e a tecnologia. São indústrias que eu conheço bem, e considero que o Twitter não as mudou para melhor nem mudou para melhor as pessoas que atuam nelas (entre as quais me incluo).
Isso é tudo menos um argumento contra a tecnologia, fosse algo assim ao menos coerente. É um argumento a favor de se levar a tecnologia tão a sério quanto ela merece ser levada; de se reconhecer que, como disse o amigo e colega de MacLuhan John Culkin, "nós moldamos nossas ferramentas, e a partir disso, elas nos moldam".
Há um otimismo encerrado nisso, na medida em que nos recorda que possuímos livre-arbítrio. E há questões colocadas, questões que deveríamos dedicar muito mais tempo e energia a tentar responder: como queremos ser moldados? Em quem queremos nos transformar?


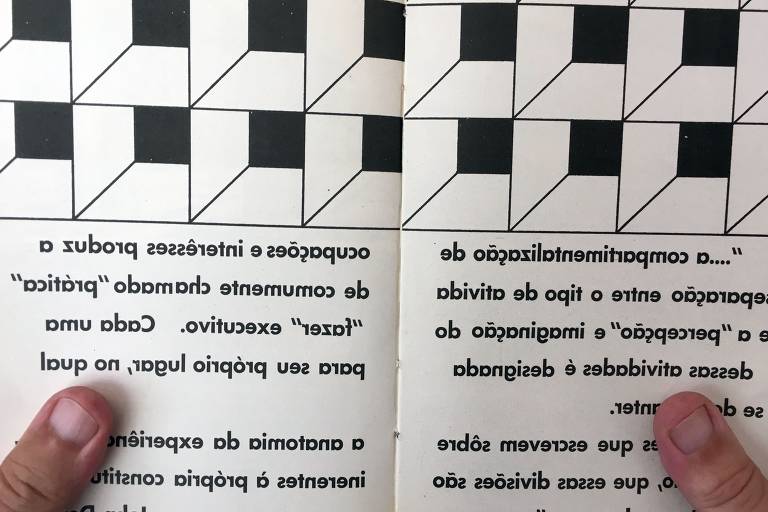





Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.