O primeiro e único show a que assisti da Madonna foi o do Maracanã, de 1993. A meio caminho andado, a Material Girl apareceu com uma camisa da seleção canarinho, arriscando umas gírias em português. A turba foi à loucura. Mas o que prometia evoluir para uma interação genuína com os nativos assumiu um tom imperialista pra lá de duvidoso.
A diva meteu um quepe de milico na cabeça, o rufar de um tambor de quartel ecoou nas caixas e uma gigantesca bandeira dos Estados Unidos foi desfraldada no fundo do cenário. O pelotão de bailarinos fardados ocupou o palco, e Gilberto Gil, em pé, atrás de mim, exclamou incrédulo: "Meu Deus, é uma invasão!".
O espanto que senti me fez lembrar de um jogo de basquete que presenciei no Madison Square Garden, dois anos antes da marcha ofensiva da Madonna. A cada dez minutos, a partida era interrompida por uma quadrilha de meninas de pompom, que rebolavam sob um pop ensurdecedor, seguidas de comerciais estereofônicos que faziam tremer a sala.
A torcida, regida pelos alto-falantes, nada tinha da espontaneidade que sempre me encantou nos embates futebolísticos. Mal se ouvia os "ohhhs" e "ahhhhs" da massa, os apupos e gritos de guerra que emergem involuntários do caos da arquibancada.
O artifício garantia o espetáculo, à moda das atuais casas de festa infantis, que torturam as crianças com a histeria das melodias bregas e dos enervantes MC's.
Dia 10 de agosto, na partida de vôlei feminino entre Brasil e Japão, no Maracanãzinho, descobri que o american way de torcer virou regra, dando cabo da humanidade nos combates.
Dois DJs comandavam os torcedores debaixo de um baticum estridente, com bordões e coreografias ensaiadas de mãozinha para cima a cada saque, cada ponto, cada reviravolta. Uma artificialidade idêntica à do exército da Madonna e à das cheerleaders do basquete nova-iorquino.
A reação dos espectadores só era ouvida nas poucas brechas, entre um "We We We Will Rock You" e uma melô do Darth Vader. A única manifestação natural audível, capaz de vencer os decibéis, era a vaia patriótica.
É de se esperar que uma nação sedenta de medalhas vaie o adversário. Mas a trilha irritante tomava partido da equipe de casa, o que deveria ser proibido pelo Comitê Olímpico.
Se eu fosse atleta, faria um abaixo-assinado exigindo a volta do silêncio atômico nas competições. Como é possível sacar ao som de um disco funk?
Os Jogos nasceram na Grécia e deveriam se manter fiéis à elegância frugal do berço do ocidente. Bolt pediu silêncio e o Engenhão respeitou, foi lindíssimo. Um estádio inteiro calado para testemunhar os 100 metros do gênio.
Na prova de trave da ginástica artística feminina, animadores desafinavam na trilha e nas piadas sem graça. Mas a medalha de ouro da verborragia é dele, Galvão Bueno, que interrompeu uma largada da natação, ganhando um "cala boca, Galvão" da BBC.
Pra que capitanear a plebe? O esporte fala por si.
A globalização das torcidas homogeneíza, militariza e argenta os povos. É tão triste quanto um McDonald's no Boulevard Saint-Germain.
Como bem disse o Bolt: Shhhhhh...









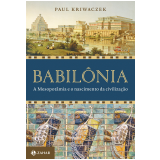

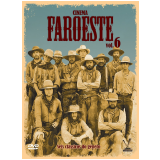



































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.