Não sou de ir a festivais de cinema: o excesso de oferta me confunde, e fico muito deslocado no meio da plateia.
Lembro-me de uma abertura em que a fila parecia composta de gente trazida do século 22, tal a modernidade das roupas, dos óculos e dos cabelos. Havia também um punhado de cinéfilos da década de 1970, com os quais também não me confundo.
Outro problema é que em geral procuro ver as coisas que servem para escrever artigo depois. Não adianta muito falar de um filme que só passou um ou dois dias em determinado festival e que depois dificilmente algum leitor haverá de ver.
Uma das poucas vantagens da quarentena é que o acesso a eventos desse tipo agora se faz online. Nada de filas e planejamentos de agenda.
Começa nesta quinta-feira o 31º Festival de Curtas Metragens de São Paulo, que dura até dia 30 de agosto. Dá para ver tudo no computador, seguindo as informações do site 2020.kinoforum.org.
Uma seção do festival se dedica ao cinema africano —território completamente desconhecido para mim.
Alguns, como “A Pele de Onagro”, de Baloji (República Democrática do Congo) são como videoclipes de rap um pouco mais longos —e o que os salva é a estranheza mágica das imagens. Noivas azuis, máscaras de plumas, estátuas de deuses pegando fogo —tudo parece muito “local” e, ao mesmo tempo, de nenhum lugar.
Essa psicodelia agressiva contrasta com a extrema pureza visual de “Um Toque de Kora”, da senegalesa Angèle Diabang. Kora é um instrumento de cordas, como uma espécie de alaúde da altura de um violoncelo. Os sons que produz são lindos; uma jovem muçulmana quer tocar o instrumento e só pode ter aulas num convento católico.
Frades negros e franceses se unem numa música que não é exagero chamar de divina. Não sei nada das contradições religiosas presentes no Senegal —mas o filme aborda-as com delicadeza, silêncio e elegância.
Voltamos a uma estética mais “comercial” no ainda assim notável “Nunca Olhe para o Sol”: trata-se de um elogio da pele negra. A filmagem, meio em estilo “fashion”, destaca algumas modelos nem tão bonitas assim, mas com um texto memorável.
Um Brasil muito negro também se afirma nesse festival. “Lugar Algum”, de Gabriel Amaral, mostra de forma convincente e nada panfletária um conflito de classe entre um trabalhador negro (o excelente Flávio Bauraqui) e seu patrão branco.
Não é bem um patrão. Sergio Siviero faz o papel de um dono de sítio, tão legal quanto eu ou você, que resolve vender suas terras a um casal de turistas franceses.
Nada de errado nisso; mas como fica o negro que trabalhava ali o tempo todo, planejando construir uma casinha e cuidando da terra como se fosse sua?
Os olhares de Flávio Bauraqui ao saber da venda do sítio valem por uma aula de sociologia. Ele reconhece os direitos do patrão. Mas deixou de cair na armadilha da cordialidade tradicional. O dono do sítio não é nenhum ricaço. Come a mesma comida do empregado, quer ajudá-lo na limpeza do mato.
Há uma “cordialidade de esquerda” em sua atitude, que não é mais o paternalismo senhorial descrito por Sérgio Buarque de Holanda em “Raízes do Brasil”; é mais uma fraternidade falsa, que se dissolve nas relações contratuais de compra e venda.
O curta de Gabriel Amaral é uma revelação; as palavras finais do empregado, ao se demitir, merecem inscrição em pedra.
A pedra, mais precisamente granito, nos leva a outro belíssimo filme do festival. Luís Felipe Labaki, em “A Maior Massa de Granito do Mundo”, nos mostra o monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret, como nunca antes tínhamos visto.
De um lado, destaca a beleza de cada escultura individual dentro do conjunto. De outro, mostra o famoso “deixa que eu empurro” no contexto de sua inauguração, reproduzindo os discursos autoritários e racistas que o saudaram em 1946.
Novamente, a abordagem crítica não é panfletária, nem se entrega ao gozo persecutório. Todo autoritarismo, de esquerda ou de direita, se baseia no prazer de tornar as coisas mais simples do que são. O velho Platão não estava errado. A verdade, a bondade e a beleza são iguais nesse aspecto: presumem que a pessoa compreenda, antes de julgar.
Os melhores filmes desse festival nos ajudam nisso; há muito a aproveitar deles, seja qual for a classe, ou a cor, de quem assiste.

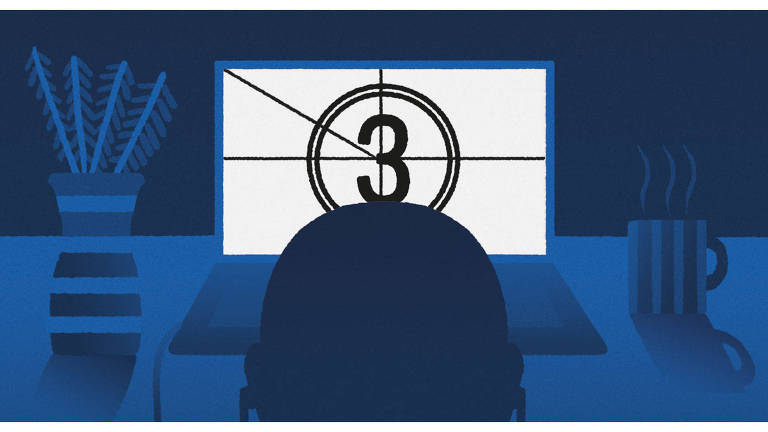






























Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.