Quando Maria Vitória chegou na vida de Daniela e Marcos Adauto Ribeiro, em maio de 2019, fazia pouco mais de um ano que o casal havia adotado o irmão dela, Davi.
A professora universitária e o engenheiro civil tinham descoberto que a mãe biológica do menino havia dado à luz e perdido a guarda da menina devido ao vício em drogas, exatamente como
acontecera com Davi.
O casal decidiu procurar a Justiça e manifestou intenção de adotar também a menina. O pedido foi aceito e Maria Vitória chegou à casa dos Ribeiro com seis meses, um a mais do que Davi tinha quando se tornou parte da família.
Apesar do vínculo biológico e da idade próxima com a qual foram adotados, as diferenças entre Davi e Vivi chamaram a atenção de Daniela.
“Ele chegou chegando”, brinca a mãe. “Sempre foi muito sorridente, tinha excelente desenvolvimento motor e o vínculo com a gente foi muito rápido. A Vivi não esboçava sorriso. Não firmava a cabecinha, não olhava as mãos, como outros bebês fazem aos seis meses. E a formação do vínculo foi bem mais difícil”.
Além das peculiaridades de personalidade, Daniela acredita que as diferenças no comportamento e no desenvolvimento inicial dos filhos se deveram, em larga medida, às formas distintas de acolhimento que receberam entre o nascimento e a adoção.
Vivi passou seus primeiros meses de vida em um abrigo, como são chamados hoje os antigos orfanatos. Embora considerado prejudicial ao desenvolvimento infantil, esse é o sistema predominante no Brasil, recebendo 96% das mais de 35 mil crianças e adolescentes sob tutela do Estado.
Davi foi morar com uma família acolhedora, regime recomendado pela ciência e pela própria legislação brasileira, mas ainda pouco conhecido e implementado no país.
Nesse modelo, enquanto aguarda solução da Justiça para seu caso, a criança é cuidada por uma família transitória, que costuma receber um subsídio, não pode estar na fila de adoção e precisa ser aprovada pelas autoridades.
“O trabalho que os abrigos fazem é louvável, mas a criança é cuidada a cada hora por uma pessoa. Não desenvolve vínculo. Isso era visível na Vivi”, afirma Daniela.
“O Davi estava numa família acolhedora maravilhosa, se sentia seguro. A transferência desse vínculo deles para a gente foi tranquila”, diz ela.
A demora brasileira em colocar a legislação em prática e permitir que mais crianças tenham o tipo de cuidado recebido por Davi pode transformar o país em caso de estudo.
Um grupo de pesquisadores estrangeiros pretende fazer em São Paulo uma pesquisa para comparar o desenvolvimento de crianças acolhidas em famílias e em abrigos.
O projeto –que ainda depende de algumas aprovações –nasceu de um contato entre a Lumos, fundação criada por J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, e Charles Nelson, neurocientista da Universidade Harvard.
Sua proposta é investigar mais profundamente a dificuldade de formação de vínculos com adultos em abrigos e suas consequências.
“Estímulos como abraços, colo, ter a mão segurada e ouvir palavras vão moldando o cérebro”, afirma Edson Amaro, médico e professor da USP.
“A criança que recebe poucos estímulos não desenvolve a percepção do afeto e, com o tempo, não reage bem ao meio ambiente”, conclui ele.
O médico também assessora o Instituto Pensi, braço da Fundação José Luiz Egydio Setúbal que está participando do desenho do projeto em São Paulo e será responsável por parte de sua execução.
Indícios do que Amaro diz eram apontados por pesquisas desde o início do século 20 e foram confirmados por estudos subsequentes, como um trabalho seminal feito na Romênia por Nelson e seus coautores, o também neurocientista Nathan Fox, da Universidade de Maryland, e o psiquiatra Charles Zeanah,
da Universidade Tulane.
Ao comparar crianças crescidas em abrigos com as cuidadas por famílias acolhedoras, pesquisadores descobriram que o primeiro grupo teve atrasos no desenvolvimento físico e cognitivo e chegou à adolescência com menos controle emocional e maior dificuldade de relacionamento.
Apesar das evidências a favor do acolhimento familiar, há questões para as quais os cientistas ainda buscam respostas mais precisas.
Uma limitação do estudo romeno é que as crianças tinham uma idade média de 22 meses quando foram escolhidas, aleatoriamente, para continuar no abrigo em que já viviam ou migrar da instituição para o acolhimento familiar.
A pesquisa mostrou que as crianças mais novas transferidas para as famílias tiveram desempenho melhor que as maiores. Mas uma dúvida é: exatamente em que momento certas barreiras ao desenvolvimento começam a surgir?
Essa pergunta está ligada ao conceito de período sensível do desenvolvimento infantil: “O período sensível é aquele em que o cérebro está com sua máxima receptividade ao ambiente”, afirmou Nelson à Folha, durante uma visita recente dos pesquisadores americanos a São Paulo.
Mas, segundo o trio de pesquisadores, mesmo em países como o Brasil –onde a infraestrutura, a limpeza e a organização dos abrigos são bem melhores do que as condições na Romênia após a queda do comunismo– o cérebro infantil é, parcialmente, ignorado no acolhimento institucional.
“A imagem que tenho dos abrigos que visitei no Brasil é de bebês deitados e um número relativamente pequeno de cuidadores por criança”, afirmou Fox. Ainda que a experiência possa compensar a falta estímulos nos períodos sensíveis, a recuperação se torna mais difícil. “As crianças que foram para o acolhimento familiar na Romênia melhoraram em todos os domínios, mas a recuperação não foi completa”, disse Zeanah.
A conclusão se baseia na comparação dos dois grupos participantes do estudo com um terceiro, composto de crianças romenas que sempre viveram com suas famílias.
A busca da neurociência por mais respostas sobre o desenvolvimento infantil motivou a Lumos a procurar Nelson, sugerindo pesquisas sobre o tema. A organização, fundada após Rowling se sentir tocada pela foto de um menino em abrigo, advoga pelo fim do acolhimento institucional.
O trio de pesquisadores aceitou a oferta de apoio e passou a buscar países que se encaixassem no que queriam investigar. “Quando reunimos estatísticas, percebemos que o Brasil tinha um problema grande. Não há uma história de acolhimento familiar aqui”, diz Nelson.
A lei é explícita desde 2009, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que completa 30 anos em 2020, foi alterado. A nova redação determinou que “a inclusão da criança ou do adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional”.
O texto acrescenta que esse período deve ser transitório, enquanto é aguardada a reintegração à família biológica ou a adoção.
A legislação também passou a ser mais precisa sobre prazos. A situação da criança precisa ser reavaliada pela Justiça a cada três meses e a solução definitiva deve ocorrer, no máximo, em um ano e meio.
As mudanças foram consideradas avanços. Porém, passada mais de uma década, apenas 1.343 das 35.797 crianças e adolescentes sob a guarda do Estado estão em acolhimento familiar, segundo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
O número, inferior a 4% do total, contrasta com países como EUA, Espanha, Austrália, Reino Unido e Irlanda, onde mais de 80% de crianças e adolescentes separados dos pais são abrigados por famílias.
No município de São Paulo, o quadro é ainda pior. Segundo o CNJ, apenas 7 das 1.170 crianças e adolescentes sob a guarda do Estado estão em acolhimento familiar.
Dados do governo federal mostram que o total de cidades que oferece o serviço passou de 272 em 2017 para 332 em 2018. O número representa 6% dos 5.570 municípios.
“O acolhimento familiar deveria ser prioridade, mas ainda é exceção”, diz Lara Naddeo, psicóloga do Instituto Fazendo História. A organização –que também apoia o projeto de Charles Nelson– é uma das poucas que realiza o acolhimento familiar na capital paulista. Seu trabalho envolve desde o recrutamento e o treinamento das famílias até a interface com a Justiça.
Embora a legislação estabeleça que o poder público estimule o acolhimento familiar “por meio de incentivos fiscais e subsídios”, isso nem sempre ocorre. Em São Paulo, só recentemente a prefeitura assinou convênios com o Fazendo História e com outras duas organizações, o Instituto Pilar e a ABBA.
“Nossa expectativa é de que, agora, o acolhimento familiar vire política pública e passe a receber investimentos”, diz Lara. Até agora, o braço de acolhimento familiar do Fazendo História foi financiado por outros serviços prestados pelo instituto.
Segundo Nelson Alda Filho, coordenador de proteção especial da prefeitura, com os convênios a gestão de Bruno Covas (PSDB) pretende fazer com que a lei seja, de fato, implementada no município.
Para facilitar o processo, o governo municipal determinou que a primeira infância (de 0 a 6 anos) seja idade prioritária para o serviço que, depois, poderá ser expandido.
Pesquisador do tema, Alda Filho diz que a resistência da sociedade em “perceber a criança como sujeito de direito” ajuda a explicar a lentidão.
Para a juíza Mônica Gonzaga Arnoni, embora haja, de fato, questões culturais em jogo, o principal empecilho tem sido a ausência de políticas públicas, o que contribui para que o tema seja cercado por desconhecimento ou tabus.
Mônica conta que, em 2015, quando respondia pela Vara Central da Infância e da Juventude de SP, o Fazendo História sugeriu um piloto de acolhimento familiar e ela relutou: “Eu havia acabado de ser mãe e pensei: imagina que vou entregar um bebê para acolhimento familiar e, depois, entregá-lo a outra família, de origem ou adotiva”. “Mas estudei o tema e vi que estava equivocada”, diz ela, que, hoje, assessora a Corregedoria Geral da Justiça.
Daniela, mãe de Vivi e Davi, diz que sua experiência pessoal também indica isso: “Ficamos amigos da família que acolheu o Davi. Nos falamos e nos vemos com frequência”.
O relato de Daniela é semelhante ao de uma família acolhedora que a Folha visitou. Os empresários Renata de Lucca e Ernany Lobo foram assistir a palestra do Instituto Fazendo História ainda sem saber bem do que se tratava, em 2017: “Ouvi que existia um lugar que aceitava voluntários que pudessem cuidar da criança enquanto a família dela era cuidada e isso me encantou”, diz Renata.
Logo no primeiro acolhimento, Renata e Ernany e seus três filhos, já adultos, receberam em casa irmãos gêmeos de menos de um mês, que estavam em um abrigo.
Segundo a família, os meninos chegaram apáticos: “Eles não choravam, não reivindicavam nada”, diz Carolina, filha caçula do casal, enquanto brinca com M., bebê que a família acolhe agora.
Os gêmeos foram adotados com seis meses. Renata e Ernany se emocionam quando lembram o momento em que viram uma foto dos meninos com a nova família.
Mas a separação não os fez desistir do acolhimento. “Pelo contrário. Sou muito ciente do meu papel. Não é nada para mim, é para ela”, diz a empresária, apontando para a bebê.
Ernany diz que o envolvimento no projeto o fez compreender melhor o que leva famílias a não poderem criar seus filhos: “A pessoa, às vezes, está na rua, drogada e, muitas vezes, isso é consequência de um processo que remonta à escravidão e passa de geração em geração, sem ser quebrado”.
A menina que hoje é cuidada pela família será adotada por um parente, primo da mãe biológica, com quem Renata e Ernany também esperam manter contato.
Segundo o juiz Sérgio Luiz Kreuz, que por 20 anos esteve à frente da Vara da Infância de Cascavel (PR), casos como o de Renata e Ernany e de Daniela foram mais regra que exceção nas centenas de processos de acolhimento que acompanhou. Assim como Campinas (SP), o município é referência nacional nesse serviço.
“O rompimento do vínculo pode ser ruim? Pode. Mas o pior é não criar vínculo, que é o que ocorre nos abrigos”, diz ele, que, hoje, auxilia a Corregedoria Geral do Paraná.
Kreuz diz que o grande número de convites que tem recebido para falar do tema passa a impressão de que o interesse está crescendo.
Ele ressalta que o serviço não é imune a problemas. “Eventualmente, há denúncias de maus tratos, mas isso também ocorre nos abrigos. O importante é investigar e corrigir os problemas”, diz ele.
No fim de janeiro, Kreuz participou de palestra em São Paulo, que também teve a presença dos três pesquisadores americanos.
O estudo que o trio pretende fazer no Brasil foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e também tem o apoio da Fundação Maria Cecília do Souto Vidigal e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas ainda precisa receber outras chancelas, tanto de autoridades no Brasil quanto de Harvard.
Os pesquisadores esperam que a perspectiva de que o projeto avance descobertas de estudos anteriores contribua para sua aprovação.
A ideia é que, em São Paulo, tanto o cuidador principal nas famílias acolhedoras quanto nos abrigos receba o mesmo treinamento para lidar com as crianças, baseado em um método desenvolvido na Holanda e adotado em países como o Reino Unido. Na Romênia, só as famílias acolhedoras tiveram orientação.
Enquanto os participantes romenos tinham, em média, 22 meses quando o projeto começou, no Brasil o objetivo será acompanhar as crianças logo após o seu nascimento. Assim como na Romênia, a evolução dos participantes será comparada à de crianças que vivem com os pais biológicos.

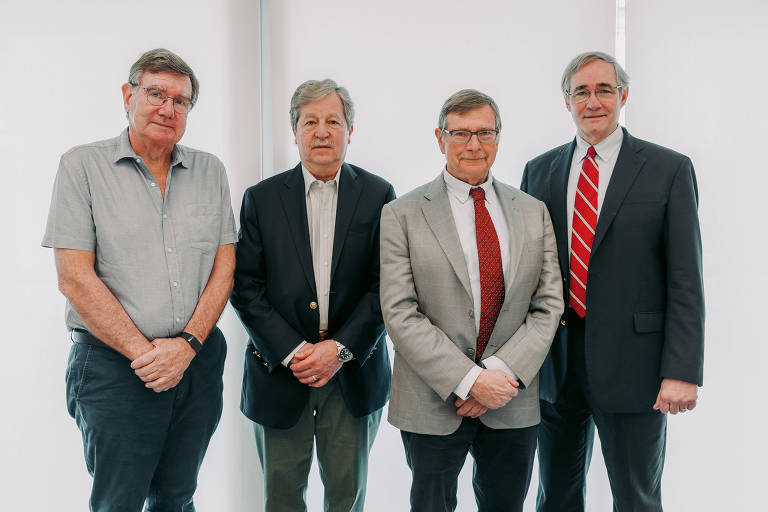

































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.