“Isso aqui é como a tronqueira do Exu. Representa o inferno. Quem entra entrou no inferno”. Essa frase foi dita por um detento do Pavilhão 4 da Casa de Detenção de São Paulo, o Presídio do Carandiru, no dia 31 de outubro de 1996, uma quinta-feira, para um documentário de televisão que nunca foi concluído.
Já haviam se passado quatro anos do massacre do Carandiru, quando 111 presos foram mortos pela Polícia Militar depois de uma tentativa de rebelião. E no dia anterior, 30 de outubro de 1996, cinco pessoas tinham morrido numa tentativa de fuga —um agente penitenciário e quatro presos, que tentaram sair da cadeia dentro de um caminhão de lixo e avançaram contra o portão, esmagando um funcionário.
Naquela ocasião, quase 8.000 homens se aglomeravam naquele que era o maior presídio da América Latina. Havia um cheiro azedo no ar, resultado do lixo acumulado e das infiltrações de esgoto. E um estado de tensão permanente, que transparecia no olhar das pessoas, tanto presos como funcionários.
Mas antes não era assim. Quando foi inaugurada, há exatos cem anos, no dia 21 de abril de 1920, a Penitenciária do Estado, que depois se transformaria em Casa de Detenção, era um presídio modelo.
Inspirado no Centre Pénitentiaire de Fresnes, da França, buscava ser uma “casa de regeneração” extremamente funcional, que devolvesse os presos em boas condições para viver em sociedade depois de cumprida a pena.
E por alguns anos foi assim. Tanto que o escritor austríaco Stefan Zweig (1881-1942), que lá esteve em visita ainda nos anos 1920, escreveu em 1936 em seu livro Encontro com homens, livros e países: “A limpeza e a higiene exemplares faziam com que o presídio se transformasse numa fábrica de trabalho. Eram os presos que faziam o pão, preparavam os medicamentos, prestavam os serviços na clínica e no hospital, plantavam legumes, lavavam a roupa, faziam pinturas e desenhos e tinham aulas”.
Em apenas 20 anos, o novo presídio atingiu sua capacidade máxima, de 1.200 presos. E nunca mais saiu da rotina de superlotação.
“No início era uma instituição modelar, representativa do estado de progresso pelo qual passava São Paulo”, diz Fernando Salla, 67, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. “Mas, ao longo do tempo, pelas tensões políticas e mudanças econômicas pelas quais passavam o país, entrou em declínio e já no final dos anos 1930 estava muito aquém das necessidades de uma cidade como São Paulo”.
Salla lembrou que, em 1951, o presídio teve a primeira fuga. Nunca mais parou de crescer e, em 1956, o então governador Janio Quadros (1917-1992) inaugurou no local a Casa de Detenção, aumentando a capacidade para 3.250 presos, menos da metade da população carcerária que teria em seus anos finais, antes de ser implodida, em 2002.
No dia 31 de outubro de 1996, durante as gravações para o documentário não concluído, presos reclamavam da superlotação e o médico Dráuzio Varella, que trabalhava como voluntário no presídio desde 1989, queixou-se da falta de remédio para tuberculose.
“Remédio para tuberculose não pode faltar”, queixou-se ao ajudante. “Aqui 90% dos pacientes do ambulatório estão com a doença”.
Em algumas celas, ou “barracos”, como diziam os presos, havia mais de 70 detentos. A maioria dormia na “praia”, isso quer dizer, no chão. O presídio passava por um surto de sarna, e a Aids contaminava 16% da população carcerária. “Isso aqui é fim de linha”, resumiu um preso da triagem, por onde entravam os recém-chegados no presídio.
A triagem ficava no Pavilhão 2. Era considerada a “favela” do Carandiru, com detentos espalhados pelo chão. Ao lado, no Pavilhão 4, ficava a área médica. No térreo os presos com tuberculose e no segundo andar os com doenças mentais. Os outros andares recebiam presos com menor periculosidade e era o lugar mais desejado do presídio porque tinha poucos detentos.
Já o Pavilhão 5 era o mais cheio. No terceiro andar ficavam isolados os estupradores, justiceiros e presos jurados de morte, que não podiam conviver com os demais. No quarto andar encontrava-se a chamada Rua das Flores, área destinada aos travestis.
No 6 ficava a cozinha, desativada desde os anos 1980, quando a comida passou a ser fornecida por empresas terceirizadas. E um cinema, que também não funcionava. No quarto e no quinto andar também existia uma área destinada a presos no “seguro”, ou seja, jurados de morte.
Pavilhão mais calmo da Casa de Detenção, o 7 recebia os presos que trabalhavam nas chamadas “atividades laboriosas”, como confecção de bolas, petecas e outros utensílios. Ao lado, no 8, moravam os presos mais antigos do presídio e, por isso, mais respeitados. Junto a este pavilhão existia o maior campo de futebol da Detenção, onde aconteciam os campeonatos.
O último pavilhão, 9, palco do massacre de 1992, abrigava réus primários que, por isso, ainda não conheciam bem as regras do presídio.
Era ali, na cela 504-E, que “morava” Sidney Sales, 52, que lá esteve preso de 1988 a 1992 e hoje administra três centros para acolhimento de moradores em situação de rua, em São Paulo. “A Casa de Detenção de São Paulo era um presídio diferente dos outros pela sua dimensão”, afirma. “Fui detido em mais de quatro presídios, mas lá na Detenção era diferente, um depósito de pessoas esquecidas”.
Sales conta que em presídios menores os detentos tinham mais facilidades para obter benefícios legais, como as “saidinhas” em datas especiais e a remição de pena . “No Carandiru eram 8.000 homens à margem do mundo”, disse. “Eu mesmo tinha um colega que morreu no massacre de 1992, que cumpria pena há 22 anos e estava com cadeia vencida há dois. Morreu porque não tinha ninguém do lado de fora para lutar pelos direitos dele”.


































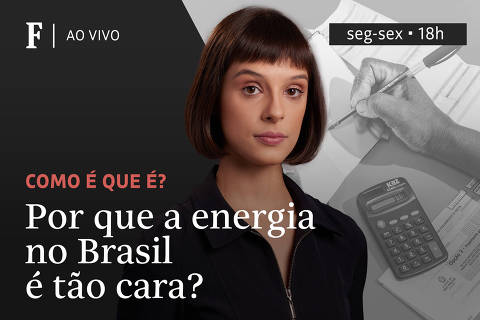

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.