Livro narra experiência de soldado brasileiro no Haiti; leia trecho
da Folha Online
| Divulgação |
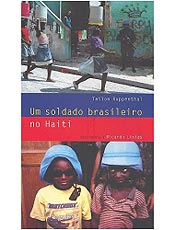 |
| Soldado brasileiro conta como foi a missão de paz no Haiti |
Em 2004, o gaúcho Tailon Ruppenthal, que na época tinha 20 anos, foi escalado para integrar a primeira tropa brasileira de soldados da United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), onde permaneceu seis meses. As memórias do militar sobre esta experiência estão no livro "Um Soldado Brasileiro no Haiti".
Na obra, Ruppenthal conta sobre a rotina de violência do Haiti e sobre o ríspido processo de formação imposto pelo Exército brasileiro. Dentre os fatos mais impressionantes narrados pelo soldado está a quantidade de corpos que encontrou pelo país. Em seu livro, ele descreveu: "o país é um necrotério a céu aberto".
Veja abaixo trecho do livro.
*
Cresci em uma família de classe média em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, Três Coroas. Entrei no Batalhão de Infantaria Motorizada de São Leopoldo mais por causa da carreira do que pela proteção econômica, até porque eu receberia um salário mais alto que o soldo trabalhando em algum comércio da região onde eu morava. Além disso, minha estrutura familiar é sólida e nunca estive exposto à criminalidade. Claro, havia certa ingenuidade na minha opção: eu jamais iria muito longe na carreira militar e, por mais que fizesse, tudo que conseguiria, depois de anos e anos de sapos engolidos, seria, no máximo, transmitir as ordens dos sargentos para os soldados e os recrutas.
Interessado em progredir, fiz inclusive um curso para cabo antes de aparecer a missão de paz no Haiti. Não sei como o comando estrutura esse tipo de curso, mas a realidade é que o tenente e os sargentos responsáveis fazem de tudo para que o recruta desista antes do final. É ridículo, violento e opressor. Algumas atividades de selva são muito puxadas (eles dizem que na guerra é assim) e outras completamente desnecessárias. Tínhamos que passar frio para provar alguma coisa (nas noites de maior desespero, os participantes do curso chegavam a dormir abraçados uns aos outros para espantar o frio - não sei se na guerra é assim), às vezes a alimentação era racionada e o tempo de descanso não passava de um período para suspirarmos. Consegui resistir com alguns outros e terminei o curso, mas minha promoção para cabo não saiu até o meu desligamento, na volta do Haiti.
De vez em quando aparecem denúncias de maus-tratos no Exército. Nunca vi nenhuma punição física, mas testemunhei uma quantidade enorme de grosserias, o que talvez indique que alguns oficiais possam mesmo exagerar, muito embora esse tipo de coisa esteja cada vez mais sob a mira do comando. O que acontece é um excesso de berros e ofensas: o recruta é obrigado a escutar tudo calado. O resultado é que, depois de algum tempo, a grosseria que recebemos se torna habitual e, muitas vezes, nem mesmo é ouvida.
O ambiente de humilhação acaba substituído por uma espécie de teatro em que uns gritam e outros fazem a sua parte, que é a de estar ali enquanto o outro grita. Não há nada de especial em dar uma ordem para um recruta: ele sabe que sua tarefa é receber essa ordem. A estrutura é estranha e gera uma espécie de endurecimento indiferente. Os melhores recrutas aprendem a deixar que qualquer coisa entre por uma orelha e saia pela outra, o que, é lógico, faz com que não exista nenhum diálogo. São esses os caras que têm mais futuro no Exército.
Depois de uma bronca, quando o cara vira, os soldados riem do sargento, por causa da barriga, da dentadura, do mau hálito ou da careca do sujeito, que com certeza faz a mesma coisa do tenente, quando sai para beber ou aprontar com outro sargento. Já entre os oficiais, não sei que tipo de sacanagem acontece, mas imagino que deva rolar muita intriga. A verdade é que grito nenhum é ouvido; ou melhor: as coisas nem são processadas direito, nós, os robôs, vamos simplesmente cumprindo a programação.
Dessa maneira, a indiferença e o endurecimento vão tomando conta da vida do recruta. Quem consegue ficar imune à violência do curso para cabo, passa. Comigo deu certo, mas confesso que não consegui ficar cego diante do Haiti. Uma coisa é passar frio de madrugada e fome por uma semana porque um oficial panaca acha que isso é importante para a sua carreira e vai te fazer um militar mais capacitado (ou um grande macho, o que, para eles, é a mesma coisa); outra bem diferente é se aproximar de um corpo jogado no chão, sentir o cheiro de carne queimada e ver que as pessoas continuam tranqüilamente andando pela calçada.
Acredito que uma das questões mais importantes é a seguinte: no quartel, você aprende que o seu papel é o de cumprir ordens e ouvi-las sem dar qualquer opinião; vai, portanto, deixando de ter vida ativa e se torna um fantoche da sua posição na hierarquia. Quando fomos submetidos à desgraça toda do Haiti, tivemos que voltar imediatamente à realidade, até porque de fato agora íamos nos confrontar com pessoas que não obedeciam à estrutura do quartel. E os corpos de pessoas queimadas vivas eram mesmo reais. Aí não é teatro. O cara sai de uma simulação grotesca e patética, em que é praticamente um robô, para mergulhar em uma miséria e um ambiente de violência extrema. O resultado é um choque gigantesco, inclusive porque a estrutura teatral (que, como eu disse, é a militar) continua. Você precisa continuar um fantoche quando a realidade lhe suga para uma desgraça indescritível.
Só volta bem de uma coisa como essa o cara que conseguiu, na vida de quartel, tornar-se um perfeito robô. Nem eu nem muitos outros soldados de que tenho notícia conseguimos ficar automatizados a esse ponto. Parece que muita gente voltou doente do Haiti, de vez em quando fico sabendo de alguma coisa.
Até hoje não me esqueço do dia em que precisei gritar para que uma senhora saísse do meio da linha de tiro. Estávamos dentro da favela de Bel-Air quando fomos surpreendidos por uma emboscada. É um negócio meio comum, você está andando e de repente vem uma chuva de tiros na sua direção.
Nós, soldados, nos protegemos imediatamente (essa era a ordem que tínhamos: primeiro nos proteger e reorganizar para só então devolver o ataque e tentar capturar o inimigo), e depois devolvemos os tiros. Já a população ao redor continuou normalmente a sua vida, inclusive andando pelo meio das balas. Às vezes, nem as crianças saíam da frente. O tiroteio rolava solto e elas continuavam brincando como se nada estivesse acontecendo.
Não há no Haiti nenhum espanto diante da violência. As pessoas assistem de camarote às balas cruzando o ar, não se incomodam se um cadáver ficar uma semana apodrecendo na calçada e contam nos dedos, sobretudo os mais pobres, o número de parentes desaparecidos. De uma hora para outra um adolescente pode se tornar um miliciano e entrar para a loucura. Tudo muito normal.
Mas cheguei a ver muito cara gritando de medo: bastava um miliciano se ferir e ficar para trás (o que não é muito comum), enquanto o bando desaparecia, que, assim que chegávamos, o cara começava a berrar de temor, implorando para não ser transportado até o hospital pela polícia haitiana. É estranho ver o medo estampado no rosto de uma pessoa. O sujeito tem certeza de que vai ser assassinado pela polícia, já que é um inimigo, e com requintes de crueldade - coisa que talvez já tenha feito com um policial -, e por isso chora desesperadamente.
No Haiti, a impressão que eu tinha é que o procedimento é muito simples: se o sujeito fosse pego pelos inimigos, na certa acabaria queimado. O ideal, portanto, era ser apanhado pelos militares da missão de paz. No entanto, nós mesmos não tínhamos autorização para prender ninguém. Desse modo, se não quisesse ser queimado, de fato o sujeito tinha que fazer tudo para não ser preso.
É essa vida alucinada, sempre no limiar do terror, que nos desperta da robotização do quartel. Só que aí nós, os ex-robôs lançados de supetão à vida, não sabíamos o que fazer.
"Um Soldado Brasileiro no Haiti"
Autor: Tailon Ruppenthal
Editora: Globo
Páginas: 162
Quanto: R$ 29,00
Onde comprar: 0800-140090 ou na Livraria da Folha