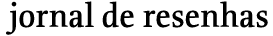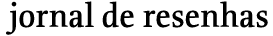|
Texto Anterior | Índice
Obra mostra importância do tráfico de escravos para nossa formação
O miolo negreiro do Brasil
ALBERTO DA COSTA E SILVA
Sempre me fascinaram os grandes retábulos, nos quais se procura dar unidade e
sentido aos gestos das figuras que se acumulam, contraditórias, entre o primeiro
plano e o horizonte. De um destes cuido:
o livro de Luiz Felipe de Alencastro, "O
Trato dos Viventes". Dirige as mãos que
ambiciosamente o fabricaram um conjunto de idéias que, ou estão a pedir para
ser reiteradas, ou são novas e instigam a
controvérsia. Nunca duvidei de que o
Brasil se formou na escravidão, o processo mais longo de nossa história, e de que
não nos podemos compreender sem estudar a África, de onde compramos o
grosso de nossos antepassados. Em Alencastro, vejo mais: que o tráfico negreiro
conduziu nossa economia e que a formação brasileira se fez num sistema de exploração colonial unificado, que compreendia, num lado do oceano, enclaves
de produção fundada no trabalho escravo e, no outro, áreas nas quais se reproduzia a mão-de-obra servil. Fecha-se o livro convicto de que não se pode entender
o que se passava no Brasil sem se saber
como ia Angola, e vice-versa, e de que as
histórias dos dois países compõem, por
três séculos, uma só história.
O tema do livro é a junção atlântica entre Angola e o que Alencastro chama
"miolo negreiro do Brasil", tendo por
principais portos Luanda e Rio de Janeiro. Houve evidente intenção de fazer um
retábulo de um só painel. Algum leitor teria pedido um políptico e se alegraria em
ver à tábua central acrescentarem-se abas
-uma dedicada à Costa do Ouro, onde,
ao findar o Seiscentos, os acãs passaram
de compradores a vendedores de escravos, em troca de ouro brasileiro; outra, à
Costa, que já se chamava dos Escravos, e
onde o tabaco baiano se tornava moeda;
outra, ao tráfico mais antigo de todos, do
Senegal e dos Rios da Guiné; outra, ao
Gabão e aos reinos vilis, ao norte da foz
do Zaire, com portos que competiam
com Luanda-, mas não era isso o que o
nosso autor queria nos oferecer. O que
queria mostrar-nos é como o Brasil se
formou fora do Brasil, no Atlântico, costurado em ponto miúdo a Angola.
Abas do políptico
Não deixa ele de esboçar algumas das
imagens que conteriam as abas do políptico. E, sobre as costas das meias-portas
que, fechadas, cobririam o painel, traça o
grande arco lusitano entre o Japão e Lisboa, com suas trocas de mercadorias,
gentes e costumes. Apesar das convocações de Gilberto Freyre, ainda está por se
fazer o estudo do influxo da Índia sobre o
Brasil, estudo que talvez venha a nos revelar que, se as águas do Zaire, Cuanza,
Níger, Ogun e Gâmbia entram pelos rios
brasileiros, o Índico chega às nossas
praias. Sei que Moçambique serviu de
traço-de-união entre Goa e o Brasil, mas
tenho dificuldade em acompanhar Alencastro quando escreve que os negreiros
brasileiros operaram, na primeira metade do século 19, a atlantização de Moçambique. Não seria com 250 mil escravos, no
período de 50 anos, que o fariam. Antes e
depois, as trocas mercantis e culturais de
Moçambique davam-se quase todas no
Índico, de cujas praias fazia parte. Embora infiltrado pelos europeus, aquele oceano, com uma atividade mercantil antiquíssima, rotas de navegação regulares e
centros comerciais prósperos, servidos
por eficientes sistemas de crédito e elevadíssimo número de navios, ainda estava,
nos séculos 16 e 17, longe de se render e
integrar na economia-mundo.
Tampouco a África capitulou com facilidade. Alencastro acentua as peculiaridades do reino de Angola, como chamavam os portugueses aos seus domínios na
hinterlândia da cidade de Luanda e nos
rios Bengo e Cuanza. Fora deles, e até defronte, na ilha de Luanda, mandavam os
africanos. O reino de Angola era um dentre vários, ainda que o mais poderoso.
Mas de poder relativo, como mostra o ter
demorado 50 anos para vencer o "mani
cassanze", um régulo que controlava a
área logo ao norte de Luanda. O enclave
português expandia-se com dificuldade.
Da maioria de suas campanhas militares
não resultavam o controle de novos territórios ou vassalagens duradouras. Devemos ler com cautela, nos portugueses, as
referências a reis vassalos: muitos destes
se viam a si próprios como tendo Luanda
por aliada. Assim sucedia provavelmente
com aquele Angola Ari, rei do Dongo, a
quem Luanda tinha por títere, mas que,
na sua luta contra a rainha Jinga, usava os
portugueses como estes o usavam.
O cenário de Alencastro é esta Angola
no sentido estrito. Ainda que, num dos
seus apêndices, ele escreva que utiliza a
palavra na acepção extensa, a englobar
toda a atual República de Angola, na realidade só o faz ao proceder à contagem
dos escravos embarcados para o Brasil. E
age assim com razão, pois o Seiscentos se
findou sem que os portugueses lograssem submeter os reinos quiçamas e libolos, controlar o comércio de Soyo ou monopolizar as compras de cativos em Matamba e Caçanje, cujos soberanos entrariam no século 17 tão fortalecidos que aumentaram os preços da escravaria. Já os
reinos de Loango, Cacongo e Angoio, ao
norte da foz do Zaire, ainda que negociassem com Luanda, pertenciam a uma outra zona comercial, controlada pelos vilis,
que traziam do interior o marfim, os panos de ráfia e os escravos que ofereciam
em seus portos. Qual no resto da África,
onde os europeus não só tinham de se valer das redes comerciais dos "uângaras",
acanes, hauçás e "ichis", mas também de
negociar com reis que monopolizavam as
transações externas.
Rotas de comercialização
Em Luanda, como mostra Alencastro, a
prática negreira era diferente. Os que ali
se instalaram, a sonhar com minas de
prata, não se deixaram ficar na dependência de mercadores africanos. Saíram
atrás dos escravos, de armas na mão. Sem
deixar de os comprar, e até de muito longe, nos "pumbos" do Macoco e além
Cuango. Possivelmente aproveitaram e
desenvolveram rotas e esquemas de comercialização existentes antes da chegada dos portugueses, mas Alencastro, se
nos abre o apetite sobre os pombeiros,
nos deixa sem saber se, desde o início, entre eles já predominavam os mulatos e os
negros, e como atuavam, e como se esgalhava o seu sistema de intermediação e
crédito, e como se organizavam as caravanas.
Em Luanda, os portugueses urdiram
um modo adicional de conseguir escravos, quase sem custos, ao inverter uma
instituição ambunda. Entre os ambundos, costumava-se pôr o estrangeiro sob
os cuidados de um dignitário, a quem os
portugueses chamaram "amo". Esse
"amo" atuava como mediador entre a comunidade e o forasteiro, ajudando-o a
adaptar-se ao novo ambiente. Em contrapartida, o hóspede acatava o "amo" e lhe
dava preferência no agenciamento das
trocas comerciais. Por ser do costume, os
portugueses não tiveram dificuldade em
aplicar esse sistema aos chefes africanos
que a eles se submetiam ou aliavam. Esses chefes não demoraram em perceber
que o "amo" português não lhes prestava
qualquer serviço e se comportava como
senhor, deles exigindo tributo em trabalho, bens e, sobretudo, escravos, que tinham de conseguir por compra, sequestro ou gázua.
Pela minha leitura, o sistema transformara-se numa relação de dependência
pessoal entre um chefe ambundo e um
português, fosse este governador, soldado ou jesuíta. O primeiro não cedia lugar
ao segundo no comando dos seus, e, só
excepcionalmente e se africanizando, um
português controlaria uma póvoa africana. Não tinha o sistema de "amos" o mesmo molde dos aldeamentos ameríndios,
e encontro dificuldade em visualizar,
com Alencastro, jesuítas "aboletados na
chefia de sobados". Este ou aquele terá
convertido um régulo e o influenciado no
exercício do mando, mas conversão e tutela foram contadíssimas exceções. Creio,
aliás, que a minha leitura reforça o argumento de Alencastro de que o falhanço
da evangelização em Angola fundamentou, entre os jesuítas, a tese, justificadora
do tráfico negreiro, de que só se retirando
o africano da África era possível convertê-lo. Como quer que tenha sido, a instituição dos "amos" não existiu fora das
bordas do reino de Angola.
Tenho também por distinto dos aldeamentos e do sistema de "amos" o prazo
da Zambézia. Este se originou nos "moganos", ou doações de terras e seus habitantes feitas pelo monomotapa, o rei dos
xonas carangas, aos súditos que lhe prestavam serviços relevantes, tipo de recompensa que estendeu aos portugueses que
o acompanhavam em suas guerras. Na
metade do Quinhentos, os europeus
aquinhoados pelo monomotapa passaram a requerer da Coroa lusitana que os
confirmassem no gozo das terras. Mas
continuaram a pagar tributo ao rei xona e
a dever-lhe assistência. Alguns procuraram furtar-se à vassalagem, no que se
comportavam como os aristocratas locais, sempre prontos a se rebelar. Mas, só
após 1632, quando recolocaram Mazura
no zimbaué real, foi que os prazeiros passaram a controlar o monomotapa. Por
apenas três décadas, contudo, pois um
novo rei, Mucombué, voltou a se impor
como suserano de muitos dos prazeiros,
chegando a recuperar parte das terras
dantes cedidas aos portugueses. Nos séculos 16 e 17, o prazo foi, portanto, uma
instituição ao mesmo tempo africana e
européia. Para os xonas, um "mogano";
para os portugueses, um aforamento.
Papel dos aliados
Mais de uma vez, Alencastro lamenta
que os portugueses, ao relatar suas vitórias, não destaquem o papel dos aliados
africanos. Só o fazem no caso dos jagas
-ou, como prefiro, imbangalas, para
evitar a confusão com os jagas que invadiram o reino do Congo, em 1568, e que
não eram, crê-se, a mesma gente. Apesar
da queixa, o africano, quer escravo na
América, quer homem livre na África,
não aparece em "Trato dos Viventes" como o co-construtor, que foi, do mundo
atlântico. Porque, interessado sobretudo
em demonstrar a unidade da empreitada
colonial lusitana no Atlântico Sul, Alencastro só teve lugar, na frente do retábulo,
para missionários, militares, mercadores
e funcionários do rei de Portugal, para
"os do Brasil", os reinóis e o colonato angolano. Por isso também, na parte do cenário correspondente à África, quase tudo se passa em Luanda e em sua órbita,
como se Luanda atuasse num vazio de
poder, como se não tivesse por vizinhos e
próximos não só a monarquia conguesa e
um Soyo que dela se separava, mas também os reinos de Libolo, Matamba, Caçanje e Macoco e os estados dembos, quiçamas, ovimbundos, lundas e cubas. No
entanto, eram esses reinos os principais
fornecedores e clientes dos navios que
ancoravam em Luanda.
Alencastro ressalta, como já fizera Pierre Verger em relação ao golfo do Benim,
que entre o Brasil e Angola não prevaleceu o comércio triangular considerado
característico do tráfico de escravos, mas
sim, o bilateral, entre Luanda e os portos
brasileiros. Embora não tivesse predominado, esse modelo triangular não deixou
de existir nos negócios entre o Brasil e
Angola, assim como a sua preponderância nas Caraíbas não excluiu as viagens
diretas entre Havana, Boston e os portos
da África. Antes que a cachaça, o tabaco,
os búzios e o ouro brasileiros se tornassem indispensáveis nos conjuntos de
mercadorias com que se adquiriam escravos, houve até uma estrutura de comércio que, na falta de melhor palavra,
chamo de poligonal, pois, ainda que a farinha de mandioca tivesse tido o papel
para o qual nos chama a atenção inovadoramente Alencastro, pagavam-se as
compras na África não apenas com produtos europeus e panaria de Cabo Verde
e contas de Ifé, mas também com algodões da Índia, sedas da China, cauris das
Maldivas e lãs do Magrebe, transbordados ou não em Lisboa, Rio de Janeiro e
Salvador.
O que não falta em "Trato dos Viventes" é matéria de reflexão e debate. Termina-se a leitura altamente estimulado e
recompensado, mas não sem desejar que
seu autor se tivesse estendido sobre várias afirmações que ficaram sem discussão adequada -ele sabe, por exemplo,
que a situação do mulato na África nunca
foi tão simples como nos conta-, ou por
marginais ao seu enredo, ou por serem,
sobretudo, provocações. Ele poderia, porém, responder-nos, com Camões, que
sua canção já ia longa e que, por mais que
fizesse, não caberia "a água do mar em
tão pequeno vaso".
O Trato dos Viventes - Formação do Brasil no Atlântico Sul
Luiz Felipe de Alencastro
Cia. das Letras
(Tel. 0/xx/11/3846-0801)
525 págs., R$ 36,00
Alberto da Costa e Silva é autor de "A Enxada e a
Lança - A África antes dos Portugueses" (Nova
Fronteira).
Texto Anterior: Mary Del Priore: Mistérios da multiplicação
Índice
|