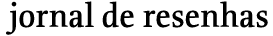


São Paulo, sábado, 10 de novembro de 2001
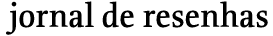 |
 |
|
Texto Anterior | Índice
O vôo do equilibrista
A morte segundo o sociólogo Norbert Elias A Solidão dos Moribundos Norbert Elias Tradução: Plínio Dentzien Jorge Zahar (Tel.0/xx/21/2240-0226) 112 págs., R$ 15,00 HELOISA PONTES Vivida quase sempre como uma experiência devastadora para aqueles que sobrevivem à perda de uma pessoa querida, a morte é um problema dos vivos. E não dos menores. Tematizada nos mitos, encenada nos ritos, pranteada em espaços privados, alardeada ou escondida nas esferas públicas, a morte, como tema, acompanha a história da literatura e do teatro ocidental. Familiar, nem por isso menos terrível, ela ganha uma interpretação inesperada nas mãos de Norbert Elias. Atento aos processos psicológicos que conformam a ambivalência de sentimentos diante da morte (culpa, raiva, dor e medo, misturados e muitas vezes recalcados) e sem perder de vista a sua conexão com outros domínios da experiência social, Elias dá um baile sociológico em "A Solidão dos Moribundos". Transita com desenvoltura por períodos de longa duração, mobiliza fontes variadas, mostra como os significados distintos assumidos pela morte são inseparáveis das tramas da sociabilidade, dos estoques simbólicos e dos aparatos discursivos usados para falar dela (e, ao mesmo tempo, lidar com aqueles, os muito velhos, que não respondem mais pelos seus desejos corporais). Como tudo isso muda ao longo da história em razão de processos sociais concretos, Elias aproveita para demolir explicações essencialistas e dar um basta em discursos universalistas fundados numa presumida e invariável natureza humana. Rigor e paixão O livro é daqueles que se lêem com o coração na boca, não só pelo assunto, mas sobretudo pela maneira de o autor conduzi-lo. Sobriedade e rigor conceitual se mesclam ao tratamento apaixonado que dá ao tema e à sua maneira de dissecá-lo, como se nesse ensaio viesse à tona o médico em potencial que ele poderia ter sido se, no lugar de concluir o curso de medicina (iniciado em 1918, em Breslau), não tivesse enveredado também pela filosofia e ciências sociais. Daí a serenidade desencantada com que ele encerra o ensaio: "A morte não tem segredos. Não abre portas. É o fim de uma pessoa. O que sobrevive é o que ela ou ele deram às outras pessoas, o que permanece nas memórias alheias". Seguro da importância da sua obra, à qual dedicara uma vida inteira de trabalho -por meio de uma disciplina intelectual de tipo monástico-, Elias parecia não ter dúvidas de que sobreviveria na memória alheia como um dos maiores sociólogos do século 20. Longe de ser uma idéia abstrata, a morte, para ele, era uma realidade presente: judeu alemão, filho único, cujos pais foram mortos durante a Segunda Guerra. Aos 85 anos, em plena posse de suas capacidades intelectuais quando escreveu esse ensaio, Elias experimentava, porém, as dificuldades do envelhecimento. E, se delas soube tirar partido, no sentido de dar a essa experiência uma compreensão alargada, nem por isso passou imune ao estranhamento e ao desconforto produzidos pelo sentimento de não identificação que os jovens e os de meia-idade tendem a ter com os velhos. Nunca na história da humanidade a perspectiva de vida foi tão longa, mas, em contrapartida, em nenhum outro momento as pessoas resistiram tanto como hoje à idéia do próprio envelhecimento e a tudo que a ele se associa em termos corporais. Quando jovem, Elias também experimentou esse sentimento e dele se deu conta ao assistir a uma conferência de um físico famoso em Cambridge. Incomodado e surpreso com o esforço para caminhar do conferencista, Elias se flagrou pensando: por que ele, no lugar de arrastar os pés, "não anda como um ser humano normal"?. A crueldade da indagação, prontamente reconhecida (e recalcada) por ele, seria muitos anos depois convertida em objeto de reflexão, em parte como "resposta" às reações desencadeadas nos outros, não pela debilidade do seu corpo, mas pela desenvoltura que reconheciam nele. Vários de seus conhecidos, ao saberem que ele, octogenário, nadava com regularidade, gentilmente lhe diziam: "Mas, que maravilha, nesta idade, e você ainda nada!". O tumulto de emoções contraditórias que esse tipo de observação causava em Elias, em vez de arrefecer sua confiança, empurrou-o para enfrentá-las de frente. Isso, porém, não o impediu de se sentir como um equilibrista, ao testemunhar nos olhos dos seus conhecidos a dúvida de que ele pudesse "alcançar a escada na outra ponta e voltar ao chão no momento oportuno". Referindo-se a si mesmo na terceira pessoa, Elias observava: "As pessoas que assistem a isso de baixo sabem que ele pode cair a qualquer momento e o contemplam excitadas e a um só tempo assustadas". Que ele tenha lançado mão da imagem do equilibrista -esse personagem circense que mais se aproxima na imaginação infantil do homem-pássaro- para falar dos limites inelutáveis impostos ao corpo pelo envelhecimento dá bem o tom pungente e desconcertante com que enfrenta o tema da morte e da solidão dos moribundos. Não pela via do memorialismo, mas pelas lentes certeiras da sua poderosa visada sociológica. Modelos teóricos "Por fim a morte pálida com a sua mão gelada/ Com o tempo acariciará teus seios;/ O belo coral dos teus lábios empalidecerá (...)/ Só teu coração todo tempo durará/ Porque de diamante o fez a Natureza." Lidos fora de contexto, esses trechos de poema talvez fossem apreendidos como expressão de desejos mórbidos e perversos, como metáfora de mau gosto para falar do amor não correspondido, ou, ainda, como uma maneira escrachada de tratar um assunto que nos dias de hoje ganha cada vez mais um tom sóbrio e asséptico. O fato de acrescentarmos o título ("Transitoriedade da Beleza"), a autoria (Christian von Hofmannswaldau) e a data (século 17) em que foi escrito, se ajuda a localizá-lo na trama discursiva em que foi gestado, não nos leva muito longe se insistirmos em lê-lo na chave mais tradicional da história literária. Como mostra Elias, o tema desse poema, recorrente na poesia barroca, é tudo menos uma invenção individual. Ao mesmo tempo em que informa sobre os jogos amorosos da época, fornece pistas para entendermos os significados que a morte recebia nas sociedades cortesãs. Mas, a menos que atentemos para as mudanças estruturais sofridas pelas sociedades ocidentais nos últimos 500 anos, correlatas às transformações que se produziram na estrutura dos nossos sentimentos, ficaremos no escuro como intérpretes do passado. "Interpretações arbitrárias serão a norma e conclusões erradas, a regra", sentencia o autor. O fato de que gerações anteriores falassem mais abertamente da morte, da sepultura, da decomposição dos cadáveres expressa antes uma sensibilidade diversa da nossa e não um interesse mórbido pelo assunto, tampouco um momento em que o passado foi melhor que o presente. Contrapondo-se a essa visão romântica da história, Elias lança sua munição sociológica com o propósito de sacudir a autocomplacência de certos historiadores, demasiadamente apegados à uma historiografia descritiva. Sem a construção de modelos teóricos consistentes, avisa o autor, ficaremos a léguas de distância do universo simbólico e das relações sociais que enredavam e davam sentido à vida (e à morte) dos homens e das mulheres em épocas passadas. Seu alvo visa a um interlocutor preciso: Philippe Ariès, autor de "História da Morte no Ocidente". Além de selecionar os fatos a partir de uma opinião preconcebida (de forma a transmitir a sua suposição de que as pessoas, antigamente, morriam serenas e calmas), Ariès não se pergunta sobre a lógica social e simbólica inscrita nas fontes pesquisadas. Por isso não atina com o fato de que os épicos medievais, por exemplo, são idealizações da vida cortesã, que dizem mais sobre o que o poeta e seu público julgavam que deveria ser a realidade, do que sobre o que de fato acontecia. A advertência de Elias, longe de repor uma falsa dicotomia entre o "real" e as "representações", é um tiro certeiro para derrubá-la. A morte, seus significados e o tratamento recebido pelos moribundos são parte de um problema mais geral que tem a ver, de um lado, com a estrutura específica de interdependência dos grupos e dos indivíduos situados em formações sociais concretas, de outro, com o tipo particular de circulação de constrangimento a que estão expostos. Eis aí o grande achado e a maior contribuição analítica de Elias. Se no século 17 é possível falar da morte em geral, e da amada em particular, nos termos do poema citado acima, é porque nessa época outras eram as formas de se portar à mesa, de lidar com as funções corporais, com os cheiros e a sexualidade, de se comportar em relação aos outros, os superiores, os inferiores, os mais próximos, de expressar e controlar os sentimentos. Outras eram a conexões entre as elites e o povo, diversas também as dinâmicas sociais que culminaram na formação dos Estados nacionais, no crescente monopólio do uso da violência por parte deles, na relativa pacificação interna das sociedades e, para fechar o quadro, no aumento da expectativa de vida dos indivíduos, concomitante à solidão dos moribundos e à dificuldade crescente de lidarmos com eles. Um acontecimento amorfo Assim como ocorreu com outras esferas do comportamento, a morte foi paulatinamente privatizada e empurrada para os bastidores da vida social. Prova disso é a maneira desajeitada com que falamos (quando falamos) sobre ela e manifestamos os nossos sentimentos de pesar para os amigos e conhecidos que perderam uma pessoa querida. O esvaziamento progressivo de sentido das fórmulas tradicionais, o medo de perdermos o autocontrole diante de emoções avassaladoras, o acirramento do individualismo e da sensação de que as sociedades contemporâneas são compostas por mônadas, fechadas em si mesmas e assentadas num mundo meio fantasmático de indivíduos auto-suficientes, tudo isso se relaciona com a maneira como lidamos com a morte e com os moribundos. No presente, segundo Elias, apenas "as rotinas institucionalizadas dos hospitais dão alguma estruturação social para a situação de morrer", que virou um acontecimento amorfo, "uma área vazia no mapa social". No século 17 até os poetas falavam com desembaraço da putrefação dos cadáveres. Hoje, mesmo os jardineiros dos cemitérios evitam "qualquer coisa que possa lembrar a conexão entre sepultura e morte". Nesse contexto específico de avanço dos patamares de embaraço e repugnância, de controle e autocontrole, até mesmo a palavra "morte" tende a ser substituída por outras mais alusivas. Para contornar a sensibilidade extremada da filha, conheço um pai que adotou o termo "desabitar" para se referir ao momento em que ele não estará mais aqui, no mundo dos vivos. Nunca como hoje as "pessoas morreram tão silenciosamente e em condições tão propícias à solidão", afirma Elias. Longe de uma nostalgia do passado, uma referência clara aos dilemas e conflitos enfrentados pelos vivos e pelos moribundos nas ditas sociedades desenvolvidas, distintos daqueles vividos em outros tipos de formações sociais. Lá as relações são tudo, menos harmoniosas, como mostra Elias. "Frequentemente apresentam maior desigualdade de poder entre homens e mulheres e entre jovens e velhos. Seus membros podem amar-se ou odiar-se, talvez as duas coisas ao mesmo tempo. (Mas) não há neutralidade emocional no quadro da família extensa. De certa maneira, isso ajuda os moribundos. Despedem-se do mundo publicamente, num círculo de pessoas cuja maioria tem grande valor emocional para os moribundos, e para os quais estes têm o mesmo valor. Morrem menos higienicamente, mas não sós". Afinado com a idéia de que a sociedade é um conjunto de relações, Elias faz com a morte e a solidão dos moribundos o mesmo que fez com a corte, a etiqueta, as lutas de poder na Alemanha, as relações de vizinhança numa cidade industrial inglesa, a biografia de Mozart e tantos outros objetos contemplados ao longo da sua carreira. Dá a eles a complexidade analítica que merecem. Para tanto, lança mão da perspectiva comparativa como forma de circunscrever diferenças e apreender similitudes, esquadrinha os nexos que entrelaçam as dimensões micro e macro-sociológicas e, de lambuja, revela a um só tempo a insuficiência dessas fronteiras e a importância decisiva da dimensão simbólica na análise dos processos sociais. A vista do contraste aguça a sua capacidade de pensar. Heloisa Pontes é professora de antropologia na Unicamp e autora, entre outros, de "Destinos Mistos - Os Críticos do Grupo Clima em São Paulo, 1940-68" (Companhia das Letras). Texto Anterior: Luciano Trigo: Aceitação e evasão Índice |
|
|