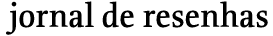|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
Obra analisa os vários significados da metalinguagem na história do cinema
O cinema no espelho
YANET AGUILERA
"O cinema tinha apenas seis
anos e já olhava para si mesmo"
-eis o que Ana Lúcia Andrade
descobriu em sua cuidadosa pesquisa sobre os diversos significados da metalinguagem na história
do cinema. Mas, sustenta a autora, ele nem sempre se olhou do
mesmo modo e com o mesmo fim
e, por isso, é preciso identificar várias etapas nessa história.
Dos primórdios até fins dos
anos 30, a auto-referência estaria
a serviço de uma espécie de iniciação do espectador no novo código
que surgia. Os filmes desse período criariam, assim, mecanismos
metalinguísticos que facilitavam
o reconhecimento e a identificação do espectador. Um exemplo
típico é a comédia muda "The
Countryman and the Cinematograph" (1901), de Robert W. Paul,
cujo enredo trata comicamente
das diversas reações que o protagonista experimenta em sua primeira seção de cinema.
A maturidade de "Kane"
Na década de 40, a auto-referência é vinculada ao começo do autoquestionamento do cinema.
"Cidadão Kane", de Orson Welles, é um primeiro sinal de "maturidade": as diversas versões do
enredo e o uso original da defasagem entre som e imagem seriam
indícios de uma crítica à pretensa
objetividade da narrativa linear e
clássica até então vigente.
Nos anos 50, a metalinguagem
seria usada para manifestar a crise
do cinema com o surgimento da
televisão. "Crepúsculo dos Deuses", de Billy Wilder, formularia
um juízo do cinema sobre sua
própria história. Ao sarcasmo inicial -o filme é narrado por um
roteirista morto-, acrescente-se
uma crítica aguda e amarga à
vampirização da indústria cinematográfica: Gloria Swanson,
Erich von Stroheim, Buster Keaton e outros são na realidade
aquilo que representam -estrelas decadentes do cinema mudo.
Embora o trabalho de Wilder
seja o primeiro no qual o espectador começa a entender, pelo código, que está assistindo um filme-, é "Janela Indiscreta", de
Hitchcock, que fornecerá os elementos para que um público mais
"atento" se detenha "na própria
estruturação da narrativa". A
imobilidade do fotógrafo-protagonista, a sua técnica investigativa
que leva a mudanças de foco são
consideradas metáforas ou duplicações do espectador e dos elementos da elaboração do filme. A
partir daqui, o cinema mergulharia realmente num processo de
compreensão de seu próprio código.
A intertextualidade
Nos anos 60, assim, a metalinguagem se voltaria para o desvelamento da própria realização cinematográfica. "Quando Paris Alucina", de Richard Quine, por
exemplo, chega a "explicar" didaticamente alguns recursos técnicos (a passagem da tela escura para a imagem e vice-versa). Além
disso, esse filme explora mais sistematicamente as chamadas citações "intertextuais" e várias referência são feitas a outros trabalhos dos dois atores principais,
William Holden e Audrey Hepburn.
"Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos", de Pedro Almodóvar, do final dos anos 80, marcaria uma nova etapa da metalinguagem. A novidade agora é que a
intertextualidade é usada para referir-se ao pressuposto mais importante do ritual cinematográfico: a identificação emocional do
espectador. A protagonista chora
e se emociona ao dublar trechos
de "Johnny Guitar", de Nicholas
Ray, com os quais se identifica
por serem a duplicação de sua
própria história. Além disso, as citações não se reduzem a alguma
cenas, pois sequências inteiras são
retomadas e refeitas ironicamente. Segundo Ana Lúcia Andrade,
pode-se dizer que Almodóvar vai
além de uma homenagem corriqueira ao cinema, passando a celebrar o próprio código cinematográfico.
Finalmente, nos anos 90, quando os esquemas estão todos montados e conhecidos, a metalinguagem, já convertida em citação intertextual, transforma-se em estratégia narrativa. "O Jogador",
de Robert Altman, é um dos
exemplos onde as "estruturas
desgastadas" são "reaproveitadas" eficazmente. O personagem
principal do filme, um produtor,
esvazia a história do roteirista que
pretendia reproduzir a vida real, e
o faz apenas por uma questão de
apelo mercadológico: além de introduzir um "happy end", dá os
papéis a estrelas que garantam o
retorno financeiro.
É o velho tema do confronto entre a visão autoral do cinema e os
esquemas da grande indústria.
Entretanto, o uso de grandes ícones do mercado cinematográfico
-Julia Roberts, Bruce Willis etc.,
que emprestam ao filme as imagens que a indústria construiu para eles-, é para a autora uma nova maneira de criticar os padrões
do cinema hollywoodiano. Isso
significa que a metalinguagem já
se consolidou como releitura crítica do código cinematográfico.
O Filme Dentro do Filme - A Metalinguagem no Cinema
Ana Lúcia Andrade
Editora UFMG
(Tel. 0/xx/31/499-4650)
200 págs., R$ 19,00
|
O crítico e o ingênuo
Para simplificar, pode-se dizer
que Ana Lúcia Andrade trabalha
com a hipótese de uma mudança
fundamental na prática da metalinguagem na história do cinema,
o que dá a seu livro um esquema
cronológico evolutivo.
Primeiramente, tal prática duplicaria elementos que a autora
considera externos à linguagem
cinematográfica e que apenas ajudariam a reforçar esquemas acríticos de identificação: apresentar
a platéia como personagem, visualizar as filas de entrada, encenar elementos que desdobram o
enredo etc., como é muito comum no início do século.
Em seguida, a metalinguagem
adquire o estatuto de uma verdadeira reflexão, ajudando a criar
uma maior "autoconsciência" no
cinema, visto que este estaria se
ocupando agora com o que tem
de mais específico: seu código linguístico.
Fazendo uma analogia com as
noções de leitor ingênuo e crítico
segundo Umberto Eco, a autora
sustenta que, no primeiro caso, o
cinema formaria o "espectador
ingênuo", capaz apenas de compreender o enredo e a temática do
filme e, no segundo, o espectador
crítico, que sabe reconhecer as estruturas linguísticas do cinema.
A postura metodológica que valoriza o "especificamente cinematográfico" leva Ana Lúcia Andrade a privilegiar o segundo momento em prejuízo do primeiro.
Entretanto, duas questões talvez
mereçam ser consideradas. Em
primeiro lugar, será mesmo que
não existiam reflexões sobre o código cinematográfico já no período mudo? Estou pensando em alguns momentos de "O Homem
da Câmera", de Buster Keaton,
nos quais a câmera aparece como
algo análogo ora ao realejo, ora à
metralhadora. Será que um exemplo como esse não nos obrigaria a
questionar a suposta evolução
que o livro sustenta na prática da
metalinguagem ao longo da história do cinema?
Além disso, é de se perguntar se
Ana Lúcia Andrade tem razão ao
pretender que a história, o tema (e
até o próprio espectador...) não
fazem parte do especificamente
cinematográfico. Tanto a resposta
não é tão simples assim, que as
melhores análises da autora são
aquelas que vinculam tema e código linguístico, principalmente
quando consegue se desembaraçar da visão meio simplista que
confunde análise temática com
abordagem autobiográfica (caso
das leituras de "Oito e Meio", de
Fellini, "A Noite Americana", de
Truffaut, e "O Estado das Coisas",
de Wim Wenders).
Yanet Aguilera é pós-graduanda no departamento de filosofia da USP.
Texto Anterior: Janice Theodoro: Chinesices do Brasil
Próximo Texto: Ricardo Fabbrini: A retenção do tempo
Índice
|