O cronista não está em cima da montanha, dizia Antonio Candido em um célebre ensaio sobre o gênero literário, mas aqui perto de nós —ao rés do chão.
O crítico de literatura, morto no ano passado, oferecia outras reflexões: a crônica ajuda a reestabelecer a dimensão das coisas e pessoas; pega o miúdo e mostra sua beleza, grandeza e singularidade insuspeitas; é amiga da verdade e da poesia em suas formas diretas e fantásticas.
Ligada de forma íntima à história da imprensa, não é feita para durar —e, no dia seguinte, lá está ela está forrando a gaiola do passarinho. Mas dura. “O que não teme perder-se acaba por se salvar”, escreveu Candido.
Prova dessa máxima é “Quase Antologia”, uma reunião das crônicas que Carlos Heitor Cony publicou na Folha entre 2005 e 2017, até quase a véspera de sua morte, em janeiro deste ano.
O livro chega agora às livrarias pelo Três Estrelas, selo editorial da Folha. A organização é do escritor e tradutor Bernardo Ajzenberg, que também foi ombudsman e secretário de Redação do jornal.
Ser editada em livro é o último teste para saber se a crônica sobreviveu para além do noticiário. No caso de Cony, mesmo quando o leitor tem apenas uma vaga lembrança ou esqueceu a quais notícias um ou outro texto faz referência, é possível desfrutá-las.
Poucos escritores se dedicaram à crônica —em tempo e quantidade— como Cony, que praticou o gênero por mais de cinco décadas, quase ininterruptas.
“Pelas minhas contas, nenhum cronista brasileiro —Machado de Assis, Olavo Bilac, Rubem Braga, Fernando Sabino, ninguém— trabalhou tanto quanto Carlos Heitor Cony. E isso abrange mais de 150 anos de jornalismo”, escreve Ruy Castro, colunista do jornal e amigo do autor, na orelha da edição.
Para se ter uma ideia do tamanho dessa produção, só no período coberto pelo livro, Cony publicou mais de 1.700 crônicas na Folha —em “Quase Antologia”, entraram quase 230 delas.
Ele tinha começado cedo, em 1962, se revezando com Octavio de Faria na coluna “Da Arte de Falar Mal”, no Correio da Manhã —depois de 1964, naquele jornal, suas colunas se tornariam um espaço de críticas ao regime militar que se instalava no país.
Mais tarde, escreveu na revista Manchete, a convite de Adolpho Bloch, onde ficou por décadas —e então na Folha, a partir de 1993. Dessa forma, os textos que aparecem agora em “Quase Antologia” são os últimos de Cony.
Há uma particularidade nessa produção derradeira. O cronista, ao longo da história, é também um flanêur —e seus textos estão impregnados pela observação da rua.
Já o período recortado em “Quase Antologia” traz um Cony que passa a maior parte do tempo em seu apartamento na lagoa Rodrigo de Freitas olhando o mundo lá fora.
Em 2001, o autor havia descoberto um câncer linfático e, com a quimioterapia, ficou com a mobilidade prejudicada. O que surge no livro, por assim dizer, é uma crônica escrita da varanda.
Não à toa, um assunto que surge a todo tempo nesse período é a observação do movimento dos barcos a vela que deslizam sobre a água.
“Parecem formiguinhas levando imensas folhas secas para baixo da terra, fazendo provisões de alimento para o inverno que se aproxima”, escreve Cony em um dos textos.
Cronistas, para usar uma expressão de Nelson Rodrigues, podem ser flores de obsessão —não à toa, costumam repetir os seus temas.
Cony também cultivava, além dos barquinhos a vela, as suas fixações. Tinha fascínio, por exemplo, pelas Guerras Púnicas —conflito entre Roma e Cartago, de 264 a.C a 146 a.C, pelo controle sobre o mar Mediterrâneo.
Em 2010, ele alertava que, apesar de ter um espaço na mídia para falar do que quisesse, nunca tinha conseguido emplacar nada sobre o assunto —o que era uma bravata, é claro, como prova a própria crônica sobre o conflito.
“É evidente que ninguém perdeu nada com isso. Quem perdeu e quem está chorando sou eu”, escreveu.
Voltam aqui e ali os temas da morte, referências religiosas —o autor era ateu, mas, na juventude, foi seminarista—, a mistura de referências culturais populares e eruditas e por aí vai.
Outra mania de Cony: dizer que não gostava e não entendia bulhufas de política e que preferia os assuntos miúdos.
É verdade que ele escreveu muito sobre esses temas —que, afinal, diferenciam o cronista do comentarista político—, mas os assuntos do poder aparecem bastante em seus textos.
Sua veia crítica, aliás, era ampla e democrática: sobrava tanto para Lula e Dilma quanto para Fernando Henrique Cardoso e José Serra.
O que, no caso, não devia ser novidade —quando, nos anos 1960, começou a disparar petardos contra a ditadura, Cony não tinha um histórico de militância de esquerda.
Não é que fosse um cronista político de oposição, mas se definia como “anarquista inofensivo e triste” —por isso, mostra ceticismo grande em relação a qualquer governo.
No espaço exíguo do jornal, Cony também levou ao extremo a habilidade de escrever muito com menos palavras.
Para se ter uma ideia, as crônicas do Correio da Manhã, reunidas em “O Ato e o Fato”, ocupam em média duas páginas. Em “Quase Antologia”, não costumam passar de 1.700 caracteres e mal chegam a preencher uma folha.
Niilismo é marcante do começo ao fim do livro, diz organizador da edição
Para o escritor e tradutor Bernardo Ajzenberg, que organizou “Quase Antologia” a partir de um material bruto de mais de 1.700 crônicas, o elemento que une os textos é o niilismo.
“Não dá para defini-lo seriamente como um anarquista. É um anarquista entre aspas. Ele é mais um niilista em relação à vida, à política ou mesmo à cultura. O niilismo é marcante do começo ao fim [do
livro]”, afirma Ajzenberg.
A partir do material bruto, o organizador chegou a 429 textos e, então, aos quase 230 presentes no livro.
Outro elemento que marca todas as crônicas, afirma, é uma certa “nonchalance” —aquele ar relaxado, sem ansiedade ou entusiasmo, de quem está jogando conversa fora.
Um dos critérios, é claro, foi selecionar as crônicas que sobreviveram ao teste do tempo. A ideia é que elas sejam compreendidas sem a necessidade de dezenas de notas de rodapé —que são, como sabemos, o arame farpado da leitura.
Os temas que Ajzenberg escolheu são muitos, mas ele tentou equilibrá-los. Há a política, naturalmente, mas também perfis culturais, textos sobre esportes e também comentários históricos.
O Rio de Janeiro, espaço onde a crônica nacional surgiu e se aclimatou a um estilo brasileiro, também é o assunto de várias delas —e é como se Cony escolhesse de forma consciente dialogar com essa tradição, que remonta a nomes como José de Alencar e Olavo Bilac.
“Era importante dar conta de todos esses temas. Uma coisa legal é que o Cony está perto e está longe ao mesmo tempo. Ele está na Lagoa [no Rio] e falando das Guerras Púnicas, saltando de uma coisa para outra com facilidade. É saboroso”, diz Ajzenberg.
O organizado lembra ainda que, como de 2005 a 2017 Cony já estava em idade mais avançada e, por isso, escrevendo dentro de casa, por vezes o autor assumia um tom de confissão em relação a seus limites —como em textos em que fala da falta de assunto, tema clássico da crônica.
A morte, por exemplo, é um tema recorrente —para falar da eutanásia ou sobre a própria morte. Em uma delas, por exemplo, Cony escreve: “Se eu morrer amanhã, não levarei saudade de Donald Trump. Também não levarei saudade da Operação Lava Jato nem do mensalão. Não levarei saudade dos programas do Ratinho, do Chaves, do Big Brother em geral”.


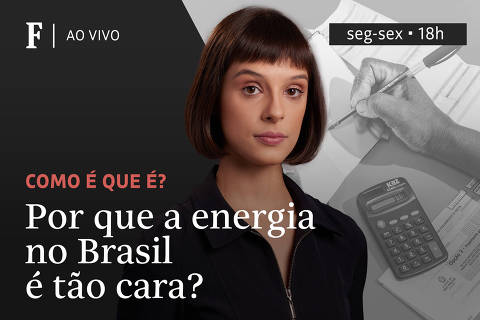

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.