Na entrada dos anos 1980, um escritor podia passar incógnito pela faculdade de letras da USP. Os trabalhos pediam outro tipo de escrita, explica José Miguel Wisnik, então professor. “Mas não é toda hora que você encontra uma Marilene Felinto na vida. E ela estava ali.”
Leu seu primeiro romance, “As Mulheres de Tijucopapo”, sobre uma jovem, Rísia, que sai de São Paulo para a cidade onde a mãe nasceu. Escreveu a orelha e apresentou a autora à filósofa Marilena Chauí, que prefaciou. “Tive a oportunidade de dizer que aquela aluna era escritora e tinha um extraordinário romance de estreia”, diz Wisnik. “Um texto muito forte, muito próprio.”
Premiada com o Jabuti, Felinto escreveu outros, como “O Lago Encantado de Grongonzo”, e atuou no jornalismo por duas décadas, inclusive na Folha, a partir de 1990.
Amiga do diretor de Redação e dramaturgo Otavio Frias Filho (1957-2018), rompeu com ele e o jornal em 2002, após ser questionada por uma coluna sobre Lula e ter a sua periodicidade reduzida de semanal para quinzenal.
Ela relembra o episódio num ensaio que escreveu sobre a morte de Otavio, em “Autobiografia de uma Escrita de Ficção”, um dos livros que está publicando agora com recursos próprios, a ser lançado na 17ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip.
“Mulheres” também está de volta, com nota lembrando a trajetória do livro pelas editoras Paz e Terra, 34 e Record. “Eu brigo muito, minha tresloucada personalidade me faz brigar”, diz ela, rindo. “Não me arrependo de nada.”
Por que você está saindo com os livros em edição própria? Chegou a procurar o mercado editorial? Não. Cansei um pouco disso, desse mercado. Nunca ganhei muito, nunca ganhei nada, na verdade, financeiramente, com os livros.
Nem das editoras? Principalmente quando estava nas editoras. Cansei disso, de não ter controle sobre essa situação. Tive muitos conflitos. Você tem de participar do jogo, e não sou pessoa que aceita o estado de coisas, então sou meio maldita, sempre fui.
Na nota à nova edição de “Mulheres”, você diz estar distante da feira de vaidades travestida de cultura. Isso já estava no romance, um desencanto com “São Paulo, a rica”. São como ilusões perdidas, em relação ao mercado editorial e à cultura em São Paulo? Tem um pouco das duas coisas. Antes de entrar na imprensa eu só tinha publicado dois livros, fui uma espécie de invenção do Otavio. A minha vivência no mundo cultural se misturou com a imprensa. Para mim, foi ruim, porque a sua literatura não tem nada a ver com aquilo. Então, ilusões perdidas eu tenho em vários aspectos.
Mas essa decepção minha com o mercado editorial não é coisa nova. Entrevistei o Paulo Freire pouco antes de ele morrer, para a Folha até, e ele reclamou muito de como não tinha controle sobre os livros publicados lá fora, que não tinha ganho nada. Fiquei chocada. Paulo Freire reclamando do mercado editorial.
Deve ser dos brasileiros mais vendidos no mundo. Exato. Precisa mudar. Acho que a máquina editorial brasileira e mundial está mudando bastante neste momento. Eu estou vivendo um pouco isso.
Em “Autobiografia”, você fala que suas publicações se tornaram menos literatura e mais ensaio e jornalismo. Falo isso em relação à minha ficção em geral. Agora é que estou voltando. Não parei de escrever ficção, simplesmente parei de publicar, nesses últimos 15 anos da minha vida.
Você cita jornalismo como atividade que praticou entre 1989 e 2010 e que hoje vê como “expressão em língua morta”. Jornalista por 21 anos, você também não sente atração por essa língua morta? Não me atrai, não. Acho que sou resultado dessa confusão de que falei. Era uma jovem saindo da universidade e fui convidada para trabalhar num jornal. Nunca soube se gostava ou não. Sofria muito com a exposição, porque é muito assédio, muito poder. Ao mesmo tempo, a literatura não tinha nada a ver com aquilo. Você escreve entre quatro paredes. É uma atividade esquisita, que não serve para nada.
“Autobiografia” traz um texto sobre Otavio em que você fala da “tristeza profunda por sua ausência definitiva”. A gente não se viu por 15 anos. Eu não sabia que ele estava doente. Quando soube, foi um choque. Quem me ligou foi o Chico [o advogado Luís Francisco Carvalho Filho, amigo de Otavio], no dia em que ele morreu. Quando saí da Folha, num rompimento forte com o Otavio, me afastei também das pessoas, então não tinha contato. Como digo no texto, é uma perda. Era um cara interessantíssimo, talentosíssimo.
Apesar de todo o problema na minha saída, com o Otavio, com a guinada à direita da Folha, eu sempre o respeitei e tenho certeza de que ele sempre me respeitou. Mas nenhum dos dois tentou se reaproximar. Ele faz muita falta, principalmente hoje. O Otavio tinha essa esquizofrenia nele, eu sei que ele peitaria o que está acontecendo.
Você cita o psicanalista britânico Donald Winnicott, dizendo que é no brincar da criança que se tem a liberdade de criação. E conta como você passou a escrever para resistir, com a mudança de cidade. Você olha a infância com nostalgia? E por que Winnicott? Ele é genial. Não sei se é nostalgia, mas tenho porque perdi aquele universo físico, que era a minha terra, ali foi a infância. E para mim brincar era uma estratégia de sobrevivência. Meus pais tinham um casamento péssimo. Era muita violência, miséria, fome. Precisava brincar ou enlouquecia.Só depois eu fui fazer a relação entre brincar na infância e escrever literatura. É a mesma estratégia de sobrevivência. Winnicott fala disso, de como a criança que brinca cria um mundo. Brincar foi tão importante quanto, depois, escrever aí umas histórias.
Graciliano Ramos também usa cenas da infância. Quais são os pontos de ligação? Por exemplo, você escreve que ele fala, sobre “Vidas Secas”: “Fiz o livrinho, sem paisagens, sem diálogos. E sem amor”. É realisticamente cruel. Você se identifica? Eu me identifico com ele, com o universo, principalmente nordestino. Adoraria ter pontos de ligação, [risos] que a minha literatura tivesse. Acho que não tem. O texto dele é enxuto. Essa crueldade que você diz é um pouco dessa elaboração do texto como coisa seca. Por mais que eu goste de Guimarães Rosa, Clarice Lispector, ele é meu escritor preferido. É um excelente escritor, não chego nem aos pés disso aí, não tem nem como.
Em “Mulheres”, Rísia fala sobre “esse ódio todo que me atrapalha”. Abrindo a nota, você fala em “minha tresloucada personalidade”. Você acha que essa tresloucada personalidade atrapalha? Nem atrapalha nem acrescenta. Eu estou velha já, né, não adianta dizerem para mim: “Mas você precisa da imprensa”. Não preciso, não estou relançando livros meus com a expectativa de ganhar dinheiro. Isso que você falou do ódio...
Estou forçando relação entre um personagem e você. Nem se incomode com isso. Esse personagem sou eu mesma, não tem como. Não sou uma pessoa fácil. Para as pessoas fáceis, eu sou difícil, e tem muita gente fácil, parece. Eu reconheço isso, tenho meus problemas, sou de uma classe social e uma raça que sofrem muito. Apesar de até hoje ter conseguido sobreviver e superar “n” condições, financeiras, de histórico familiar, de raça e classe, não sou pessoa que aceita as coisas como elas existem. Como é, sempre, aqui neste país. Eu brigo muito. Minha tresloucada personalidade me faz brigar.
Mas eu conheço gente que briga mais. Não me arrependo de nada do que fiz. Dificulta um pouco em termos de relações pessoais, talvez, o que também não faz tanta falta. Você perde ali e ganha aqui, vai vivendo no mundo.
Você vai à Flip. O que a levou a aceitar? Aceitei esse convite por causa de onde ele veio,
como ele foi feito pela Fernanda [Diamant, curadora do evento e viúva de Otavio], que eu não conhecia. Achei que era o Otavio mexendo os pauzinhos dele lá, me convocando. Fiquei tocada com o desprendimento da Fernanda, a atitude desarmada dela.
Nunca tinha ido a essa Flip, não sei o que é. Vincularam a minha participação a duas oficinas pré-Flip, para alunos de escola pública. Falei sobre um aspecto de “Os Sertões” que me chama a atenção.
Qual? É o discurso de racismo veiculado por Euclides da Cunha no livro. Que os brancos são raça superior, e os negros e mestiços, inferior. Descreve cruamente o que ele pensava e o que se pensava na época. Como sou mestiça do litoral, sou detonada ali e não posso ler sem me ofender. Então a minha fala lá
para os meninos causou um frisson. “Como? E por que é que chamaram esse cara para ser homenageado?” Aí a Fernanda teve que ir na frente falar, eu defendi também.
Claro que é um livro excepcional. Demora, mas tem uma denúncia contra aquele sertão abandonado, aquela miséria. É um puta livro, um dos grandes livros que tentaram interpretar este país. Mas racista, em última instância.
Marilene Felinto, 61, nasceu no Recife, em 1957, e vive em São Paulo desde 1968. Em 1982, publicou seu primeiro romance, ‘As Mulheres de Tijucopapo’. Publicou também, entre outros, ‘Postcard’ (Iluminuras, 1992) e ‘Mulheres Negras’ (n-1, 2017). Foi colunista da Folha e da revista Caros Amigos. Está lançando ‘Autobiografia de uma Escrita de Ficção’, ‘Contos Reunidos’, ‘Fama e Infâmia’ e ‘Sinfonia de Contos de Infância’, todos em edições da autora




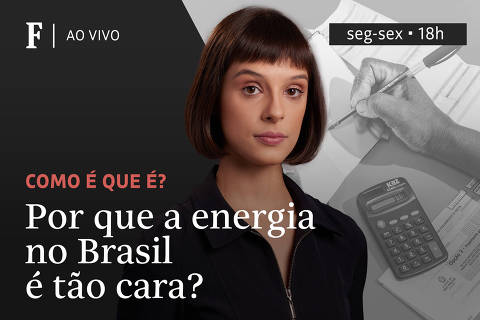

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.