Donald Trump é um presidente antiliterário. Fica claro que o sujeito não lê, se excetuarmos briefings altamente diluídos e tuítes. Falta a ele um elemento essencial de que a literatura necessita –a empatia.
A eleição de Joe Biden e Kamala Harris sinaliza um retorno à empatia, em 2021. Mas a empatia é só uma emoção, e jamais a deveríamos confundir com uma ação. O calor humano de Barack Obama não reorientou o mundo na direção da justiça, ainda que muitos de nós assim desejassem. De qualquer forma, o mundo literário abraçou o presidente. Foi preciso que Trump surgisse a fim de o despertar para a política.
Muitos escritores, como eu, enviaram mensagens de texto a eleitores, doaram dinheiro a causas ativistas, se envolveram em disputas amargas nas redes sociais e escreveram artigos de opinião nos quais criticavam o governo Trump. O fervor político que eles demonstraram me impressionou. Mas se esses escritores recuarem àquilo que costumavam ser antes de Trump, as lições desta era não terão sido aprendidas, de maneira alguma.
A literatura americana tem um relacionamento problemático com a política. A corrente dominante —poesia e ficção escritas por pessoas brancas de nível educacional elevado, e regulada por um aparato de resenha, publicação e controle de acesso, em geral branco e privilegiado— tende a ser apolítica. A maioria dos literatos americanos associa a política na literatura ao realismo socialista, propaganda e aos demais supostos males da literatura comunista e socialista, sem perceber os aspectos galvanizadores de escritores politizados como Aimé Césaire, Richard Wright e Gloria Anzaldúa.
E, quando a indústria editorial dominante deseja ser política, seu foco se volta a livros de não ficção sobre assuntos como eleições, recordações reveladoras escritas por pessoas dotadas de acesso privilegiado e memórias presidenciais. Outros alvos políticos aceitáveis para os interesses liberais brancos são o meio ambiente, a causa vegana e a educação.
Mas Trump destruiu a capacidade dos escritores brancos de se aterem ao apolítico. Todos tiveram de fazer uma escolha, especialmente diante da pandemia e da morte de George Floyd, duas coisas que expuseram dolorosamente os custos fatais do racismo sistêmico e da desigualdade econômica.
Será que, em 2021, os escritores, especialmente os brancos, exalarão um profundo suspiro de alívio e recuarão à política da literatura apolítica, ou seja, recuarão ao privilégio branco?
A política explícita foi em geral deixada aos marginalizados, na poesia e ficção americanas –escritores não brancos, queer, transgênero, feministas, anticolonialistas.
Que diversos prêmios literários importantes tenham sido destinados a essas categorias de escritores, nos últimos anos, indica duas coisas –primeiro que eles estão escrevendo alguns dos trabalhos mais persuasivos da literatura americana, e segundo que prêmios literários funcionam como reparações simbólicas, num país que ainda não é capaz de reparações reais.
É mais fácil dar a Charles Yu um National Book Award por “Interior Chinatown”, uma crítica hilariante e feroz da representação racista que Hollywood oferece sobre os americanos de origem asiática, do que transformar Hollywood na prática.
Também é mais fácil para o setor editorial oferecer prêmios aos escritores marginalizados do que alterar suas práticas de seleção. James Baldwin escreveu em 1953 que “o mundo deixou de ser branco, e jamais voltará a ser”, mas a indústria editorial, cujas equipes são formadas em 85% por brancos e cujos catálogos de ficção são dominados em 95% por títulos de escritores brancos, continua a ser muito branca.
Será que, na era Biden, a indústria editorial fará mais do que se sentir mal a respeito disso e assumirá o compromisso de contratar um grupo mais diverso de editores e estagiários, criando um caminho para o desenvolvimento de lideranças mais diversas no futuro?
A “diversidade” mesma —a menos que possa ocorrer em todos os níveis da indústria, e a menos que traga mudanças significativas nas práticas estéticas— é uma forma bastante vazia de política. Essa é uma das grandes críticas à presidência de Barack Obama. Apesar de toda a culpa que possa ser atribuída à intransigência republicana, Obama operou com grande moderação e promoveu mudanças mínimas no completo industrial-militar, em vez de o transformar.
Que boa parte do mundo literário tenha se disposto a dar aos ataques com drones e às políticas de deportação de Obama o benefício da dúvida, em parte por ele ser um presidente tão literário e tão repleto de empatia, indica em alguma medida o quanto o liberalismo e o multiculturalismo são ocos.
A empatia, a assinatura emocional de ambos, é perfeitamente compatível com matar pessoas no exterior —muitas das quais inocentes— e com manter o apoio a um sistema policial e carcerário que persegue desproporcionalmente os negros, os indígenas e outras pessoas não brancas e pobres. O que os anos Obama provaram é que um presidente pode ao mesmo tempo gostar de promover ataques com drones no exterior e de manter uma lista de leituras multicultural.
E, quanto a isso, os escritores marginalizados que contam histórias sobre populações marginalizadas não merecem desculpa. Um exemplo é a literatura imigrante. Durante os xenófobos anos Trump, quando imigrantes e refugiados foram demonizados, a simples defesa dos imigrantes se tornou uma causa política elogiável.
Mas grande parte da literatura imigrante, embora chame a atenção para as dificuldades raciais, culturais e econômicas que os imigrantes enfrentam, também afirma, em última análise, um sonho americano que em determinados momentos é elevado e afirmador, e em outros é uma máscara para as iniquidades estruturais de um estado colonial de ocupação (ou povoamento).
A maioria dos americanos nunca ouviu falar de colonialismo de ocupação, e muito menos encontrou a expressão em uso como descrição de seu país. Isso é porque os americanos preferem chamar o colonialismo de ocupação de “sonho americano”.
Parte grande da literatura imigrante e multicultural hesita em arrancar a máscara. Mas a politização dessas populações gera uma ameaça à nação branca que Trump representa.
A política de identidade branca sempre foi dominante no país, mas, enquanto se manteve ascendente e não enfrentou ameaças, ela jamais se caracterizou como explicitamente branca.
Era simplesmente normativa, e a maioria dos escritores brancos (e das pessoas brancas) jamais questionou a normatividade da brancura. Mas a marcha longa e incompleta em direção à igualdade racial, de 1865 para cá, erodiu lentamente o domínio branco, com a ruptura mais significativa acontecendo durante a guerra do Vietnã.
Escritores não só protestaram contra a guerra como escreveram contra ela. Entre os escritores brancos americanos, poetas como Robert Lowell foram os primeiros a protestar, em companhia de escritores de prosa como Susan Sontag e Norman Mailer.
Depois da guerra, porém, a politização dos escritores brancos se esvaiu, ainda que a politização dos escritores não brancos prosseguisse. Por volta da década de 1980, as energias políticas dos escritores não brancos se concentravam naquilo que hoje conhecemos como política de identidade e multiculturalismo —na demanda por listas de leitura, currículos e prêmios literários mais inclusivos.
A contraofensiva que surgiu contra esses esforços resultou nas “guerras culturais”, com os defensores do cânone ocidental —branco— argumentando que o multiculturalismo erodia as fundações da cultura americana.
Os multiculturalistas em geral saíram vitoriosos dessa disputa, mas Trump representou a continuação do contra-ataque conservador. Trump claramente desejava fazer com que os Estados Unidos recuassem à década de 1950, ou talvez possivelmente a 1882, o ano da Lei de Exclusão de Chineses.
O que ele tentou fazer na política e na economia também tentou fazer na cultura, com sua Ordem Executiva Sobre o Combate a Estereótipos Raciais e Sexuais, que proibia as agências federais e qualquer organização que receba verbas federais de mencionar questões sobre privilégio branco ou prover treinamento sobre diversidade, equidade e inclusão.
A “teoria crítica da raça” se tornou alvo de ira especial, por parte de Trump. Ele intuiu corretamente que iluminar a brancura representa uma ameaça para aqueles, tanto conservadores quanto liberais, que sempre repousaram confortavelmente sobre sua brancura inquestionada, um ponto que a poeta Claudia Rankine afirma vigorosamente em seu livro “Just Us”, de 2020.
Jess Row defende argumento semelhante em seu recente livro de ensaios, "White Flights: Race, Fiction, and the American Imagination”, em que ele mostra a profundidade das raízes brancas na literatura americana e demonstra que ela pode ser traçada diretamente aos pecados fundadores da nação —conquista, genocídio e escravidão.
O discurso de Louise Glück ao receber o prêmio Nobel de literatura de 2020 ilustra sucintamente o argumento de Row. Ela falou sobre poemas que foram importantes para ela quando criança, mas que também são descrições problemáticas de servidão negra e da vida nas plantações, uma questão que Glück simplesmente desconsidera.
A chamada literatura de gênero se saiu melhor que a chamada ficção literária e a poesia, quando o assunto são trabalhos críticos e políticos que questionam o predomínio branco e expõem os legados do colonialismo. Os escritores mais espertos de literatura policial, por exemplo, são muitas vezes políticos, porque sabem que um crime individual é uma manifestação de uma sociedade que cometeu crimes generalizados.
Alguns exemplos recentes. Don Winslow, em sua trilogia de romances sobre a guerra contra as drogas, que culmina em “The Border”, vincula diretamente a guerra contra as drogas aos conflitos militares de que os Estados Unidos participaram ou que o país permitiu, do Vietnã à Guatemala. Steph Cha, em “Your House Will Pay”, aborda os distúrbios raciais em Los Angeles por meio de um romance de mistério cujo foco é um homicídio e as relações entre negros e coreanos, e não as relações entre os dois grupos e a estrutura branca de poder que os põe em conflito.
Attica Locke, em “Heaven, My Home”, leva adiante as aventuras de Darren Matthews, um Texas Ranger negro que investiga crimes criados pelo caldeirão de racismo e desejo dos Estados Unidos.
Os quatro últimos anos foram marcados por trabalhos fortes de poesia política como “Whereas”, de Layli Long Soldier, que confronta o tratamento dos Estados Unidos aos povos indígenas, no passado e no presente, e “Look” de Solmaz Sharif, que extrai seu vocabulário de um dicionário militar americano, a fim de confrontar a máquina de guerra tecnológica do país.
A incapacidade dos escritores e dos liberais americanos de encarar essa máquina de guerra, especialmente quando comandada por presidentes democratas, é testemunho de que a insurgência literária contra a Guerra do Vietnã não deixou muitas marcas.
Além dos escritores comerciais, são principalmente escritores veteranos de guerra, como Elliot Ackerman, Matt Gallagher e Phil Klay, que trataram da guerra permanente. Isso acontece porque a maioria dos americanos vive isolada da máquina de guerra e prefere não pensar em sua implicação nela.
Para os povos nativos, no entanto, a história das Forças Armadas americanas é onipresente. Natalie Diaz, em “Postcolonial Love Poem”, propõe a questão de se os Estados Unidos são de fato pós-coloniais, e também, se o são, em benefício de quem. Talvez o sejam para os brancos, que prefeririam esquecer o colonialismo, mas não para os povos nativos, que ainda o enfrentam.
Assim, o que 2021 trará no mundo literário? Se tivermos sorte, mais poemas como “Fuck Your Lecture on Craft, My People Are Dying”, um chamado às armas de Noor Hindi, que a um só tempo ataca a cultura beletrista e cruza a fronteira mais séria da política americana, a da Palestina.
Mesmo com todas as queixas liberais sobre a “cultura do cancelamento”, que é apenas um exercício doloroso de civismo social e liberdade de expressão, o verdadeiro cancelamento dessa questão vem do Estado. Não surpreende que não tenha havido um levante liberal —branco— contra a ordem executiva de Trump que restringiu críticas a Israel nas alas universitárias americanas, o que representa uma forma de censura pelo Estado, ou contra os esforços de muitos legisladores para fazer o mesmo.
Os Estados Unidos, como sociedade colonial de ocupação que tenta negar suas origens e seu presente coloniais, são um aliado muito adequado de Israel.
Os únicos americanos —muitos dos quais de origem palestina— que estão sendo cancelados, por meio de demissões, bloqueio de promoções ou ameaça de processos judiciais, são aqueles que denunciam o colonialismo de ocupação de Israel e falam em defesa do povo palestino.
Palestras sobre técnica literária, incluindo a técnica do multiculturalismo, podem ser insípidas quando contrastadas a políticas desse tipo. Meu problema com a “técnica” literária não é só o de que ela nem mesmo seja arte, mas também que ela seja sustentada por escritores que falam sobre o trabalho de ourivesaria da escrita mas em geral não defendem qualquer teoria sobre o trabalho, sobre sua exploração, ou sobre o escritor como trabalhador.
Não surpreende que escritores sem uma teoria desse tipo tenham pouco a dizer sobre política e que a norma das oficinas literárias seja não tratar de política.
“Colonizadores escrevem sobre flores”, escreve Hindi. “Quero ser como os poetas que podem se preocupar com a Lua. Os palestinos não veem a Lua, da prisão e das celas.” Esse é meu tipo de poema. “Sei que sou americana porque, quando entro em uma sala, algo morre”, escreve Hindi. “E, quando eu morrer, prometo os assombrar para sempre.”
Escritores como Hindi são uma exceção em muitas oficinas literárias, nas quais muitas vezes são forçados a se explicar ao centro normativo de uma literatura apolítica. Mas esse poema nada explica, o que é um dos motivos para que inflame.
“Um dia escreverei sobre flores como se fôssemos donos delas.” Alguém deveria contratar Noor Hindi para escrever um livro.
Tradução de Paulo Migliacci

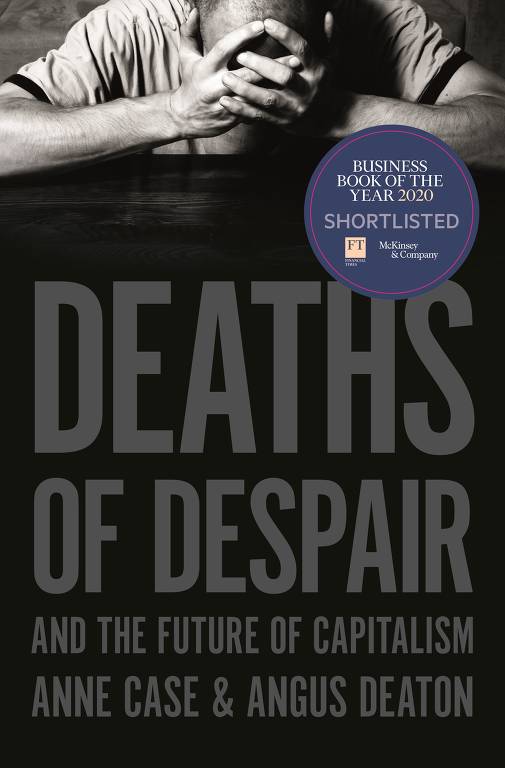

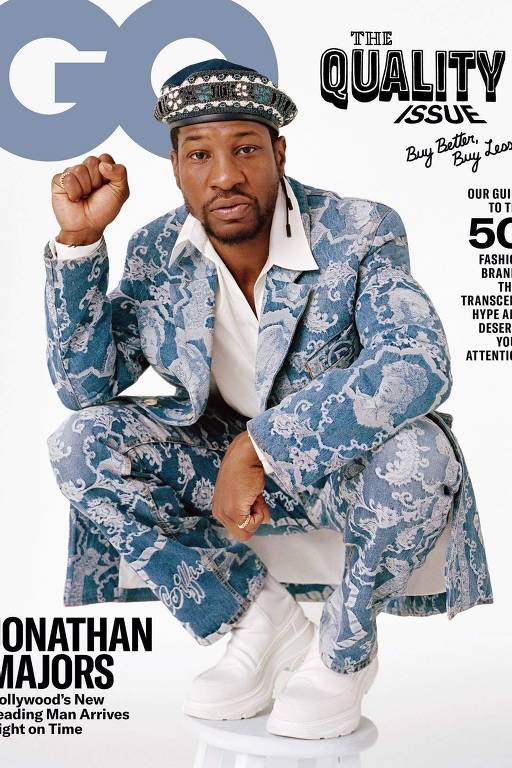





Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.