Sílfides e donzelas fantasmas deslizam pelo palco com suas saias esvoaçantes, os tutus românticos que simbolizam os chamados “balés brancos” —o nome surgiu por causa da cor do figurino.
Elas são bailarinas da São Paulo Companhia de Dança, nas duas estreias desta temporada, “Les Sylphides (Chopiniana)” e o segundo ato de “Giselle”. Entre elas, as 11 contratadas na última audição da companhia –cinco são negras.
“Não houve cota. Todas foram escolhidas por sua capacidade técnica e artística”, conta Inês Bogéa, diretora da companhia. Mas ainda há, no Brasil, pouquíssimas mulheres negras dançando clássicos de repertório em grandes conjuntos. “Os coreógrafos brasileiros entendem que é o momento de dar mais voz a essa diversidade”, diz Bogéa.
Voz e acesso. No caso da São Paulo Companhia de Dança, uma das condições foi dada, paradoxalmente, pela pandemia. Como as audições foram feitas por Zoom, mais pessoas de fora dos grandes centros puderam participar, com menor custo financeiro.
A possibilidade de mostrar seu talento à distância animou Nayla Ramos, de 20 anos, a participar da seleção. Nascida em Campinas, no interior paulista, e formada pelo Balé Bolshoi do Brasil, ela começou a vida profissional há dois anos, em Joinville, em Santa Catarina, quando engravidou. Daí veio a pandemia.
“Estava complicado lidar com tudo isso. Quando soube que a audição era a distância, achei que era o momento de retomar e começar algo importante na minha carreira.” Ramos é afrodescendente, sabe que no Brasil e no mundo as oportunidades no balé profissional para seu biótipo são poucas, mas diz que nunca aceitou rótulos. “Nasci nesse corpo e zelo por ele. Não aceito que minhas características possam ser uma dificuldade para seguir a carreira.”
Boa parte dos obstáculos são socioeconômicos. “A formação em dança clássica é cara, cria uma defasagem racial e social”, diz o coreógrafo e pesquisador Rui Moreira.
É algo, aliás, histórico –o balé nasceu como dança de elite, na corte europeia. “Isso contribuiu para profissionalizar a dança, mas gerou restrições econômicas, de classe, até geopolíticas, porque isso foi definindo tipos específicos de corpos”, diz ele.
Moreira, bailarino negro, dançou clássicos e contemporâneos em grandes companhias, como Cisne Negro, Balé da Cidade de São Paulo e Grupo Corpo. Atualmente, faz parte da curadoria do Festival de Dança de Joinville. Nesse festival, em que o balé clássico é muito forte, a participação de bailarinas negras sempre chama a atenção, diz ele.
Mulheres, no entanto, sempre enfrentaram uma situação mais difícil. “Para cada 20 bailarinas se formando, há um homem”, diz Moreira. Na época em que ele se profissionalizou, as companhias precisavam de corpos masculinos para seu elenco, e era mais fácil para os meninos conseguirem bolsas que bancassem a formação.
Mesmo assim, a falta de representação de corpos negros e não europeus persistiu. Segundo Moreira, isso começou a mudar, aos poucos, depois da Segunda Guerra. O balé clássico se firmou em lugares como Cuba, um país afrodiaspórico, com corpos muito diferentes do europeu, mas muito eficientes para a linguagem clássica.
Também nos Estados Unidos, George Balanchine, que desertou da então União Soviética para fundar o New York City Ballet, criou novas técnicas e adaptou o balé aos corpos miscigenados do chamado novo mundo. Mais tarde, George Mitchell, o primeiro negro a dançar na companhia nova-iorquina criada por Balanchine, fundou o balé do Harlem, bairro negro de Nova York, depois de passar uma temporada no Brasil.
Desde então, começou a circular uma visão mais contemporânea dos clássicos da dança, fazendo com que os corpos sejam mais plurais e mais bem aceitos pelo público. Mas o recorte socioeconômico continuou restringindo o acesso a esses corpos.
“Pobreza é complicado, não dá oportunidades. E no Brasil, a maior parte da população negra é pobre”, diz Pamela Rocha, de 24 anos, formada em dança numa escola pública de Anápolis, em Goiás, e agora contratada da São Paulo Companhia de Dança. “O balé sempre foi muito elitizado. Qualquer coisa que a gente faça é uma quebra. Muito do que as pessoas consideram ‘normal’, para nós não é.”
Ela dá como exemplo as meias-calças e sapatilhas sempre cor-de-rosa ou brancas. Opções de cores mais próximas dos diferentes tons de pele só surgiram no mercado há pouco tempo. O figurino faz parte dos cânones do clássico. Hoje, é discutido e revisto. Para as sílfides desta temporada, cores de sapatilhas e meias foram definidas em conversas entre as bailarinas e a direção.
Criar unidade do corpo de baile em cena, outro cânone, foi o trabalho de Ana Botafogo. “Les Syphides”, que a bailarina já interpretou várias vezes, é sua primeira recriação de um grande clássico como coreógrafa.
“Minha preocupação foi transmitir a essência da obra criada por Michel Fokine no início do século 20, mantendo a estrutura coreográfica com um olhar atual”, diz Botafogo, que deu a suas sílfides alguns braços diferentes, certos movimentos adaptados à diversidade de corpos.
Outras inovações surgem na iluminação, nos cenários. Para “Les Sylphides”, Fabio Namatame costurou telas de sombrite, um material usado em viveiros de plantas, para criar montanhas e florestas abstratas. Em “Giselle”, o clássico romântico da segunda semana da temporada, recriado por Lars Van Cauwenbergh, Vera Hamburger fundiu imagens de Debret com fotos de Cássio Vasconcellos.
Entre colinas simbólicas e costelas de Adão, novos corpos ganham espaço. “No sistema em que vivemos, se o artista não está ocupando territórios, não está em lugar nenhum”, diz Moreira, o bailarino e coreógrafo.
Visibilidade muda a cena. “A gente demorou para ocupar nosso espaço, acreditar que poderíamos ser o que quiséssemos. Mas, daqui para frente, vamos ver muitas mulheres negras, não só na dança, mas em todas as profissões”, diz Dandara Caetano da Rocha, de 24 anos. Formada com bolsa de estudos no Balé Jovem de São Vicente, no litoral paulista, também foi contratada na última seleção.
Ela conta ter relutado em fazer o teste. “Deixei para me inscrever no último minuto.” O motivo, diz, foram tabus “da minha própria cabeça” sobre as chances de sucesso, até porque as bailarinas negras continuam sendo minoria e exceção no repertório clássico apresentado por grandes companhias.
Segundo Moreira, é marcante ver tantas afrodescendentes entrando numa audição, com quase 150 candidatas, para uma das principais companhias do estado e do país. “Tem muito a ver com o momento histórico atual. É o talento de cada bailarina, mas, também, é resultado de muita luta social sim. E de uma leva de bailarinas que teve acesso à formação, com projetos que levaram a dança aos lugares aonde ela não chegava.”







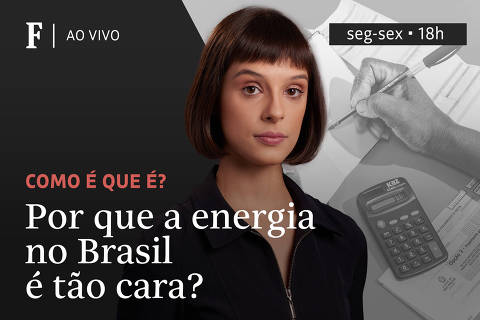

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.