O sociólogo e escritor francês Frédéric Martel, de 54 anos, costuma fugir das perspectivas que enxergam de forma apocalíptica o mundo das redes sociais e da produção de conteúdo online.
Autor de dois livros sobre o assunto já publicados no Brasil, com os nomes "Mainstream", lançado há dez anos, e "Smart", de 2015, o professor da Universidade das Artes de Zurique talvez possa ser definido como um defensor das "bolhas" —no bom sentido.
"Existe a ideia de que não há mais fronteiras, de que agora todos participamos de uma única conversa global. A conclusão dos meus livros é que isso não é verdade", afirmou Martel, em entrevista por videoconferência. "As fronteiras ainda existem. A língua que você fala ainda é importante. É por isso que defendo a ideia de que, em grande medida, a internet é geolocalizada, ou seja, está fragmentada de acordo com uma série de espaços culturais distintos, ainda que eles se comuniquem."
O pesquisador é um dos convidados deste ano do ciclo de palestras Fronteiras do Pensamento, com apresentações marcadas para os dias 29 e 31 de agosto —em São Paulo e Porto Alegre, nesta ordem—, e uma terceira fala para o público online no dia 9 de setembro.
As obras de Martel adotam um formato que mistura pesquisa sociológica de campo e investigação jornalística, com visitas a dezenas de países e entrevistas com centenas de pessoas para tentar montar um mapa global de como as pessoas estão produzindo e consumindo conteúdo. Ele conta que seu interesse pelo tema está ligado, em parte, aos paradoxos do ambiente cultural de sua infância e juventude.
"Eu cresci numa cidadezinha do sul da França, num ambiente que era muito rural, muito pobre. E, claro, francês e branco. Mas a música que as pessoas ouviam era a música negra americana –o jazz de Billie Holiday, por exemplo–, e elas liam ‘As Vinhas da Ira’, de um escritor americano, John Steinbeck", conta. "Meu desejo era entender o porquê disso, o que significa o local e o global e como essas coisas se conectam."
Para resumir as conclusões desses levantamentos, ele usa uma analogia gastronômica. "Imagine que você quer comer comida japonesa. É lógico que você poderia fazer isso indo até o Japão, mas hoje existem excelentes restaurantes japoneses em São Paulo ou em Paris, por exemplo, para clientes brasileiros como você ou franceses como eu. Mas o importante é que eles estejam disponíveis localmente para nós", afirma.
"É isso que algumas pessoas antiglobalização têm dificuldade de entender —a globalização não é capaz de destruir a nossa relação com o local, com o território."
Segundo Martel, portanto, a internet lembra mais um grande conjunto de "panelinhas" separadas por línguas e culturas, embora os membros de cada "panelinha" certamente troquem informações, memes e ideias entre eles.
O paradoxo é que o meio que permite esse intercâmbio entre os subgrupos seja uma espécie de "supracultura", um dialeto cultural que boa parte do mundo usa como segunda língua —algo derivado da cultura americana de língua inglesa.
"É o que eu digo no meu livro ‘Mainstream’. Chego mesmo a dizer que, na Europa, cada país tem duas culturas –infelizmente não são três culturas porque, nos quase 30 países da União Europeia, não dá para falar de uma cultura europeia geral para todos", ele argumenta. "Temos sempre uma cultura local muito forte, e junto com ela uma cultura americana."
E isso não necessariamente é ruim, diz Martel. "Os anticapitalistas vivem dizendo que isso acontece por causa da força do dinheiro americano. Mas não é isso –os chineses investem bilhões na indústria cinematográfica deles e ainda assim não conseguem fazer um ‘blockbuster’ que seja. Tem a ver com a maneira como você conta uma história. E também tem a ver com liberdade."
Por mais que a exportação desse modelo, transformando bilhões de pessoas em "bilíngues culturais", possa ser visto como uma forma de imperialismo, não é incomum que ele seja transformado em símbolo de liberdade de pensamento e comportamento por minorias distantes dos centros de poder americanos.
"Eu costumava ficar surpreso ao ver como meus amigos franceses de origem africana ou árabe abraçavam o rap e o hip-hop, mas a explicação é que eles enxergam liberdade nesses movimentos", diz o sociólogo. "E o mesmo vale, em outros aspectos, para uma mulher no Irã ou um homem gay no Líbano."
Esse potencial explica, em parte, o porquê de a indústria do entretenimento e as mídias sociais terem abraçado a diversidade étnica e de gênero. Segundo Martel, isso reflete uma transição dentro da própria sociedade americana, com repercussões globais.
"Antes você tinha a ideologia do ‘melting pot’ [algo como caldeirão], na qual as pessoas podiam ter muitas origens diferentes, mas sua identidade se misturava em algo único para todos, que era a identidade americana. Hoje, por outro lado, você pode ser brasileiro, se tornar americano, mas continuar mantendo uma identidade plenamente brasileira dentro dos Estados Unidos, inclusive falando português, como acontece em Miami."
Martel se considera otimista em relação ao futuro da internet. Na visão dele, o lado positivo das interações online ainda supera consideravelmente o lado negativo. Segundo o pesquisador, o caminho para superar o potencial destrutivo das redes sociais não depende da regulação de conteúdo, mas do que ele chama de "territorialização da internet".
"As plataformas de mídia social precisam agir de forma muito mais responsável de forma local, dentro de cada país, em vez de ficarem encasteladas no Vale do Silício. Se querem ter operações de marketing em Paris, também têm de assumir a responsabilidade pelo que acontece entre seus usuários de Paris, digamos", afirma.
"O segundo ponto é que as redes sociais precisam sempre estar acompanhadas do nome verdadeiro de quem as usa. Quando as pessoas tuítam sem seus nomes reais, tendem a ser muito mesquinhas e atacar muito mais os outros usuários. E é algo que teria um impacto direto no uso de contas-robôs para fins políticos."




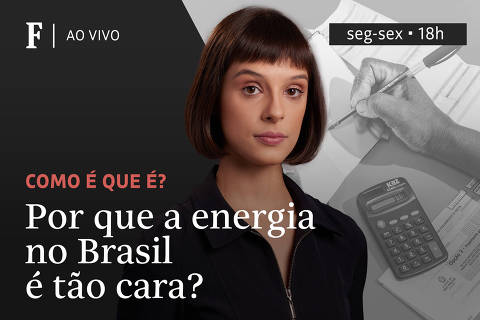

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.