[RESUMO] Professor de filosofia argumenta que os protestos registrados há 50 anos na França tornaram-se referência para manifestações que, de forma espontânea e sem organização tradicional, eclodem com força e marcam um momento histórico. Ele faz um paralelo entre maio de 1968 e junho de 2013, no Brasil.
2013 foi um ano excepcional no Brasil. Em nosso país todo inverno neva uma vez em algum lugar do Sul. Naquele ano nevou duas vezes, em mais de cem cidades. Um cronista medieval, se relatasse esse evento, falaria em portentos, augúrios de algo surpreendente. Algo que estava mesmo acontecendo: em junho daquele ano, tivemos nosso maio de 68.
Os protestos registrados há 50 anos na França tornaram-se referência para manifestações que, de forma espontânea e sem organização tradicional, eclodem com força e marcam um determinado momento histórico.
Contudo, a crítica que mais se faz aos maios do mundo (em 2013 também houve um na Turquia e outro na Bulgária) é que não têm projeto convergente nem liderança com quem negociar. Ouviu-se isso aqui no Brasil.
Tal crítica, no entanto, ignora o principal; equivale a dizer que é ótimo ser vegetariano, mas considerar um problema não comer carne... Porque, se houvesse projeto ou liderança, não seriam maios. São movimentos do desejo —não por acaso, Olgária Matos escreveu um belo livro chamado “Paris 1968, as Barricadas do Desejo” (1989, Brasiliense).
Um programa político, ao fazer escolhas, inclui e exclui. Já o desejo, o id, as pulsões não querem saber do princípio de não contradição. O desejo inclui tudo o que pode —uma coisa e seu contrário.
Os maios são contraditórios, só que isso não é um problema.
Quando acontece um maio, ele chega sem aviso. Há muito tempo as ciências sociais ensinam que os grandes acontecimentos vêm de longe: não são relâmpagos em céu azul, mas frutos de processos sociais latentes.
Mesmo a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, detonada após o assassínio do herdeiro do Império Austro-Húngaro, só na aparência derivou dessa causa imediata. A Europa estava armada até os dentes, com alianças letais que só esperavam uma fagulha —a “iskra” de que falavam os revolucionários russos— para explodir.
Exceção a essa regra, o maio de 1968 francês foi mesmo um relâmpago num céu azul, mas sem graça. Um dos maiores jornalistas da época, Pierre Viansson-Ponté reclamava no Le Monde, em 15 de março de 1968: “A França está entediada”.
Uma semana depois, começavam os grandes enfrentamentos da polícia com os estudantes; mais dois meses e o país vivia a maior greve de sua história.
Na Tunísia do ditador Ben Ali, muitos já haviam morrido por força da repressão policial. Em 2010, contudo, quando um camelô riscou um fósforo em suas vestes e se matou, o fogo tomou conta do país e se espalhou pela região, no que ficou conhecido como a Primavera Árabe.
No Brasil, em 2013, o Movimento Passe Livre ganhou as ruas, como já fizera em anos anteriores, exigindo melhor condução pública. Daquela vez, no entanto, graças em parte (mas não só) ao inestimável concurso da polícia do então governador Geraldo Alckmin (PSDB), que até cegou um repórter fotográfico, a sociedade inteira se indignou. Houve passeatas mesmo em cidades pequenas ou médias virgens em protestos.
A pauta cresceu, do transporte para a saúde e a educação. Na avenida Paulista, em São Paulo, vi em uma noite de junho três manifestações diferentes: uma de surdos e mudos, outra de bolivianos protestando contra o assassinato de seu compatriota Brayan Yanarico, de apenas 5 anos, e uma terceira defendendo a volta da ditadura.
A mídia rapidamente desviou o foco, que estava nas pautas de serviços municipais e estaduais (educação básica, transporte urbano, saúde), para o tema da corrupção, que ela atribuiu ao PT.
Mas o mais rico foi essa multiplicação de manifestações. O Brasil descobria que, para todo descontentamento, há uma via política de protesto. A política pode ser a saída, a chave para tudo. Fascinado, eu via aulas de teoria política na prática, a cada dia, nas ruas.
Essa proliferação de causas, essa crença de que um mundo inteiramente diferente é possível, é um traço de todos os maios. No maio de 68 francês, houve duas grandes correntes —a estudantil e a operária. Tinham reivindicações diferentes.
Os trabalhadores exigiam direitos básicos, de melhores salários ao direito do sindicato de atuar dentro da empresa. Os estudantes se sentiam mais livres para pedir o impossível.
Ainda assim, houve um 1968 que ocorreu naquele ano mesmo —incluindo mais linguagem marxista, mais ataques ao capital, a esperança num socialismo democrático, como o que se tentava na então Tchecoslováquia com a Primavera de Praga, a defesa da libertação dos povos, como o brasileiro, então sob uma ditadura que ainda pioraria— e, por outro lado, um 1968 que foi rapidamente construído nas imaginações.
O maio de 68 imaginado é em boa parte norte-americano: realça as agendas não diretamente políticas. Destaca a altercação de dezembro de 1967, quando um ministro inaugurava a piscina da Universidade de Nanterre e um jovem ruivo —Daniel Cohn-Bendit era seu nome— o acusou de, pela ginástica, pela natação, querer conter as pulsões sexuais dos jovens. Estratégia tradicional de direita, completou Dany.
Foi esse 68, mais libertário e anárquico do que revolucionário e marxista, que emplacou nas narrativas do maio francês. De lá para cá, Che Guevara saiu da guerrilha para triunfar nas camisetas.
E como terminam as coisas? Raro é o maio que triunfa na hora, porque sem projeto e liderança uma vitória fica difícil. O general Charles de Gaulle (1890-1970), presidente da França naquela época, arrasou nas eleições que convocou em 1968. Mas a maior parte das pautas de maio acabou vencendo —enquanto os 363 deputados então eleitos pela direita francesa o tempo levou.
Aqui no Brasil está sendo bem pior. O momento que saudei como abrindo uma “quarta agenda democrática”, a dos serviços públicos de qualidade —a ser implantada depois da democratização de 1985, da estabilidade monetária de 1994 e da inclusão social tornada prioridade nacional em 2003—, deu para trás.
Não tivemos o novo então desejado, e as pautas democráticas anteriores, a política de 1985 e a social de 2003, estão sendo destruídas.
Pior: a descoberta da política virou aversão a ela. Em 2013, multidões investiram na política como meio de resolver seus problemas —até mesmo o do assassinato da criança boliviana e do respeito aos surdos e mudos.
Hoje, agravou-se o cada um por si, com a classe média ainda pagando uma segunda vez para ter saúde, educação, transporte e segurança um pouco melhor do que o serviço fornecido pelo Estado, enquanto a pobreza e a miséria renascem.
As marcas de 2013 parecem ter sumido. Esperança não há.
Ela voltará? A história dos últimos 500 anos é a de um aumento crescente —embora interrompido inúmeras vezes— dos direitos humanos e da democracia. O próprio maio de 68 recuou, mais no Brasil que na França, assim como a Primavera Árabe só deu certo, e olhem lá, na Tunísia. O Egito, por exemplo, piorou muito. A Síria, nem se fala.
Mas o germe democrático é forte. O que devemos é apressar o fim do inverno de nossa infelicidade, parafraseando a famosa frase de Shakespeare no “Ricardo 3º”, e fazer surgir uma nova primavera.
Renato Janine Ribeiro, 68, é professor de ética e filosofia política na USP e professor visitante na Unifesp. Foi ministro da Educação (gestão Dilma). Seu último livro é “A Boa Política – Ensaios sobre a Democracia na Era da Internet” (Companhia das Letras).










































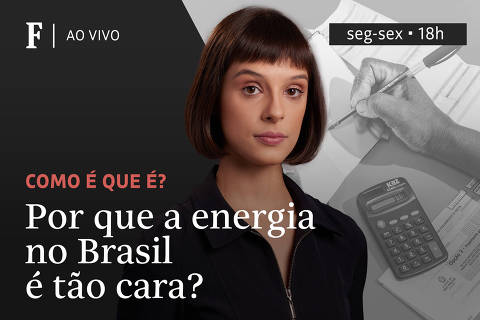

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.