A 28ª Bienal de São Paulo, conhecida como "Bienal do vazio", em 2008, tinha como objetivo colocar em debate a histórica exposição e a própria Fundação Bienal, sua organizadora, que naquele momento agonizava em uma profunda crise institucional e de credibilidade.
Corria o risco de desaparecer a despeito de sua valiosa contribuição na formação de uma visualidade moderna e contemporânea no Brasil e na construção da identidade artística e cultural de São Paulo, como centro avançado e cosmopolita.
Foi por esse lastro que os curadores e uma equipe de profissionais engajados instalaram um processo de reflexão e trabalho, com um chamamento à comunidade responsável pela instituição, para resgatar ou enterrar a organização. Neste sentido, é muito gratificante ver abrir a 33ª Bienal de São Paulo dez anos depois. Mostra que ela está viva e presente.
Entretanto o problema da Bienal de São Paulo naquele momento não era uma questão pontual da gestão da Fundação. Refletia também uma crise do modelo de exposição criado pela Bienal de Veneza em 1895 e que, a partir dos anos 1980, passou a ser replicado e ampliado, gerando novas bienais nas diversas latitudes do planeta.
Bienais, trienais, quinquenais, se converteram em importantes estratégias na globalização dos circuitos onde são criadas, essenciais para o caráter transnacional da arte contemporânea. Tornaram-se a principal plataforma para a produção, a distribuição e a valorização das práticas artísticas correntes, com elas deslocadas do Ocidente tradicional (Veneza, Kassel) para o Sul (São Paulo, Sydney, Dacar, Havana), o Oriente (Istambul, Charjah, Seul), regionalizando-se e interiorizando-se, chegando a qualquer lugar.
A "Bienal do vazio", portanto, não mirava apenas a crise específica de São Paulo, mas reconhecia que parte do problema estava no desgaste do modelo, já discutido desde os anos 1960, quando havia dez ou 12 bienais, e já parecia sem possibilidade de originalidade ou crítica.
A 28ª Bienal, um exercício de desconstrução e crítica institucional, propunha sistematizar uma reflexão sobre as bienais, retomando para a Bienal de São Paulo, a segunda mais antiga (1951) e plena de realizações, um papel protagonista entre tantas mostras semelhantes, reavaliando suas conquistas, qualidades e objetivos, debatendo sua vocação.
Cem anos depois da primeira Bienal de Veneza, mostras semelhantes já ultrapassavam uma centena e continuam sendo abertas até hoje por toda parte. Recentemente, surgiram duas organizações internacionais, a Biennial Foundation (2009) e a International Biennial Association (2014), plataformas criadas com o objetivo de promover o diálogo, a troca de conhecimento e a formação de redes de trabalho entre as bienais existentes, assim como prover backup para a criação de novas.
Por que o modelo persiste ou a estratégia que o articula ainda se mostra eficiente e é adotada por muitas cidades? Que sentidos ele constrói, que narrativas se explicitam?
Desde a criação da Bienal de Veneza, estabelecer um evento artístico-cultural periódico como um dispositivo de atração de visitantes, aliado a possibilidades de regeneração urbana, permanece como objetivo primeiro de quase todas as cidades em busca de capital cultural e receitas alternativas.
Entretanto a estratégia veneziana surge agora numa protocolada articulação entre instituições públicas de arte e agências governamentais com patrocinadores e filantropos, sempre apoiados por serviços de turismo do lugar e por um eficiente setor de comunicação e marketing.
A espetacularização da cidade se dá com a instalação de obras em locais públicos, trabalhos interativos e high-tech, com o desenvolvimento de projetos comunitários e site specific, e com a incorporação de espaços abandonados como partes do aparato expositivo.
Com duração média entre dez e 12 semanas, as mostras bienais já não são apenas uma exposição, mas adquirem um caráter imersivo, pondo em movimento um grande "complexo exibitivo", com filmes, performances, seminários, conferências e programas de residência.
A cidade hospedeira, parte da economia criativa, oportunidade de inovação e empreendedorismo, torna-se então membro de uma espécie de clube, o "mundo da arte" globalizado, uma marca com capital simbólico valioso, sem encargos de algo permanente e com assegurados ganhos para políticos e empresários.
Bienais já não se organizam por pavilhões nacionais como 50 anos atrás, ainda que a participação das agências de cooperação e cultura dos países represente um aporte financeiro significativo a elas, por meio do financiamento de seus artistas, assegurando assim a presença do nacional no circuito globalizado.
Hoje, em sua maioria, elas se organizam por temas definidos pelos curadores, sempre com artistas convidados e quase sempre a partir de outras bienais, fazendo um balanço do estado da arte num período determinado, algo diverso daquele do salão de vanguarda dos anos 1960, aberto à arte emergente e ao pensamento crítico, um lugar de experimentação, radicalidade e risco.
Por certo, as bienais ainda são espaços relevantes na produção de experiência e conhecimento sobre a contemporaneidade, mas o tema é uma estratégia necessária para articular um território que abrigue artistas de diversas praticas e procedências, apontando questões e tendências da produção.
Ao mesmo tempo ele também é determinante para o planejamento logístico, financeiro e de comunicação e marketing da empreitada. Cada exposição tem um valor e cria valor. Daí que a profissionalização, a institucionalização simbólica e a economia dessas mostras acarretaram a "museificação" delas, impondo um protocolo de princípios, relações, procedimentos e resultados.
Decorre também deste novo estatuto, por um lado, que por serem espaços privilegiados de informação e pesquisa sobre as produções artísticas contemporâneas e por apresentarem de modo organizado e mediado a diversidade delas, muitas bienais converteram-se em museus de arte temporários, renovados e reinstalados periodicamente.
Desta forma elas cresceram também como vitrines de novidades e tendências que influenciam as escolhas futuras dos colecionadores, mas, sobretudo, dos museus, pois essa arte contemporânea é o segmento que mais cresce nas respectivas coleções e acervos e leva à criação de novos museus e centros de arte.
Por outro lado, diante da crescente e pujante comercialização da arte contemporânea —um ativo de luxo— surge a percepção de que essas mostras periódicas estariam comprometidas com o mercado de arte: ao boom das bienais seguiu-se o boom das feiras de arte.
Mas elas não são a mesma coisa: enquanto a segunda é uma atividade prioritariamente comercial, a primeira define um espaço aberto de trocas, confrontos, diálogo e debates entre artistas, curadores e pensadores com o público de arte.
Por vezes, há, sim, uma relação bastante produtiva entre ambas: muitos dos projetos desenvolvidos por artistas e apresentados em bienais só foram possíveis porque financiados por suas galerias. E isso não é mau em si. Ganhamos todos.
O problema está em se as bienais, tradicionais instâncias legitimadoras da arte contemporânea, só sobreviverem como agentes de ponta de um mercado ávido por carne fresca. Pior: considerando a perspectiva local inserida no circuito global em que operam, elas correm o risco de estarem se tornando provedoras de exotismo para consumo, de espaços de interação com a alteridade e dos álibis políticos e sociais para o capitalismo neoliberal globalizado.
Porque algo positivo e transformador surgiu com explosão de bienais ao longo destes mais de 40 anos. O modelo tem assegurado a emergência e a visibilidade de produções e práticas artísticas desconhecidas ou marginalizadas, de experiências históricas e culturais diversas, vindas das periferias, daquelas mostras em qualquer lugar. São elas que dão capilaridade e sustentabilidade institucional ao modus operandi e ao sentido original do modelo, revelando artistas e trabalhos inéditos até então.
Mais que qualquer outra instituição no sistema da arte, as bienais fazem hoje a mediação entre o local, o nacional e o transnacional. São uma sorte de "máquinas hegemônicas" (Oliver Marchart), promovendo a passagem do local para um campo de embates simbólicos por legitimidade na sociedade global.
As mostras menores, regionalizadas, muito têm contribuído para a descentralização da narrativa hegemônica das bienais tradicionais (Veneza, São Paulo, Kassel, Sydney) sobre a arte e o fazer artístico, promovendo assim a emergência de outras representações, alternativas de expressão e conhecimento, outras narrativas.
Politizadas, muitas delas tornaram-se uma estratégia importante nos processos envolvendo relações pós-coloniais, resistência cultural, recuperação de histórias e memórias coletivas, fazendo visíveis e afirmando essas identidades na globalização. A história global do futuro também está sendo escrita pela periferia.
Ao lado dos movimentos sociais, das migrações e de uma nova ordem no mundo, essas bienais impuseram certo tom político ao circuito artístico global, levando quase todas elas, inclusive aquelas que representam o mainstream de acordo com os mercados, a se proporem como um lugar de confluência entre arte e ação política.
Nada novo. Já era um mote do circuito artístico-intelectual nos anos 1960-70, agora em outra escala, circunstâncias e propósitos. Além da certeza de bom marketing.
Por certo, todo esse aparato de espaços, profissionais e serviços, todo o investimento financeiro que representam, a visibilidade que recebem e os ganhos reais que trazem, fazem das bienais objetos de escrutínio e geram críticas ao modelo. É uma decorrência natural, produtiva e necessária deste processo, parte da massa crítica que ele produz.
Pessoalmente, penso que o modelo, para o bem e para o mal, tem muita vida pela frente. Bienais e afins ainda podem ajudar a transformar nossa percepção da arte e das cidades e podem ter um papel importante no desenvolvimento de comunidades.
Não por ser a segurança de algo novo ou valioso, mas por representar uma oportunidade de procurar especificidades e construir pertinência, uma vez que o modelo parece criticamente exaurido, banalizado.
No século 21, diante do fluxo incessante da produção de imagens, da diversidade das práticas artísticas e da voracidade da economia que alimenta o circuito, talvez as bienais possam ser ainda agentes da internacionalização e do cosmopolitismo, se fundadas nas singularidades do lugar de origem, nas demandas imediatas da região em que se inscrevem, no conhecimento e aprofundamento de questões e referências que informam a produção de visualidade no mundo contemporâneo.
Trata-se, portanto, de redirecionar sua vocação para, em lugar de tentar produzir visões totalizantes e representativas do fenômeno da arte na atualidade, delinear singularidades, promover individuações, produzir outras cartografias, pondo em marcha um processo de trabalho investigativo e crítico, regular e sistemático, que acompanhe e dê conta de modo produtivo dos movimentos e transformações percebidos nas práticas artísticas num circuito determinado, assim como das reverberações que elas causam e ecoam.
As bienais hoje ainda têm um papel importante no imaginário artístico e cultural contemporâneo, mobilizando profissionais, serviços e visitantes, que asseguram que tais exposições, em qualquer lugar, sempre apresentem alguma coisa que vale a pena ser vista.
Mas, sobretudo, porque elas constituem um espaço valioso, uma oportunidade significativa para os artistas produzirem e mostrarem seus trabalhos contextualizados com seus pares de diferentes partes do mundo, promovendo um diálogo potente, um encontro produtivo, que ao fim e ao cabo é o que importa.
Pois é desta forma que eles mantêm a arte e a sociedade em movimento, já que a primeira sempre poderá produzir algo disruptivo na segunda. Bienal, bienais, ainda e sempre.
Ivo Mesquita é curador e escritor. Junto com Ana Paula Cohen, foi responsável pela 28ª Bienal de São Paulo.
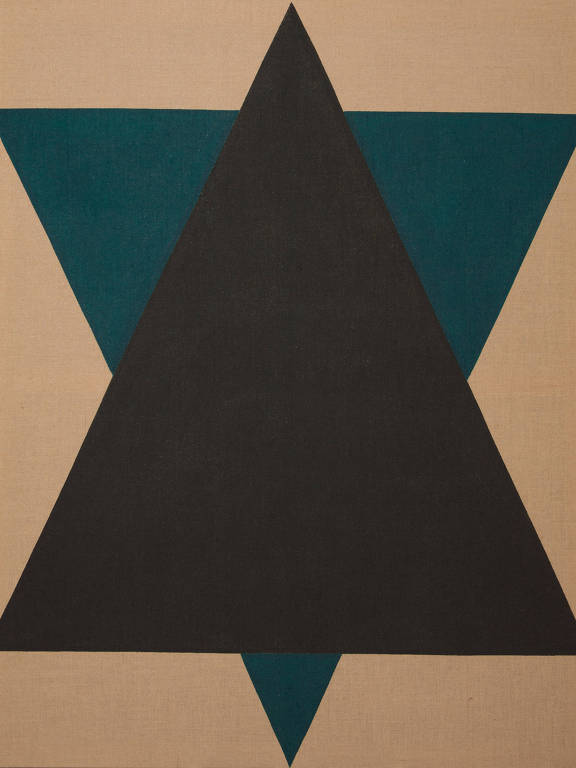











































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.