[RESUMO] Armistício da Primeira Guerra Mundial representou intervalo de um conflito que continua ativo; tensão que levaria à retomada das ações militares era evidente já na negociação do Tratado de Versalhes, assinado em 1919.
A Primeira Guerra Mundial não acabou cem anos atrás. Aquele armistício cabalístico, que entrou em vigor na 11ª hora do 11º dia do 11º mês de 1918 apenas deu início a um intervalo, talvez o necessário para que os contendores recobrassem o fôlego e voltassem ao confronto, como se viu logo em seguida.
Mais do que ter sido retomado 21 anos depois, o conflito iniciado em 1914 não terminou até hoje.
Como em um filme de terror, de tempos em tempos ele volta para “puxar o pé” do século 21 de volta às tensões iniciadas no século 19 e explicitadas na Grande Guerra, como era chamada então.
Não é difícil reconhecer o DNA da Primeira na Segunda Guerra Mundial, (re)iniciada em 1939: alguns mesmos personagens, mesmas alianças militares, coreografias diplomáticas semelhantes nas escaramuças que antecederam a eclosão, cenários semelhantes de grandes cidades em ruínas após os ataques, números equivalentes de mortos...
Muito antes de mostrar a semelhança, quando os conflitos começaram, em todo o mundo observadores atentos já previam a retomada das ações militares desde a assinatura do armistício e mais ainda durante a negociação do Tratado de Versalhes.
Havia fortes razões para prever uma nova guerra, e elas se realizaram tal como profecias. Afinal, muitos alemães jamais entenderam os motivos da suspensão das operações; outros tantos achavam que o cessar-fogo era uma oportunidade para o governo resolver as escaramuças intestinas (uma revolução inspirada na Soviética, um ano antes, estava em curso, e era preciso abafá-la para garantir a estabilidade no front interno e obter sucesso no exterior); e quase ninguém acreditava que o Exército alemão estivesse derrotado quando os membros do governo aceitaram os termos do acordo de 11/11.
Quando os representantes da Alemanha presentes no vagão de trem do Exército francês assinaram o cessar-fogo, seu país vencia a guerra. Tecnicamente é difícil negar isso: tropas germânicas ocupavam as ricas províncias do nordeste francês, que produziam 40% de todo o carvão do país e 58% do aço.
De suas trincheiras pouco abaladas durante os quatro anos da guerra, os canhões podiam bombardear Paris; também ocupavam quase todo o território da Bélgica, salvo uma pequena nesga pantanosa que os belgas alagaram para impedir o avanço inimigo; haviam conquistado territórios na Polônia, em Belarus, Ucrânia e países bálticos. Não houve nenhum combate em terra alemã nos quatro anos de guerra, nenhuma vítima, nenhuma bomba.
As exigências iniciais dos aliados eram exatamente que os alemães desocupassem rapidamente as áreas invadidas. Nos meses após o 11/11, os soldados alemães que marchavam para casa estavam alegres —alguns praticaram saques, comuns em crônicas sobre o comportamento de conquistadores, não de derrotados.
Por isso, os monarquistas alemães (o imperador Guilherme 2º havia deixado o país em direção à Holanda, acuado por revoltas militares) associaram a assinatura da rendição a uma ação coordenada de rebeldes comunistas e traidores pacifistas; o representante alemão responsável pela assinatura do armistício, o líder do Partido do Centro, Matthias Erzberger, foi morto em 1921 por um grupo de direita ultranacionalista inconformado com a rendição.
Até o início da guerra, Erzberger era favorável ao esforço militar, mas a partir de 1917 passou a atuar contra a manutenção do conflito, tendo inclusive realizado contatos com políticos ingleses e franceses para tentar acertar um armistício.
Com o crescimento do movimento contrário à guerra no país, em novembro de 1918 sua posição foi vencedora no governo, e ele foi enviado para negociar o cessar-fogo com as potências aliadas, o que acabou resultando na derrota da Alemanha. Em 1921, quando era vice-primeiro-ministro do país, foi assassinado.
As negociações do Tratado de Versalhes só tiveram início quando as forças alemãs já tinham saído dos territórios ocupados. Nesse momento, quando os aliados apresentaram suas exigências de reparação e indenização, mesmo alemães que apoiaram o fim da guerra se sentiram traídos.
O governo perdeu apoio, o discurso da extrema direita ganhou verossimilhança. Preparava-se assim o terreno fértil para o discurso nazista: o país foi traído por um complô entre potências internacionais e seus bancos, dominados por judeus, e os inimigos internos.
Como outros observadores em todo o mundo, no Brasil, o jornalista Mario Pinto Serva escrevia sobre a iminente eclosão de uma nova guerra já desde logo após o fim do conflito em 1918. Em 1922, ele publicou o livro “A Próxima Guerra” e, em 1923, “A Felonia de Versalhes”.
Nessas reuniões de artigos para a imprensa (ele participou do time que criou a Folha da Noite, escreveu também em O Estado de S.Paulo e na Revista do Brasil, entre outros) defendia que as imposições dos vitoriosos à Alemanha, como perdas territoriais e indenizações bilionárias em espécie, eram inaceitáveis por exageradas e tornavam inevitável o reinício do conflito.
Mais difícil do que ver as feições da Primeira Guerra na Segunda é reconhecer o seu DNA em conflitos posteriores, alguns deles cem anos depois, como agora mesmo no Oriente Médio.
Mas ele está lá, como elemento determinante, como esteve antes nas guerras da ex-Iugoslávia, de 1991 a 1999, herdeiras diretas do estopim de 1914, como se iniciadas no momento dos tiros com que o nacionalista sérvio Gavrilo Princip matou o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro da coroa do Império Austro-Húngaro.
Também a Guerra Civil da Síria (que dura de 2011 até hoje e parece estar destinada a se perenizar) é consequência direta da Primeira Guerra, mais precisamente do redesenho das fronteiras do Oriente Médio no Tratado de Sèvres, de 1920, que distribuiu as colônias do derrotado império Otomano entre os vitoriosos do conflito.
O tratado criou países com fronteiras inexistentes até então, baseadas em negociações, com pouca aderência das populações locais, que apenas serviram para justificar a hegemonia da França aqui (Líbano, Síria, Marrocos, Argélia) ou da Inglaterra ali (Chipre, Iraque, Palestina) e da Itália acolá (Líbia e, então, parte da Turquia).
Contra os impérios que dominavam a Europa do Leste e o Oriente Médio até 1914, a ideologia nacionalista e da autodeterminação dos povos serviu para justificar a criação de fato de microimpérios sob “proteção” das potências europeias vitoriosas.
Os tratados de Versalhes e Sèvres foram assinados sob a égide da chamada Doutrina Wilson. Explicitada pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson em um discurso conhecido como “Quatorze Pontos”, em janeiro de 1918, ela pregava nos itens 10, 11, 12 e 13:
“10º Autogoverno limitado para o povo austro-húngaro;
11º Evacuação das tropas alemãs dos Bálcãs e independência para o povo balcânico;
12º Independência para a Turquia e autogoverno limitado para as outras nacionalidades até então vivendo sob o Império Otomano;
13º Independência para a Polônia;”
Consagrava o princípio da autodeterminação e o detalhava citando especificamente cinco casos: o “povo austro-húngaro” (10); o “povo balcânico” (11); a Turquia e “as nacionalidades então vivendo sob o Império Otomano” (12); e “a Polônia” (13).
O discurso representou as conclusões de um grande painel de estudiosos e buscava ao mesmo tempo justificar o envolvimento dos Estados Unidos na guerra europeia, para uma opinião pública ainda mais avessa a intervenções internacionais do que hoje, e criar limites às potências europeias vitoriosas (França e Inglaterra), para que não se aproveitassem do apoio dos EUA, país nascido de uma revolução contra um império monárquico, para ampliar suas ambições imperialistas. Por isso, o discurso da “proteção” às novas nações foi tão usado naquele momento.
Tudo parecia adequado, politicamente correto aos olhos do zeitgeist do pós-guerra. Mas, observada com atenção, a construção não parava de pé. Como no ditado alemão atribuído ao estudioso da imagem Aby Warburg: “Deus está nos detalhes”. Neles habitavam os problemas que persistem até hoje.
Os princípios de Wilson citam nominalmente duas nações, vagamente dois “povos”, e um número indefinido de “nacionalidades”. Na incapacidade de definir seus objetos, Wilson e seus contemporâneos antecipavam as fissuras que iriam manter permanentemente instáveis as criações dos acordos pós-1918.
Quando o leitor se pergunta: o que é a Turquia, naturalmente pensa no “país do povo turco”, pois, como ensinam as escolas, nação é um “conjunto de indivíduos habituados aos mesmos usos, costumes e língua”; “Estado que se governa por leis próprias”, “pátria” (Dicionário Aurélio).
Mas a Turquia já era então, mais até do que hoje, o país dos turcos, gregos, judeus, armênios, árabes, eslavos etc., quase tantas etnias quanto habitavam o Império Otomano de que é sucedâneo. Essa infinidade de gentes habita um mosaico geográfico em que as zonas de contato ou sobreposição cortam cidades, bairros, passam por dentro das casas, incluindo as famílias.
Não é possível entregar a Turquia para os turcos sem reduzir direitos nacionais de todos os outros habitantes. O mesmo vale para a Polônia, como perceberam os alemães, os russos, os ucranianos, bielorrussos, os judeus de seu território.
Tão complicado quanto definir limites e natureza dos países citados é identificar os povos mencionados: “o povo austro-húngaro” jamais existiu, o império que levava esse nome justificava o fato de ser formado pela junção de duas coroas vizinhas, de maioria cristã, assediadas há séculos pela ameaça de um império de religião muçulmana (Otomano). Austríacos compartilham uma língua germânica com milhões de europeus, com variações regionais; húngaros têm uma avis rara linguística, com parentesco longínquo com os distantes finlandeses.
Não há nada que pudesse justificar sua definição como “um povo”, como fez Wilson e, tão logo acabou a guerra, eles se separaram em dois países, também com uma complexa multiplicidade étnica dentro e fora de suas fronteiras.
Havia germânicos dentro e fora da Alemanha e da Áustria desenhadas após a Primeira e a Segunda Guerras; há húngaros desconfortáveis em vários países em torno da Hungria atual, para angústia dos vizinhos.
Ainda mais radicais são as diferenças entre aqueles que a Doutrina Wilson definiu como “o povo balcânico”. Como as guerras do final do século 19 já vinham mostrando, há quase tantas nacionalidades balcânicas quanto cidades, bairros ou indivíduos.
Os Bálcãs são a região habitada por gregos, albaneses, húngaros, germânicos, turcos, ciganos, e uma imensa quantidade de eslavos, como romenos (de língua latina), sérvios, búlgaros, macedônios (com tradição religiosa predominantemente católica ortodoxa), croatas e eslovenos (originalmente de maioria católica romana) ou diversos grupos de eslavos muçulmanos, em que bósnios são os mais famosos mas estão longe de ser únicos.
Todos os povos balcânicos provavelmente apoiavam a desmontagem do império turco e todos poderiam topar, em princípio, a proposta de “independência para o povo balcânico”, mas desde que a hegemonia sobre o território independente fosse de seu grupo étnico, linguístico ou religioso.
Mas raros são os locais etnicamente homogêneos nos Bálcãs. Ou seja, a hegemonia requerida pelo morador sérvio de uma quadra de Sarajevo esbarra na autonomia desejada por seu vizinho de porta, eslavo muçulmano ou croata católico.
O objetivo da ideologia nacionalista consubstanciado na Doutrina Wilson e nos tratados de paz posteriores à Primeira Guerra Mundial se revelou inalcançável, como o tempo tem insistido em comprovar.
Cada pequena nação nascida como fragmento de um daqueles impérios milenares corresponde a uma pluralidade de etnias opostas internamente que, uma vez iniciada a pulverização das grandes unidades políticas de dimensões continentais, passam a esperar sempre a oportunidade de também se separar da pequena nação recém-nascida.
Como na geometria euclidiana, em que qualquer segmento de uma reta tem também infinitos pontos, cada pequena nação surgida ao final da Primeira Guerra é um outro império menor, também cheio de povos sedentos por autodeterminação.
Os exemplos pulsam ao longo do tempo. Cito três:
- Antes da Segunda Guerra Mundial, a pequena Tchecoslováquia já se mostrara instável pelas disputas entre diversos grupos, mas não só pela transformação da população alemã, de parte do império controlador em minoria (os sudetos, justificativa para a invasão do país ordenada por Hitler). Populações germânicas inspiravam temor também nos novos governantes de outros tantos países: Rússia, Polônia, Iugoslávia etc.
- Três décadas atrás, foram as repúblicas sérvias que surgiram dentro das nações que obtiveram separação da ex-Iugoslávia. Na Federação nascida em 1918, sérvios tinham uma república e populações minoritárias espalhadas por todas as outras unidades nacionais, principalmente na Croácia e na Bósnia.
Em 1991 e 1992, quando estas duas repúblicas se tornaram independentes, imediatamente minorias regionais sérvias declararam independência replicando os argumentos de croatas e bósnios. Foram derrotados em uma nova fase do conflito, mais tarde, mas a República Sérvia na Bósnia-Herzegovina sobrevive como um ente da federação bósnia, menor que a anterior, mas que replica suas tensões.
- Hoje, o processo euclidiano se revela, de forma ainda mais radical, no complicado mosaico das áreas dominadas pelas diferentes partes em luta na Síria, ironicamente, cem anos depois realizando a mais perfeita imagem da inviabilidade da proposta que norteou o nacionalismo e comandou os acordos de paz após a Primeira Guerra, sob a chamada Doutrina Wilson.
Em um surpreendente ensaio sobre a guerra da Bósnia, baseado em reportagem e análise de livros e mapas históricos (publicado na revista Granta, em 1992), o escritor britânico Lawrence Norfolk destaca coincidências entre fatos ocorridos no conflito que estava em curso e outras tantas notícias de 200 anos antes, da Guerra Austro-Turca que teve seu teatro nos mesmos Balcãs.
No texto de não ficção, denominado “A Bosnian Alphabet” (ABC da Bósnia), o romancista destaca a semelhança entre os fatos para estabelecer relações entre eles. Como uma notícia de que foram encontrados corpos de soldados austríacos sem cabeça em um campo turco no norte da Bósnia, publicada em 1788, que ele compara às fotos de cabeças de soldados sérvios, encontradas sem os corpos em 1992: “Confesso que adoraria ver essas horrorosas fotos de viagem clarearem meu mistério de 200 anos. (...) Notícias de corpos sem cabeças. Fotografias de cabeças sem corpos. Eu gostaria ao menos de estabelecer uma correspondência. Traçar um paralelo ou dois”.
O texto de Norfolk destaca uma das principais características desinformantes do jornalismo: sua incapacidade de fazer relações entre fatos que estejam fora de seus paradigmas (seja o tempo, sejam as divisões internas do noticiário, as chamadas editorias). Dois fatos semelhantes em momentos diferentes serão tratados como independentes; duas notícias publicadas em editorias separadas raramente trarão referências umas às outras.
Norfolk justapõe os corpos austríacos às cabeças sérvias. Em outro momento, mostra a coincidência entre os locais das notícias nos períodos diferentes, o que permite indicar uma espécie de mapa das zonas de tensão, como se fatos semelhantes buscassem locais também semelhantes.
E isso é revelador das fronteiras entre culturas históricas diferentes (etnias?), que viveram de forma mais intensa o que Samuel Huntington chamou de “Choque das Civilizações”. Ignorar os paralelos de Norfolk é recusar uma dimensão extremamente reveladora da notícia.
É o que faz o jornalismo diariamente, como vimos nas análises da guerra civil na Líbia, que tinha como uma de suas fontes propulsoras mais intensas as divisões históricas entre regiões independentes reunidas numa mesma entidade nacional por força de uma decisão arbitrária do imperialismo italiano, que foi mantida como tal pela ditadura de Muammar Gaddafi.
Com a queda do ditador, os movimentos autonomistas de cada uma das três regiões se empoderaram e tiveram papel importante no processo de fragmentação do poder central. A Líbia é filha da fragmentação do Império Otomano, embora anterior à eclosão da Primeira Guerra Mundial.
Vistos sob esse prisma, os conflitos na Palestina são também uma expressão continuada da Primeira Guerra Mundial. O território onde se concentram os locais sagrados das religiões abrâmicas, sob domínio turco até a fragmentação do Império Otomano, foi entregue como protetorado à gestão britânica, como o Iraque, no mesmo momento em que Líbano e Síria se tornavam áreas de influência direta do governo francês.
Àquela altura, após o final da guerra de 1914-18, o sionismo já havia implantado ali diversas colônias, enquanto movimentos autonomistas já faziam ferver todos os países do Oriente Médio.
Nos anos seguintes, sob gestão britânica, movimentos judaicos e palestinos intensificaram ações e tensões em um processo contínuo que, visto à luz dos cem anos desde 1918, tem na partilha e criação do Estado de Israel, em 1948, um capítulo importante, mas não inicial e certamente não o final, como provam as sucessivas fases de conflito aberto, em 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 1987, 2000, 2006, 2008, 2009, 2014 e todos as escaramuças constantes.
Um caso semelhante ao de Norfolk aconteceu com outro escritor de língua inglesa quando também estudava a fragmentação da ex-Iugoslávia.
Naquele início dos anos 1990, o ensaísta norte-americano Robert Kaplan se impressionava com a imensa capacidade de projetar cenários exatos para o futuro que marcava o antigo líder comunista Milovan Djilas (1911-95), um dos dirigentes do partido comunista iugoslavo e da resistência armada contra a ocupação nazista, “caído” no ostracismo e preso por muitos anos após a tomada do poder por Josip Tito. Um dia, Kaplan se deu conta da fonte de sua capacidade de previsão: “Ele não lê jornais, apenas livros de história”.
Também o observador de fotografias pode encontrar vivos, preservados, retratos de fatos semelhantes em épocas diferentes, as coincidências entre imagens permitem estabelecer “um paralelo ou dois”, vínculos e identidades entre as ocorrências em locais e tempos distantes.
É o caso da crise dos imigrantes provocada pela guerra de 1914-18 e que se repete com regularidade até hoje: a crise de imigração apenas continua, ininterrupta, produzindo um fluxo constante de imagens. É difícil crer que seja a cada vez uma ocorrência nova.
Nessa aparente repetição de fatos e imagens, não se pode aplicar, portanto, o clichê marxista que afirma que a história, quando se repete é uma vez como tragédia e outra como farsa. A Segunda Guerra não foi um simulacro, falso, da Primeira; tampouco as guerras balcânicas dos anos 1990 e menos ainda a centrifugação do Oriente Médio atual.
Trata-se da mesma tragédia, que por vezes se interrompe como para buscar fôlego.
O escritor canadense Michael Ignatieff, ao cobrir os conflitos no Afeganistão durante a resistência contra a ocupação russa (1979-89), observa que a capacidade de lutar das partes em conflito na guerra civil superava constantemente a possibilidade da economia local de gerar os recursos necessários à reprodução e manutenção da capacidade de lutar: “Era uma tradição que respeitava a ecologia de uma sociedade pobre e o clima montanhoso: a guerra começava quando a plantação era semeada ou os animais eram colocados nas pastagens. E parava quando a safra chegava e a neve caía. A guerra era endêmica, mas autolimitada".
Algo semelhante ocorria em regiões da Bósnia-Herzegovina, durante a guerra iniciada em 1992. Chamada “Sarajevo do norte” pela imprensa estrangeira por ser, como a capital mais ao sul, uma cidade controlada por muçulmanos sob constante ataque sérvio, Bihac sofria bombardeios regulares, que pareciam ter hora marcada —diariamente a partir das 18h30, prosseguindo até a manhã seguinte.
Na região, esse ciclo tem uma explicação semelhante à citada pelo escritor americano que cobriu o conflito afegão: “A maioria dos milicianos sérvios são camponeses, que trabalham nas fazendas e depois vão cumprir seu ‘serviço militar’”.
O constante retorno de conflitos abertos entre o Estado de Israel e árabes de territórios ocupados ou países vizinhos também parece fazer mais sentido quando observado como o ciclo de esgotamento e reenergização que Ignatieff observou em uma versão mais pura no Afeganistão.
Mas, se alguns conflitos ainda mantêm coerência com a antiga tradição “ecológica”, as guerras modernas parecem ter se descolado das limitações que antes mitigavam a violência, como se as potências militares contemporâneas tivessem a capacidade de “geração espontânea” de armas, munições e ódio.
Mesmo livres de amarras materiais, no entanto, esses países esgotam sua capacidade de manter confrontos indefinidamente, quando não pela economia, por sua cauda longa nos diversos campos da vida em movimento, como os fenômenos sociais relacionados ao esforço de guerra: a inflação aumenta os preços internos e gera fome entre os mais pobres; as numerosas baixas abalam o moral das famílias; as imagens de sofrimento de seus soldados e inimigos geram empatia com as vítimas da violência e ceifam o apoio aos governos, mesmo quando eles parecem vitoriosos.
Foi uma composição desses diversos fatores que abalou a possibilidade econômica e política de os contendores da Primeira Guerra Mundial manterem os combates.
Ao longo dos anos e décadas posteriores, tensões represadas pela interrupção do conflito se acumulam como a energia de placas tectônicas. Para esse movimento subterrâneo, o jornalismo é um sismógrafo incompetente, cujo alarme só grita quando eclode uma fase explícita de enfrentamento. À luz da história, como da geologia, o fenômeno jamais se interrompeu, apenas mudou de estado. Aos olhos da imprensa, no entanto, a cada vez começa uma nova guerra.
Leão Serva é jornalista, ex-secretário de Redação da Folha, é mestre e doutor em comunicação e semiótica pela PUC-SP; a Coleção de Fotografias de Imprensa da Primeira Guerra Mundial do Instituto Warburg, da Universidade de Londres, foi tema de sua pesquisa de doutorado.


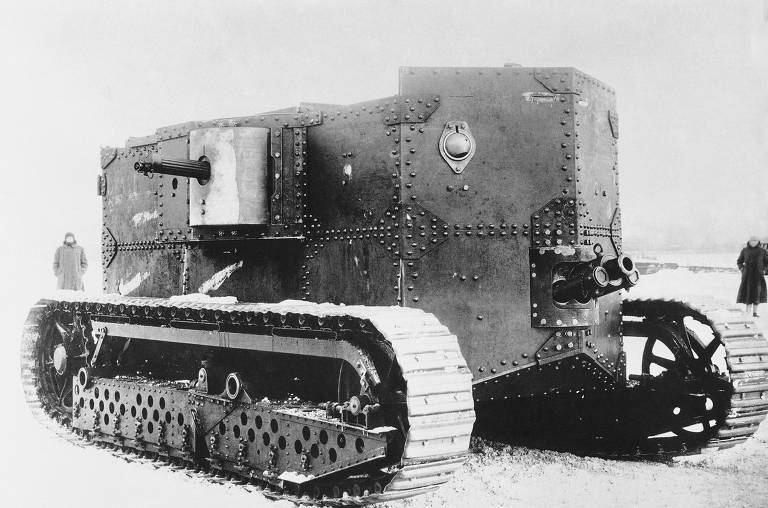





























Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.