[RESUMO] Leitor de Olavo de Carvalho e frequentador de seu curso de filosofia nos anos 1990, autor avalia que a surpresa com a recente projeção do escritor e ideólogo decorre de alheamento intelectual e alerta para o risco do abandono da curiosidade em favor da adesão a um determinado lado das guerras culturais.
A noite em que Bolsonaro foi eleito presidente corria tranquila para mim, até que alguém no Twitter disse que Bolsonaro tinha feito a “live” da vitória com um livro de Olavo de Carvalho sobre a mesa.
Fui conferir e, minutos depois, de olhos arregalados, não pude fazer nada além de me virar para minha esposa e dizer: “Agora eu só consigo pensar naquelas noites de 20 anos atrás em que Olavo dava aula às vezes só para quatro pessoas, em que eu brincava que ir ao Seminário de Filosofia era como ir a reuniões culturais dos dissidentes tchecos em 1980. Só não tinha a perseguição. Agora o Olavo está aí.”
“Agora” sem dúvida foi um exagero dito no calor do momento. Eu já tinha visto as imagens das manifestações com cartazes que diziam “Olavo tem razão”, sabia de suas centenas de milhares de seguidores no Facebook, sabia que o livro na mesa de Bolsonaro —"O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota”, muito bem organizado por Felipe Moura Brasil— era um best-seller, e não apenas para os padrões do mercado brasileiro, e já começava a me perguntar se, antes mesmo de Jordan Peterson, Olavo de Carvalho, valendo-se da desnecessidade de grandes mediadores que é a internet, não estava redefinindo a noção de intelectual público.
Como eu já acompanhava Olavo desde 1997, o livro na mesa de Bolsonaro impressionou muito mais outras pessoas, certamente porque, a partir de algum momento, Olavo de Carvalho tornou-se um tabu, um assunto do qual não se falava. Porém, desde o dia da eleição, o interesse por Olavo explodiu, provocando uma enxurrada de textos, muitos começando por aquele sinal inequívoco de má vontade que é chamá-lo de “ex-astrólogo”, que mostra que o maior interesse do autor é mostrar suas credenciais de pessoa respeitável.
Em 2014, eu já tinha escrito para a revista Nabuco (que recebeu contribuições de Ricardo Vélez Rodríguez, futuro ministro da Educação) um texto de memórias da década de 1990. Diante da ascensão da “nova direita”, Pedro Fonseca, da editora Âyiné, para a qual já traduzi dois livros de Paul Valéry, perguntou-me se eu não gostaria de escrever mais sobre o tema.
Com traduções para entregar, mais um doutorado próximo do fim, mais o projeto de escrever a biografia do Bruno Tolentino, minha resposta instintiva foi “não, de jeito nenhum”. Ao mesmo tempo, eu via pessoas inteligentes desnorteadas diante dessa nova direita, chamando-a de “fascista” como quem chama Olavo de “astrólogo” e assim se dispensa de ler e de pensar.
Decidi começar a escrever —à mão, aliás— algumas memórias e reflexões, porque me parece estar em jogo, na eleição de Bolsonaro e na surpresa com a projeção de Olavo de Carvalho, um forte alheamento.
Quando conheci Olavo em 1997, eu me sentia alheado do mainstream da cultura brasileira. Hoje, grande parte da imprensa parece descobrir-se alheada dos eleitores e de um grande movimento cultural. Lembro as várias vezes em que vi Carlos Andreazza, editor de não ficção da Record e credor da biografia de Tolentino, perguntar: como é possível que o “Mínimo” tenha passado tanto tempo na lista dos mais vendidos sem ter sido resenhado pela grande imprensa?
Se a filosofia nasce do espanto, como diz Sócrates no trecho 155d do “Teeteto”, a atração por Olavo de Carvalho e por seu Seminário de Filosofia também nasceu do espanto, nos dois sentidos da palavra.
O primeiro, que abre o verbete do dicionário quando vamos consultar o “tó thaumázein” do grego original de Platão, é “maravilhar-se”; o segundo, que aparece mais para o fim, é “perplexidade”. Só que, na década de 1990, quando conheci Olavo de Carvalho e Bruno Tolentino, a perplexidade com a situação cultural brasileira veio primeiro, e o maravilhar-me com a possibilidade de ter podido escapar dela veio depois.
Essa situação ficou sintetizada no episódio que conto a seguir. Ele começa com a vontade de maravilhar-me, com a vontade de admirar, e termina com a pura perplexidade —com uma certa estupefação, até.
Em junho de 1996, li no jornal que o Teatro Oficina traria ao Rio de Janeiro sua montagem de Bacantes, de Eurípides. Eu conhecia o renome do diretor, José Celso Martinez Corrêa, e sabia que ele tinha montado “O Rei da Vela”, de Oswald de Andrade, em 1967. Para quem tinha 19 anos em 1996, só esse item no currículo já parecia conectá-lo a uma espécie de passado mítico da cultura brasileira.
Mitos realmente não faltaram. No começo da peça, a plateia viu Cronos e Gaia nus e juntos, e Gaia parindo Zeus. Depois o próprio José Celso, no papel do Tirésias que vai ser cegado por Hera, fez um discurso e exibiu aquilo que os venerandos mestres da Casseta Popular chamavam de “pupila anal”.
Eu sabia que as tragédias gregas eram obras curtas, coisa de hora e meia no máximo, e aquelas cenas —acréscimos musicados ao texto de Eurípides, que só começaria após cerca de uma hora de mitos— respondiam-me como a montagem chegaria a cinco horas. Cada cena era recoberta de tantas referências e canções que a antropofagia oswaldiana defendida por José Celso aparecia como um ecletismo, uma forma de bulimia.
Naquela noite, também, o cantor Caetano Veloso foi raptado da plateia para fazer o papel de bezerro que primeiro mama na bacante, e, logo na sequência, o papel de animal estraçalhado pelas bacantes enfurecidas. O “estraçalhamento” consistiu em tirar as suas roupas, as quais foram entregues a mim, na primeira fila. Apareci na TV. Meus amigos riam: “Ele segurou a cueca do Caetano”.
O único critério que dava unidade à peça era a sexualização de tudo, do corpo dos atores aos acréscimos aos diálogos. O Baco de José Celso era o deus do vinho e da orgia, que tinha vindo se vingar dos moralistas de Tebas. Como aquela versão de “Bacantes” poderia se chamar “Super Suruba contra o Baixo Astral”, saí do teatro com a sensação de que a montagem estava tão próxima do texto de Eurípides quanto uma refilmagem nazista de “A Noviça Rebelde”.
Logo comprei uma tradução da peça. Enquanto a montagem de José Celso era absolutamente maniqueísta, no texto de Eurípides a semelhança entre Penteu e Baco é reforçada várias vezes. Enquanto José Celso insistia no sexo, Eurípides tratava da violência. Baco em pessoa abre a peça dizendo que já iniciou uma vingança contra Penteu e as tias, seus parentes mortais, fazendo com que elas e as outras mulheres da cidade saiam de suas casas e andem ensandecidas pelo monte Citeron.
Penteu também entra em cena chegando a Tebas —e mandando prender essas mesmas mulheres. Elas, as bacantes, são chamadas por Baco de “mênades”, isto é, mulheres furiosas. Quando Penteu insiste que vai mandar prender as mênades, o velho Tirésias lhe diz, em grego: “ménenas”, isto é, você está furioso. Ou ainda: desse jeito, você é uma mênade. E isso é só o começo.
Enquanto eu pensava em como uma peça que tratava da violência, que contrapunha um deus sanguinário a um governante no estilo “eu prendo e arrebento”, tinha sido transformada em “Super Suruba”, a imprensa falava da cueca de Caetano e de como ele tinha mamado o seio de uma atriz enquanto a esposa grávida o esperava em casa.
Daí a sensação de alheamento e de perplexidade. Mas então era isso a cultura brasileira? Ao menos no Rio de Janeiro, era isso? Uma interpretação primária de Eurípides de um celebrado diretor era (talvez merecidamente) eclipsada por uma cueca?
Não que eu estivesse esperando que algum acadêmico indignado redigisse a condenação de José Celso. Permanecendo na Grécia, meu lado Hermes ficaria contente com a exploração de alguns paradoxos deliciosos. Uma montagem dirigida por um grande nome do teatro, trazida com dinheiro da prefeitura, celebrada pela imprensa, que fala contra os poderosos… Era a caricatura viva do establishment que se julga transgressor. Como disse Auden em seu poema “Under which Lyre”: “Incapaz de inventar a lira, / cria, com fogo de mentira, / arte oficial.”
Mas ninguém escreveu nada assim.
No texto de Eurípides, Baco executa sua vingança justamente porque quer ser oficial. Ele reclama que Penteu não reza para ele. Embora o texto de Eurípides tenha reticências quanto a associar Baco e suruba, a montagem de José Celso assumia esse lado e deixava claro que o problema de Tebas era não ter oficializado a religião do carnaval —e seria punida por isso.
É praticamente tautológico dizer que a boa recepção da peça se deveu a um público que já era simpático a essa oficialização do carnaval. Isso ficou mais claro quando comecei o curso de letras da PUC-Rio e percebi como uma frase charmosa poderia valer como resposta para qualquer pergunta, mesmo que o assunto dela fosse evitado.
Não por acaso, essa atitude encontra uma máxima numa letra do cantor descuecado. Em “O Estrangeiro”, Caetano Veloso diz que “o rei está nu, mas tudo cala frente ao fato de que o rei é mais bonito nu”.
Na fábula “A Roupa Nova do Rei”, a ideia é que uma população inteira finge não enxergar que a roupa nova não é roupa nenhuma até que as crianças falam o que todos enxergam: o rei está nu. A ideia de Caetano parece ser fugir do problema usando um subterfúgio estetista: quem se importa, se ele é mais bonito assim? É uma mudança de assunto, uma cartada retórica para tentar matar a relevância da questão central.
Em “Bacantes”, aliás, estava todo mundo nu: Eurípides já não importava, e o miasma do cadáver era ignorado para não estragar a festa.
Eu poderia ter ficado vagando pela festa, com um copo na mão, acostumando-me com a sensação de perplexidade, e contando a anedota de como ajudei um popstar cinquentenário a se vestir. E poderia mesmo: antes da internet, que permitiu que pessoas afins se conhecessem, somente a Fortuna ou a Providência podiam trazer um interlocutor.
Sem querer ferir a sensibilidade pagã ou cristã de quem me lê, digo que o interlocutor apareceu da maneira mais inesperada.
Eu tinha sido escalado para trabalhar com o roteirista Leopoldo Serran, autor de “Dona Flor e Seus Dois Maridos” e “O Que É Isso, Companheiro?”. Um dia Leopoldo me deu de presente o livro “O Jardim das Aflições”, de Olavo de Carvalho, de quem eu nunca tinha ouvido falar.
Comecei a ler o livro somente para poder dar alguma resposta quando ele perguntasse o que eu achava. Só que não consegui parar —nem que fosse porque Olavo começava o livro falando daquilo em que eu estava pensando.
A primeira parte de “O Jardim das Aflições” discutia em que medida uma filosofia —no caso do livro, o epicurismo— pode ser a expressão de uma prática, e não, como normalmente esperaríamos, o contrário. Assim, ao mesmo tempo em que eu me perguntava se realmente não havia nada depois do José Celso nu, também via o paralelo disso com a ausência de repercussão do estraçalhamento de Eurípides: a chave não era uma ideia, mas o voluntarismo —a vontade de parecer charmoso.
Isso era só o começo. Em vez de, à moda academicista, adotar a voz impessoal de um suposto consenso, Olavo começava suas reflexões em primeira pessoa, enraizando sua filosofia no seu espanto pessoal com uma conferência de José Américo Motta Pessanha. Além de ponto de partida, essa conferência era também o ponto de chegada de um caminho que passava por discussões sobre qual seria o papel das sociedades secretas, a origem de ideias que hoje passam por senso comum, a figuração de aspirações espirituais e mundanas no romance moderno...
Era um universo mental muito mais amplo do que o do Teatro Oficina, e também dos suplementos e livros escritos com “fogo de mentira”.
Mais de 20 anos depois, nenhum grande ensaio ainda foi escrito sobre “O Jardim das Aflições”. Porém, mesmo que minhas releituras me trouxessem discordâncias pontuais, ou desejo de esclarecimentos, o assombro provocado por aquela primeira leitura fez com que meu diálogo com o livro fosse permanente.
Suas referências foram buscadas. Admirei a tentativa —até porque hoje são malvistas empreitadas assim— de abarcar um objeto tão vasto quanto a história do Ocidente. Admirei o trânsito do estilo jornalístico à argumentação filosófica, a variação entre o tom bem-humorado e o místico. Era o que eu esperava, sem originalidade, de uma virtude estética: o texto era atraente por estar a serviço do assunto. Já “Bacantes”, do Teatro Oficina, era uma encenação que tentava ser atraente para desviar-se do assunto.
Meses depois de concluir a leitura, a Fortuna ou a Providência intercederam de novo. Deparei-me com um cartaz na PUC. Olavo também dava um curso: o Seminário Permanente de Filosofia e Humanidades.
A primeira aula respondeu a uma angústia que já se somava àquela despertada pela montagem de “Bacantes”. Além de as leituras teóricas na faculdade de letras serem compostas essencialmente de academês (o leitor talvez até ignore a existência de muita crítica literária tão interessante quanto a própria literatura), a literatura era tratada como um um conjunto de obras que se referiam a si próprias.
Ali, sugerir que Machado de Assis escreveu “Dom Casmurro” para falar do ciúme e não meramente das obras de Shakespeare ou de Sterne seria demonstrar ao menos uma certa inaptidão acadêmica.
Eu não fazia ideia de que a filosofia universitária poderia sofrer de um problema similar. Aquela primeira aula no Seminário baseou-se no texto “Por que filósofo?”, do professor da USP José Arthur Giannotti. Giannotti dizia que o trabalho do filósofo consiste em comentar textos —atividade semelhante àquela que a PUC-Rio parecia prescrever a seus alunos ao insistir na “autorreferencialidade” da literatura.
Não preciso dizer que não era nada disso que eu esperava. Para mim, era evidente que filosofar era pensar diretamente sobre certas questões, mesmo correndo o risco de soar ingênuo por ignorar algum (ou muitos) de seus predecessores.
Nesse sentido, até, a literatura seria ao menos um pouco filosófica. A leitura de um texto (literário ou filosófico) não terminaria no entendimento do próprio texto, mas na comparação entre aquilo que o autor disse e aquilo a que ele se referia, na tentativa de executar na própria mente os pensamentos do autor —o que pode parecer óbvio, mas desperta certa controvérsia no ambiente universitário.
Como Olavo enfatizava nas aulas que o conhecimento era um ato da consciência individual, isso trazia consequências e obrigações éticas que nos afastavam dos cadáveres do estetismo. Lembro que Olavo repetia que “você não pode fingir que sabe aquilo que não sabe, nem fingir que não sabe aquilo que sabe”.
(Aliás, a ideia de conhecimento desacompanhado de disciplina pessoal é bastante nova na história da humanidade. Bastante nova e bastante esquisita. Estudar Husserl sem trabalhar a própria atenção é como querer largar o sofá e as batatas fritas e imediatamente tentar acompanhar Usain Bolt.)
Os temas das aulas variavam entre investigações pessoais do próprio Olavo e exposições do pensamento de outros autores.
É provável que muitas pessoas que conheceram Olavo primeiro como polemista tenham ficado atraídas por sua irreverência. Por acaso, só fui ler “O Imbecil Coletivo” depois de ter começado a frequentar o Seminário.
Um sujeito de Campinas, falando com “r” retroflexo (que nós, caipiras do Rio, chamamos de sotaque caipira), fumando sem parar, vinha discutir ideias não como quem tinha um currículo a cumprir, mas simplesmente porque seria impossível não discuti-las. Ainda falava de suas experiências no Partido Comunista e em seitas. Minha perplexidade com o José Celso não era nada.
“O Jardim” e o Seminário foram a oportunidade de sair daquela festa estranha com gente esquisita. Em vez de Eurípides versão “Porky’s” ou textos que “só falavam de textos”, tivemos René Guénon, Eugen Rosenstock-Huessy, Constantin Noica, Xavier Zubiri, René Girard, Mário Ferreira dos Santos e investigações do próprio Olavo.
Ouvimos dele sugestões que na época pareciam deslocadas e hoje se revelam pura vanguarda. No texto “Two roads for the new French right”, publicado recentemente na New York Review of Books, Mark Lilla fala da formação de uma direita nacionalista transnacional. Lembro-me de Olavo concebendo, em 1998, um... “Congresso Internacional da Direita Nacionalista”.
Mesmo que eu não me veja como um “nacionalista” político, é impossível não frisar que uma das melhores coisas daquela época foi o contato com um certo Brasil que não se deixou levar pelo estetismo. Não apenas por causa do zelo pela conexão entre palavra e coisa, mas também pelo resgate de autores como Otto Maria Carpeaux e Gustavo Corção, pela menção insistente (quando não pela presença física) de autores como José Osvaldo de Meira Penna e Paulo Mercadante —isso para nem falar de Bruno Tolentino. O cânon brasileiro era maior do que eu teria imaginado.
Admito de bom grado que também encontrei algo do que o Brasil me parece ter de melhor na pós-graduação em letras que frequento na Uerj, mas, no fim dos anos 1990, não havia intelectuais públicos, vindos da universidade, que dissessem num estilo admirável que o cerne da questão não era o rei ser ou não ser mais bonito nu.
Contra o Seminário de Filosofia sempre foi lançada a acusação de que era uma espécie de seita, e eu mesmo ria ao ouvir Bruno Tolentino brincando que “curso que não tem fim não é curso, é seita”. “Seita” essa que um dia parei de frequentar espontaneamente sem que nada acontecesse. Olavo já não morava mais no Rio e parou de vir à cidade. Quinze anos depois, em julho passado, reencontrei o “guru” na Virgínia para uma entrevista sobre o mesmo Tolentino e fui muito bem recebido. Foi como retomar uma conversa interrompida havia meia hora.
Ninguém também deve imaginar que no Seminário de Filosofia não havia discussões. Olavo era constantemente confrontado, e aulas inteiras poderiam vir de reflexões sobre a pergunta de um aluno. Nós mesmos falávamos de como esperávamos que alguém com mais tamanho viesse enfrentar Olavo, nem que fosse na imprensa, porque era difícil aceitar que as críticas, inclusive aquelas com maiores pretensões, se resumissem à má vontade do “ex-astrólogo…” ou ao preenchimento do divertido formulário que abre “O Imbecil Coletivo”. Continuamos esperando.
Mas talvez não esperemos mais tanto assim. Numa instituição ligada à Uerj, pude ver, no dia 5 de dezembro, o papel e a obra de Olavo de Carvalho enfim começarem a ser discutidos institucionalmente. O foco é seu pensamento político, mas foi um grande começo, a primeira possibilidade de que seu pensamento deixasse de ser tabu para uns e totem para outros, passando a ser apenas discutido.
Isto é: sem que impere o estetismo que nos leva a sacrificar até um Eurípides, parece que logo poderemos encontrar o resenhista que Carlos Andreazza pede para os livros de Olavo.
Meu otimismo só é temperado por alguma cautela. Ainda não diria que estamos totalmente a salvo de “Bacantes”. A perplexidade com que deixei aquela montagem em 1996, e que não era só minha, hoje também tem a forma de uma “guerra cultural” em que o lado da direita pode vestir a carapuça do Penteu de José Celso.
Se abandonarmos investigações intelectuais só para demonstrar que aderimos a um pensamento que nos apetece, poderemos até ser, na superfície, diferentes daquele Baco, mas Eurípides mostrou que Baco e Penteu são muito mais parecidos do que imaginam.
E, se voltarmos para “Bacantes”, só espero que dessa vez não me entreguem a cueca de ninguém.
Pedro Sette-Câmara é tradutor e escritor.
Ilustrações de Alex Kidd, designer gráfico e ilustrador.
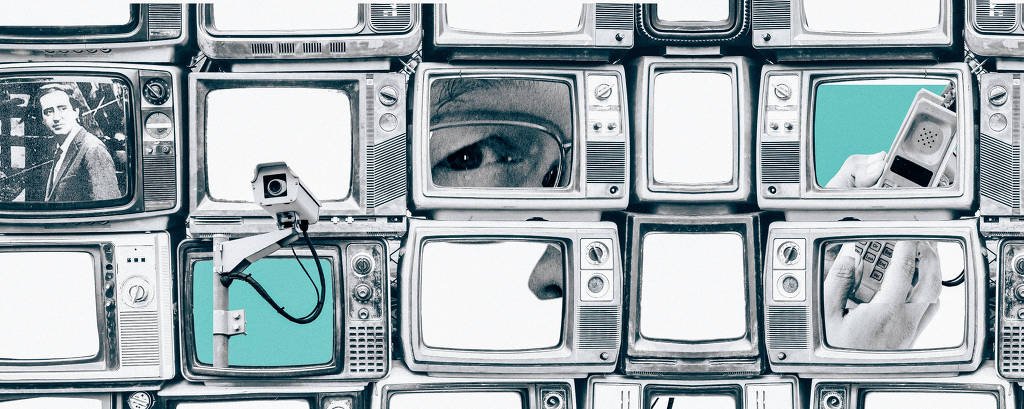







Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.