[RESUMO] Pesquisas estimam que até o fim do século o Facebook terá mais perfis de pessoas mortas, cujas páginas são mantidas por parentes e amigos, do que vivas. O fenômeno repete em modalidade virtual o empenho da sociedade em suprimir a experiência do tempo e da finitude.
Aberdeen, Escócia, 2012. Às vésperas de completar 18 anos, Scott Taylor e seu melhor amigo morrem em acidente de carro. A notícia se espalha pelo país, da tragédia surge a comoção e, da rotina, o esquecimento. Passados sete anos, o que era manchete nacional torna-se luta solitária —o tabloide local Press and Journal noticiou no último janeiro: “Mãe luta por reativação de página deletada do filho no Facebook”.
Scott Taylor não envelhece. Em seu perfil virtual, estão guardados vídeos, fotos, mensagens. A identidade que o garoto quis construir para si mesmo e transmitir ao mundo continua intacta, em um domínio seguro protegido contra a ação do tempo. Sua sobrevivência virtual tornou-se, assim, um convite para que pais e colegas continuassem depositando suas saudades. Os mortos, porém, insistem em não responder.
“Normalmente, quando atualizo meu Facebook, gosto de indicar Scott nas minhas postagens, mas quando tentei marcá-lo em seu último aniversário, não foi possível. […] Ainda que tenha morrido, ele está conosco, é parte da família —e a página era uma das únicas coisas que tínhamos dele”, declarou Karen Taylor, a mãe do garoto.
Scott faz parte de um grupo em crescimento vertiginoso. Publicada há três anos, uma estimativa ainda espanta: em 2098, haverá mais mortos do que vivos no Facebook. Acredita-se que 8.000 usuários morram diariamente. Pensada como lugar de encontros, a rede social extrapola aos poucos seu propósito para transformar-se em cemitério virtual. Desses fatos, surge a pergunta: como a virtualização da vida pode alterar a maneira de encarar a morte?
Na tradição judaico-cristã, como se sabe, morrer é transitar. A vida terrena seria somente um estágio provisório, anterior à plenitude e à imortalidade da comunhão com Deus.
Em jogo de esforço e recompensa —ou predestinação, para certas vertentes protestantes—, a existência é tão somente preparação para melhor encarar o fim de uma etapa. Vamos a igrejas, participamos de liturgias para aprender a morrer melhor e, se o destino final parece aterrador, transformá-lo em (re)começo sustenta uma civilização.
Enterramos nossos mortos, transformamos corpos em cinzas ou em heróis, para os quais erguem-se monumentos em promessa de eternidade. Os espaços que distinguem os dois mundos são cuidadosamente demarcados, a tal ponto que morrer transforma-se em uma questão também geográfica. Está implicado aí, afinal, um deslocamento entre as fronteiras de dois reinos —dos vivos aos mortos, a via é de mão única.
Em nossas cidades, a lógica de fronteiras e passagem também se impõe na experiência diária: os espaços da morte são demarcados pelos muros dos cemitérios, as lápides são dispostas em ruas internas, muito da linguagem fúnebre se organiza em metáforas de trânsito. Não à toa, até mesmo os relatos de quase morte são descritos como o percorrer de um túnel, em sentido à luz.
Os vivos, esses sim, envelhecem e sua missão existencial é encontrar maneiras de lidar com o próprio padecimento. Todas as questões se apequenam na presença da morte, todas as ciências —as biológicas, as humanas— se edificam em face ao seu temor. Poupar o ser humano dessa experiência, escondê-lo a todo custo, enterrando-o a sete palmos, é o esforço comum que cimentou nossa tradição. Se a religião demarcou novos mundos, se a sociedade há tempos embeleza seus mortos (vestindo-os, maquiando-os), que mudança, afinal, representa este in memoriam testemunhado nas redes?
Por um lado, o Facebook apenas repete um comportamento milenar de suavização da morte: afinal, como se disse, sempre criamos espaços de memória e manobras para mascarar o pesadelo de não mais ser. No entanto, sua modalidade virtual, da qual Scott Taylor é apenas um exemplo, parece trazer um componente inédito: se morrer era pensado como trânsito entre domínios distintos, o que está sendo criado agora é uma zona de indistinção.
Por zona de indistinção, entendo um território que não mais se estrutura na lógica de fronteira, de passagem e separação, mas, sim, de uma área comum entre dois reinos, na qual já não é mais evidente distinguir, ao menos à primeira vista, quem está vivo ou morto.
Escondidas sob aparência inofensiva, as implicações deste fenômeno merecem, porém, atenção especial quando pensadas à luz de uma sociedade empenhada em suprimir de seu imaginário a experiência do tempo e da finitude.
Como lembra o professor de filosofia Oswaldo Giacoia Jr., da Unicamp, em “A Visão da Morte ao Longo do Tempo”, a intuição hoje predominante é a da morte como um mal “a ser removido, suprimido”.
“A essa ideologia clínica da morte pertence sua subtração do espaço social das vivências domésticas, seu ocultamento no espaço cerrado das enfermarias, sua retirada do campo de visibilidade e audição, seu encerramento discreto e velado, na forma silenciosa da morte hospitalar”.
O diagnóstico do professor pode ser facilmente constatado no cotidiano mais banal. Nossa relação com os idosos é exemplo didático: a velhice, um dia símbolo de experiência, tem carecido de dignidade. Na busca pela juventude eterna, na valorização incessante do novo e do instantâneo, os velhos são confinados em asilos, retirados do convívio público para que suas angústias —ou seriam as nossas?— fiquem encarceradas em espaços privados.
Não sabemos lidar com a morte. Não defrontamos sua aparência com receio do choque. Não mencionamos a palavra com medo de atrai-la. Pensar positivo é fechar-se aos seus gritos. E, na esperança de dobrá-la, sustentamos simulacros de vida no convívio virtual.
Preparado para as novas tendências, o Facebook faz sua parte: qualquer conta pode ser deixada de herança a familiares, amigos ou a quem requisitar. Dentre as funções previstas para aqueles que herdam o perfil de um morto estão: fixar uma publicação, responder a novas solicitações de amizade, alterar a imagem de perfil e a foto da capa.
Brincando de vida eterna, não é exagero perguntar: como uma juventude acostumada a descartar velharias e despreparada para lidar com términos lidará com o próprio envelhecimento? Ou ainda: qual será o resultado do choque entre a promessa de eternidade das redes sociais e a finitude inevitável que medeia todos os acontecimentos da trajetória humana?
Em um mundo sem fronteiras, sem limites geográficos ou bom senso, morrer se transforma em esperança cega de estar entre os vivos. Quando mortos tornam-se capazes de manter e fazer amizades, algo de nossa capacidade de discernimento está estranhamente fora do eixo.
De certo, a perspectiva do fim será sempre terrível, impossível de ser postada na euforia das redes. Verbalizá-la e encará-la sem atalhos, no entanto, é fundamental para que deixe de ser somente dor e torne-se também processo. Remediar exageradamente nossos temores talvez seja o primeiro passo para deteriorar o que resta de saúde.
Felipe Arrojo Poroger é cineasta graduado em filosofia pela USP, é diretor do Festival de Finos Filmes, cuja próxima edição acontece de 22 a 28/5, em São Paulo.
Ilustração por Carolina Daffara, designer gráfica.



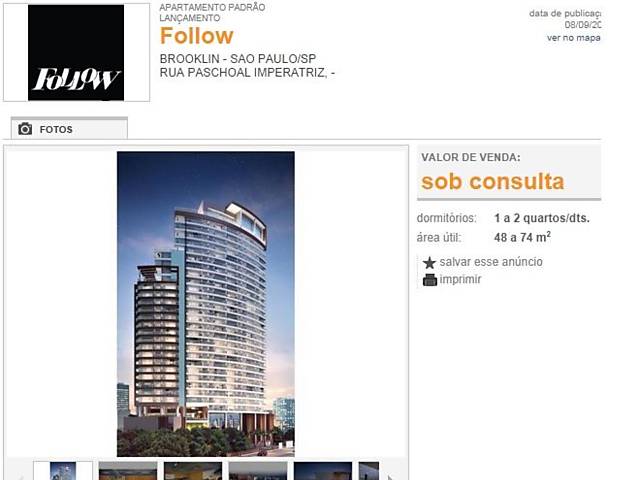








































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.