[RESUMO] Correspondente no Vietnã em 1968, repórter brasileiro discute o papel da imprensa na vida pública a partir da autobiografia de Seymour Hersh, jornalista que revelou o massacre de My Lai.
O que fizeram duas companhias do Exército americano na Guerra do Vietnã, no mesmo dia, 16 de março de 1968? Em uma, a Companhia D, eu estava presente, como correspondente na Landing-Zone Betty (Base Aérea Betty), dos Estados Unidos, em Quang Tri. Nessa, a missão foi cumprida com dignidade pelos militares. Na outra, a Companhia C, ocorreu o maior escândalo do conflito, o massacre de My Lai.
O Exército dos EUA acobertou o massacre por quase dois anos, mas um repórter investigativo, Seymour Hersh, trabalhando sozinho e seguindo as pistas pelo faro, como um cachorro-mestre em caçada de onça, descobriu a história e a expôs ao mundo.
Os EUA não teriam mais como manter suas tropas no Sudeste Asiático depois dessa revelação, que vinha no curso de outras denúncias do tipo. Foi a primeira vez que as Forças Armadas americanas foram derrotadas em sua história.
Quem é Seymour Hersh e o que significa para o jornalismo investigativo internacional, a autobiografia “Repórter”, recém-lançada no Brasil, conta. Sua carreira, de mais de 50 anos, é a de um repórter arrasador que se move (ainda está ativo) com um só objetivo: confrontar os poderosos para poder escrever (com a devida documentação) como são falsos e mentirosos.
No planeta, todos mentem, diz ele, mas quando o ser humano mente para esconder um serviço (público ou não) que devia ter feito e não fez, ou fez criminosamente, tem de ser desmascarado.
As “vítimas” de Hersh podem ser de empresa privada ou do governo: a CIA, Henry Kissinger, John Kennedy, o presidente do dia, o mal contado assassinato de Bin Laden no Paquistão, o programa de armas químicas e biológicas do Exército americano ou a tortura na prisão de Abu Ghraib, no Iraque.
Ao longo de sua carreira, fez boa coleção de inimigos; vive desempregado. Mas tem o devido reconhecimento, como jornalista, escritor e ativista antiguerra. E até ganhou dinheiro: seu livro “O Lado Negro de Camelot” (L&PM), sobre Kennedy, saiu com 350 mil exemplares. Aos 82 anos, casado com a mesma mulher, com filhos e netos, diz que sua vida é simples e que continua na luta.
No caso de “Repórter”, não se pode ler a introdução antes do livro. Ela o estraçalha. É preciso curtir o texto antes, sentir toda sua força, sem dor antes da hora. O que está em jogo não é só a sobrevivência do bom jornalismo, mas também a de um dos pilares da democracia, parte do sistema de pesos e contrapesos.
A data de 16 de março de 1968 não sairá da história porque nesse dia o Exército dos Estados Unidos praticou um ato nefando, um crime de guerra, à luz do dia, com fotos perfeitas e confissão dos atiradores.
Os cem homens da Companhia C do Primeiro Batalhão da 20ª Brigada, armados de fuzis-metralhadoras e granadas, sob as ordens de um comandante desequilibrado, metralharam, a cinco metros de distância, 109 pessoas —velhos, mulheres e crianças— que estavam amarradas numa praça por uma corda. Entre os mortos, um bebê de dois meses, com uma bala na cabeça.
O episódio ficou conhecido como massacre de My Lai, nome de um povoado na província de Ngai, no Vietnã do Sul, perto da estrada que liga a antiga Saigon a Hanói.
Como o retrato da menina correndo sem roupa por causa das queimaduras de napalm e o do vietnamita morto a tiros de revólver na cabeça em plena rua pelo chefe de polícia, as imagens de My Lai ajudaram a levar aos americanos a mensagem de que os crimes da Segunda Guerra, tão explorados nos filmes de Hollywood como monstruosos, estavam sendo praticados também no Vietnã: “Somos então iguais aos nazistas?!”. Foi assim que o apoio do povo americano à guerra foi se dissipando, até desaparecer. A derrota começou dentro de casa.
No mesmo 16 de março em que a Companhia C perpetrava o maior assassinato de civis da Guerra do Vietnã, a Companhia D, onde eu estava, com missão semelhante —lidar com uma comunidade rural sob suspeita de que ajudava o inimigo—, agiu com muito respeito. Nem eu nem o fotógrafo que estava comigo —o japonês Kei Shimamoto— vimos oficial ou soldado tratando mal, ameaçando ou humilhando alguém.
Para entrar numa casa onde iam espionar ou revirar colchões a galinheiros, pediam licença. Depois vinham desculpas pelo “mau jeito”. Alguns dias depois, porém, veio uma ordem para a Companhia D voltar à mesma aldeia (chamada em vietnamita de Laranja Doce). Possuíam agora indícios mais precisos de que os pacíficos camponeses eram de fato guerreiros inimigos.
Essa nova patrulha aconteceu no dia 20 de março e, aí sim, o bicho pegou: não havia mais moradores e o terreno fora minado. Com as explosões, a aviação foi chamada, mas adiantou pouco o bombardeio. No chão, as minas mataram oito americanos; outros tantos foram feridos gravemente, entre eles eu, que perdi ali parte da perna esquerda.
Haveria alguma diferença entre as Companhias C e D naquele dia? Ambas tinham a tropa treinada (cerca de cem homens) com suas armas e munições, um comandante, um subcomandante, o pessoal de rádio, comunicações e inteligência, a equipe médica e paramédica, os sapadores (para indicar minas e outras armadilhas), o capelão. Haveria alguma diferença entre elas, afinal? Havia.
Em seu livro de memórias, Hersh repete suas reportagens: é preciso, duro, implacável, documentado. Além do talento, sua principal arma —alguém disse— é a energia: leva o serviço a sério e se esforça mais que os outros. Assim, quase sempre chega antes. E quem chega na frente bebe água limpa. Cada reportagem sua é um assunto pessoal, uma missão, tem a ver com sua honra.
É também um patrimônio: “Esta reportagem é minha, não vou deixar que outros repórteres compartilhem o trabalho. Quero sim chegar na frente”, escreveu ele em seu livro sobre quando estava seguindo as pistas que o levariam ao tenente William Calley, o comandante do massacre de My Lai.
Antes de chegar a ele, Hersh já tinha informação suficiente para a reportagem-bomba. Mas queria a cereja do bolo, a palavra do próprio comandante da ação, que, por certo, em sua defesa, inventaria —como o fez— que tudo tinha acontecido em meio a feroz tiroteio. Como de costume, o repórter usou a simpatia para obter confiança do tenente: ficaram horas conversando no quartel, saíram à noite para beber, foram atrás da namorada de Calley para que ela fizesse alguma coisa para comer na madrugada.
Do time dos grandes repórteres investigativos dos EUA, Hersh talvez seja o maior, por sua determinação e independência. Se a Redação em que trabalha não o apoia ou põe em dúvida sua investigação, ele pega o boné e volta a ser freelancer. Sua obstinação para revelar uma mentira do governo ou de uma grande empresa é tamanha que seus inimigos dizem que ele é capaz de atropelar a mãe por uma boa história.
Outros dizem que é um terrorista do jornalismo. Para os editores, é uma dor de cabeça. Os textos são longos e ele briga quando querem cortá-los ou —pior ainda— reescrevê-los. É workaholic e, quando está fazendo um texto na Redação, fica ali direto, varando dias e noites, pedindo comida no sofá, dormindo lá mesmo.
Conta no livro que numa noite de sexta-feira estava na Redação do New York Times para concluir sua matéria da edição de domingo e o redator veio dizer que o texto estava longo, que era preciso cortar um pedaço. “O quê?! Destroçar minha reportagem? Você ficou louco?”.
Começou uma disputa que entrou pela madrugada; ele defendendo a integridade do texto, o redator mostrando que era necessário cortar, que havia outras matérias, que simplesmente não cabia tudo. Hersh resolveu então telefonar —já eram três da madrugada— para Abe Rosenthal, o temido editor-executivo do jornal. A telefonista tinha o telefone e ele ligou.
Atende a mulher de Abe, que Hersh conhecia. “Abe não está, nós nos separamos. Deve estar na casa da nova mulher dele.” E agora, para saber o número dessa nova mulher? Ele procura e acha, a pessoa atende, conta que Abe está dormindo. “Acorde ele, diz que é importante!”. Abe vem ao telefone, pê da vida. Hersh dispara sobre ele todos os tiros de sua metralhadora de argumentação. Abe pede que ele fique na linha.
Dentro de alguns minutos, vem a decisão de acrescentar uma página ao suplemento de domingo, tanto para abrigar a matéria de Hersh quanto outra que estava na espera. Antes de desligar, Abe diz: “Não diga a ninguém o que aconteceu aqui conosco hoje, está bem?”. Os dois sabiam que não havia possibilidade de uma fofoca como essa ficar em segredo, no meio jornalístico, por mais de 24 horas.
Na sua caçada para encontrar o tenente Calley, que o Exército tinha escondido numa unidade do interior longínquo, Hersh usou uma das duas coisas que aprendeu em seu tempo no serviço militar. Uma era desmontar e montar, com os olhos vendados, em menos de um minuto, um fuzil, deixando-o no ponto para atirar. Outra, entender a burocracia do Exército, “essa máquina incansável que elimina variações e aleatoriedade”.
Montar e desmontar fuzil não ia adiantar nada ali, mas ter aprendido sobre a burocracia militar dava-lhe esperança: o Exército americano documenta tudo o que faz. Se houve de fato alguma coisa tenebrosa no Vietnã, existem relatórios, às vezes fotos e vídeos. Era encontrar a pessoa certa, o arquivo certo. “Vou atrás.”
Hersh começou a investigação sobre My Lai com um recorte de jornal que dava, na página 38, uma notícia que parecia não ter importância nenhuma, sobre o fato de que o Exército estava processando um militar que tinha mandado matar civis no Vietnã. Isso era corriqueiro. Mas ele seguiu pelo instinto —“todo repórter se move pelo instinto”— e os pulos que deu para ligar essa pista com outras e ir até o final são uma leitura deliciosa neste livro arrebatador.
Hersh chegou a Nova York com a reportagem sobre My Lai pronta. Sabia que aquilo lhe daria prêmios, fama e dinheiro (ganhou, entre outros, o Pulitzer e recebeu comissões pelos livros que escreveu depois; pôde, pela primeira vez, sair do aluguel, dando entrada numa casa em Washington). Mas, surpresa, a grande imprensa americana, no início, não quis a matéria.
As revistas semanais ilustradas — Life, Look— foram seu primeiro alvo. Nenhuma se interessou. O mesmo se deu com os jornais. Acabou publicando o furo histórico num desconhecido Dispatch News, de Nova York, que também se incumbiu de oferecer o texto a pequenos jornais do interior, a US$ 10: 50 compraram. Escrito de maneira simples e clara, o texto até parece inocente, para ser, como acabou sendo, uma das reportagens de maior repercussão da história do jornalismo mundial. Começa assim:
“O tenente William Calley Jr., 26 anos, um sujeito tranquilo de aparência juvenil, é um veterano de combate no Vietnã, chamado pelos amigos de Rusty [“enferrujado, que tem sardas”]. O Exército afirma que ele assassinou deliberadamente 109 civis vietnamitas durante uma missão de busca e destruição em março de 1968.”
A reportagem, de 1.500 palavras, seguia contando a história, cada linha —cada palavra— medida e documentada. O próprio Exército tinha se incomodado com My Lai e encarregara um de seus oficiais superiores, o general Peers, de fazer uma investigação sigilosa sobre o caso. Os 40 volumes do relatório final da Comissão Peers recomendavam a incriminação de 17 oficiais de patentes superiores à de Calley, inclusive o general-comandante da divisão.
A Comissão Peers foi para a gaveta, mas Hersh conseguiu uma cópia do relatório. Ali havia papéis e depoimentos para provar que o gesto tresloucado do tenente Calley não foi um transe ou um “cinco minutos” da cabeça de um combatente de campo, mas resultado dos exercícios que tivera nos EUA, um treinamento para matar, sem contemplação para direitos humanos e convenções internacionais. “Nossa missão no Vietnã: matar vietnamitas comunistas” (sem perder muito tempo para diferenciá-los dos outros).
Primeiro, o Exército tentou fazer de My Lai um assunto interno, com talvez uma punição administrativa que ninguém ficaria sabendo. Com a exposição do assunto e a repercussão no Congresso (e no mundo), Calley foi levado à Corte Marcial e ali condenado à prisão perpétua.
Nenhuma citação ou pena a seus superiores, de quem recebera ordens específicas em My Lai. Afinal, foi tudo um fingimento: Calley não ficou um dia na prisão, logo foi transferido para um quartel e ali recebido como oficial. Em pouco mais de três meses, estava na rua, livre. Hersh escreveu livros e tornou-se um “doutor em My Lai”. Chegou a dizer: “Fiquei viciado em Vietnã”. Detalhe: ele nunca esteve no Vietnã a trabalho. Fazia tudo de Nova York.
E o povoado onde se deu a tragédia, como ficou? Com um museu bonito, que eu visitei 25 anos depois, para entrevistar para a TV Globo uma sobrevivente, a sra. Phan. Seu rosto aparece nítido numa das fotos da povoação espremida por uma corda na praça, minutos antes da fuzilaria. Encontrá-la viva, ativa, falante, foi grande emoção.
O Museu de My Lai é bem instalado, em prédio feito para ele, as salas com vitrines sempre com luz do sol e as fotos magníficas da chacina na parede, quase passo a passo, de todos os personagens —vítimas e algozes. É de arrepiar, inesquecível.
Detalhe: tudo feito pelos americanos. Então é assim: os americanos praticam um crime hediondo, exterminam a população de um povoado de maneira nazista, mas documentam tudo —e depois, num gesto de grandeza (ou de remorso?), se dispõem a dar dinheiro para fazer um museu, com arquiteto, mapas, fotos, desenhos, croquis.
Após recusar vários convites, Hersh foi a My Lai com a família. Gostou do museu, viu suas reportagens expostas, mas ficou triste: não lhe saía da cabeça a imagem dos metralhados na praça, amarrados por uma corda, colados uns aos outros, o desespero estampado nos rostos, sem a menor chance de defesa —e à frente um atirador americano.
Sua luta, diz ele, é desmascarar os poderosos que, com suas mentiras e falsidades, impedem que seu país —os Estados Unidos —se torne um lugar em que os direitos humanos não existam só na boca de governantes e políticos.
“Sou um sobrevivente”, diz Hersh, no começo da introdução do livro, lembrando a fase de ouro do jornalismo americano, quando ele (e muitos outros grandes repórteres) não tinha de competir com as notícias 24 horas da TV a cabo (ou da internet), quando os jornais ganhavam dinheiro com propaganda e classificados e podiam mandar seus correspondentes para qualquer lugar do mundo onde houvesse um assunto importante acontecendo.
Faz o diagnóstico: “Estamos saturados de notícias falsas, informações exageradas e incompletas, asserções inverídicas feitas sem parar nos jornais, nas televisões, nas agências de notícias online, nas redes sociais (...). Os jornais, as revistas e as redes de TV continuarão demitindo repórteres, reduzindo a equipe e encolhendo o orçamento disponível para uma boa reportagem, especialmente para reportagens investigativas, cujo custo é elevado, o resultado imprevisível e ainda têm grande capacidade de irritar leitores e atrair processos caros (...). Por falta de dinheiro, tempo ou equipe habilidosa (e bem paga), estamos cercados por reportagens com ‘ele disse, ela disse’, nas quais o repórter não passa de um segurador de microfone”.
Constata, com amargura, que não conseguiria fazer o que fez se tivesse de trabalhar com o jornalismo caótico e sem estrutura de hoje.
Duas coisas. Primeiro, o que isso tem a ver com democracia? Os americanos (e todas as nações adiantadas e democráticas do mundo) contavam com o jornalismo investigativo para fazer um contraponto aos abusos e crimes do governo (ou de outros poderosos), chamando ao bom senso (e ao cumprimento da lei) os homens do poder.
Jornalismo investigativo é (era?) uma arma da sociedade para desmascarar os opressores, apontar seus erros, sobretudo suas mentiras, de forma a fornecer ao Parlamento elementos para propor comissões de inquérito destinadas a investigar oficialmente os acusados. A ponto —como se deu em Watergate— de levar um presidente à renúncia.
Esse mesmo jornalismo permitiu a Hersh, por mais de uma vez, colocar o dedo no nariz do presidente (ou do general) e mostrar com documentos como ele estava mentindo e porque devia mudar de atitude —e mudou, em muitos casos. Há quase uma simbiose entre jornalismo investigativo e Parlamento, um alimenta o outro.
Como vai ser sem ele? Para os Estados Unidos, Hersh insinua que poderia surgir uma “solução inglesa”, na qual o público, o próprio povo, bancaria o jornalismo, como se faz na Inglaterra com a BBC. Por enquanto, nos EUA, do jeito que está, não há saída: o jornalismo investigativo está morrendo.
Segundo: e quanto ao Brasil? Se nos EUA o bicho está brabo, aqui também não anda manso. Mas nada está tão ruim que não possa piorar, ainda que, no fundo, muitos de nós acreditemos mesmo que Deus é brasileiro e que, no fim, se dará um jeito. De qualquer forma, a fotografia, neste momento, só mostra o túnel escuro sem uma luz no fim...
Ah!, e as duas companhias do Exército americano, a C, em My Lai, e a D, na aldeia Laranja Doce, eram exatamente iguais? Não eram.
Na Companhia C, do tenente Calley, não havia nenhum jornalista. Na D, havia mais de um, sendo eu um deles. Será que aquele comandante e aqueles combatentes de My Lai agiriam da mesma forma na presença da câmera de um repórter?
José Hamilton Ribeiro, jornalista, é autor dos livros “O Gosto da Guerra”, sobre sua experiência no Vietnã, “Pantanal, Amor Baguá”, sobre o Pantanal, e “Música Caipira - As 270 Maiores Modas”.







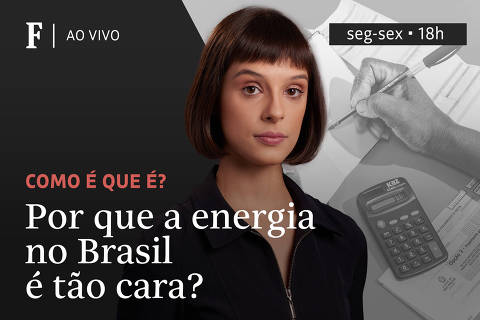

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.