[RESUMO] Em resposta a coluna de Jorge Coli (30/6), professora argumenta que pontos de vista de minorias foram historicamente relegados na construção de uma suposta racionalidade universal e neutra, na verdade masculina e branca, que a teoria do lugar de fala procura combater.
Expressão usada e abusada nos últimos tempos, “lugar de fala” suscita emoções intensas e extremadas.
De um lado, há quem defenda que somente uma pessoa portadora de certos marcadores de identidade e sociais pode falar e teorizar sobre determinados assuntos. De outro, há quem pense que fala e teoria não estariam (ou não deveriam estar) relacionadas de maneira importante com a identidade, a vivência e a posição social do falante e do teórico. É o que sustentam, com frequência, aqueles que têm reagido com ênfase ao autoritarismo do “lugar de fala”. Recuso as duas posições extremas e busco uma “mediania” que evita os excessos e expressa o que há de potente e democratizante na ideia de lugar de fala.
Em 30 de junho, Jorge Coli escreveu na Ilustríssima contra o autoritarismo da reivindicação de lugar de fala, mencionando um caso aparentemente paradigmático do uso corrente da expressão quando ela serve como instrumento para “calar a boca dos que estiverem em desacordo”. No artigo, Coli critica a posição de um ativista gay, para quem um trabalho acadêmico sobre “um homem gay (escritores, artistas, fotógrafos etc.) deve ser sempre feito por alguém da mesma sexualidade”.
O professor titular da Unicamp contra-argumenta com razão e conhecimento de causa, lembrando exemplos da história da arte: “Nada impede que um pesquisador gay faça um excelente trabalho sobre um artista gay. E nada impede que ele também produza excelentes resultados estudando artistas héteros —a história da arte tem exemplos numerosos de casos assim”. Este argumento é incontestável, vale para outras áreas do conhecimento e pode ser estendido para além da sexualidade, evidentemente.
Eu acrescento que aquela posição contestada por Coli levaria a pesquisa e a produção teórica ao extremo da balcanização: apenas mulheres poderiam estudar mulheres e temas de gênero, apenas pessoas negras estariam autorizadas a teorizar sobre autores negros e temas vinculados ao racismo etc. Por indução, aquela alegação tende à essencialização e ao cerceamento da liberdade de investigação: as mulheres deveriam, então, estudar certos temas e não outros, as mulheres negras —diria o “bom senso”— deveriam estudar certos temas e não outros.
Ora, nós não chegamos até aqui, nessa penosa jornada de resistência contra uma universidade que masculiniza, branqueia e heteronormatiza alunos e pesquisadores, para aceitar que a liberdade de fala e a escolha de temas seja cerceada novamente, agora às avessas.
Além do mais, um espaço destinado à produção de conhecimento deve estimular que um tema seja abordado pelo maior número possível de perspectivas, afinal, a pluralidade de abordagens enriquece a reflexão, questiona padrões consolidados, desmonta estereótipos e amplia a mentalidade da comunidade de pensadores e pesquisadores.
No entanto, Coli corre de um extremo para cair no outro e, com isso, contribui para reforçar o preconceito e a falta de compreensão a respeito do conceito de lugar de fala.
Ele admite que não aborda o assunto teoricamente, mas se assim tivesse feito, teria tido a chance de ampliar sua própria mentalidade a respeito do assunto e, ao invés de correr tão prontamente para denunciar “minorias” que querem calar a boca dos outros, ele teria aprendido que a ideia de lugar de fala se consolida, entre teóricas negras, junto com a constatação de que, no âmbito do racismo, “a boca se torna o órgão de opressão por excelência, representando o que as/os brancos querem —e precisam— controlar e, consequentemente, o órgão que historicamente tem sido severamente censurado” (Grada Kilomba, em “Memórias da Plantação”, ed. Cobogó).
Uma abordagem teórica do tema teria ajudado a um reposicionamento da bússola e talvez tivesse evitado a afirmação de que “pertencer a uma minoria confere autoridade narrativa e testemunhal apenas. Porque o único lugar de fala admissível quando se trata de conhecimento e reflexão é o da universalidade racional”.
Há uma estranha disjunção entre narrativa, testemunho e produção de conhecimento na fala de Coli. Uma abordagem teórica o teria obrigado a ser mais cuidadoso nisso, afinal, como mostra Djamila Ribeiro —em diálogo com Lélia Gonzalez, Patricia Hill Collins e Grada Kilomba—, essa disjunção tem sido historicamente usada para a depreciação de certos saberes e pontos de vista e para a exclusão das vozes negras da instituição universitária, a que produz o conhecimento aceitável em sociedades racistas.
No livro “O Que É Lugar de Fala?” (Letramento), Ribeiro aponta que a justificativa da hierarquização dos saberes e da exclusão de uma série de pontos de vista do âmbito da produção do conhecimento tem sido justamente a tal razão universal que Coli reivindica e que tem servido para calar a boca de muita gente.
Nós, professores universitários e pesquisadores brancos, não podemos mais clamar pela “racionalidade universal” sem nos perguntarmos seriamente a quem ela tem servido como argumento de autoridade e manutenção de poder epistemológico. Se queremos falar em nome da razão, que ela seja mais democrática.
Ao apartar as narrativas e experiências da produção de conhecimento, Coli (mesmo que talvez impensadamente) reproduz o mito de que o sujeito do conhecimento, assim como o sujeito moral e político, não está situado no tempo e no espaço, não tem corpo, história, cultura, experiências, afetos.
Essa ilusão surge da demanda moderna por neutralidade, legitimidade e universalidade, mas o que diversas intelectuais feministas têm enfatizado desde ao menos os anos 1980 é que esse sujeito abstrato é, na verdade, masculino, branco e proprietário. Ou seja, o que a universalidade esconde é um sujeito bem concreto, que serve de paradigma epistemológico, moral e político e que, em função de sua suposta capacidade de abstração, poderia falar por todos os outros.
Esse universalismo não é democrático e, para que seja repensado em termos concretos, é preciso que os sujeitos brancos masculinos (e femininos) entendam que sua fala é, como todas as outras, localizada no tempo, no espaço, na cultura e sempre carregada de valores e afetos. Admitir isso é um bom caminho para aceitarmos também que não conhecemos experiências dos outros a menos que estejamos dispostos a ouvir suas narrativas.
A teoria está disponível, basta termos a responsabilidade e o interesse em acessá-la. “O Que É Lugar de Fala?” mostra que a expressão, trabalhada como conceito e com aporte teórico, não é para calar a boca de ninguém —pois todos temos lugar de fala—, mas para denunciar a restrição de oportunidades vinculada à posição social; para denunciar opressões estruturais; para questionar a legitimidade conferida àqueles que pertencem aos grupos localizados no poder em todas as esferas.
A teoria do lugar de fala é sobre refutar um universalismo que silencia e substitui a voz dos outros. Ela tem intenção deliberada de suscitar nas pessoas brancas a consciência de que o lugar que elas ocupam —inclusive na produção do conhecimento— é um lugar de privilégio e poder.
É melhor escutar ao invés de reagir com a emoção que transparece medo de perder a voz hegemônica.
Yara Frateschi é professora livre-docente do Departamento de Filosofia da Unicamp e autora de “A Física da Política: Hobbes contra Aristóteles” (ed. Unicamp).









































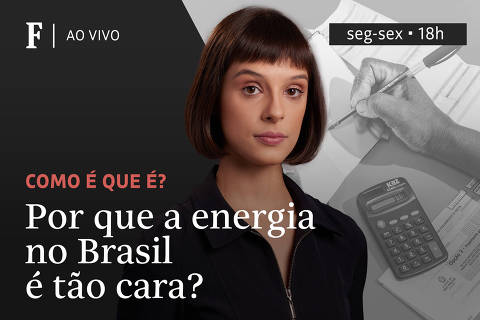

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.