[RESUMO] Autora argumenta que “Chernobyl” tem chance de replicar feito inaugurado pela série “Holocausto”, em 1978, que abalou o modo como o mundo enxergava o massacre étnico promovido pelos nazistas e deu origem a uma espécie de “era da testemunha”. A minissérie da HBO, favorita ao Emmy, poderá adensar o debate sobre catástrofes ambientais.
Quando foi ao ar pela primeira vez em abril de 1978, os criadores da série norte-americana “Holocausto” não poderiam imaginar o impacto que a obra teria nos Estados Unidos e na Europa.
Dirigida por Marvin Chomsky e escrita por Gerald Green, que posteriormente a transformou num romance, a série veiculada pelo canal de televisão NBC foi vista por 120 milhões de telespectadores só nos EUA. No ano seguinte, o sucesso desembarcou na Alemanha Ocidental, onde, estima-se, 20 milhões de pessoas (quase 40% da população alemã da época) assistiram às nove horas e meia de duração da obra, dividida em quatro capítulos.
A repercussão foi tão grande que, antes mesmo da exibição do primeiro capítulo, Peter Naumann, membro da extrema direita alemã com um vasto currículo de atividades terroristas, explodiu duas torres de televisão para impedir a transmissão, privando 100 mil alemães do destino trágico da família Weiss.
Se nos Estados Unidos e na Alemanha a série causou comoção nacional, retirando da invisibilidade e do relativo silêncio um evento histórico decisivo para o século 20 —até aquele momento ainda pouco presente no debate público norte-americano e europeu—, as reações críticas foram também eloquentes.
Elie Wiesel, sobrevivente da destruição em massa dos judeus europeus, radicado nos EUA desde os anos 1950, reagiu severamente em artigo no jornal The New York Times, considerando a série “irreal, ofensiva e barata”. Para o autor da obra testemunhal “A Noite”, assim como para vários outros sobreviventes, aquela “ópera kitsch” banalizaria e trivializaria o acontecimento histórico, transformando-o numa novela: o Holocausto seria a partir de então “medido e julgado pela produção de TV que leva seu nome”.
Mas o que aconteceu foi mais do que isso. Wiesel não poderia prever que a própria série faria a palavra Holocausto, até então pouco empregada, com conotação religiosa e sacrificial, entrar definitivamente no vocabulário mundial.
Cruzando o destino de duas famílias alemãs, uma nazista, a Dorf, e outra judia, a Weiss, “Holocausto” personalizava a Shoah (termo hebraico que significa desastre, catástrofe, destruição), dando um rosto humano ao genocídio através de um núcleo familiar “típico”, que encarnava o destino do judaísmo alemão.
De acordo com a historiadora francesa Annette Wieviorka, em seu livro seminal “L’Ère du Témoin” (“a era da testemunha”, infelizmente até hoje não traduzido no Brasil), a série teve nos Estados Unidos o mesmo efeito que o processo Eichmann provocou em Israel no início dos anos 1960: disparar nos sobreviventes um desejo ardente, e bastante novo, de testemunhar e narrar o que fora vivido nos campos de extermínio.
Atitude não muito frequente até então, já que o silêncio, a vergonha e a culpa daqueles que voltaram dos campos da morte predominaram mesmo após décadas desde o fim da Segunda Guerra. O testemunho ganha um estatuto novo e passa a ocupar um lugar central no espaço público.
Para Wieviorka, na sequência das emoções e controvérsias que se seguiram nos EUA, na Alemanha e na França, uma mutação sem precedentes se realiza. A série “Holocausto” torna-se disparadora de uma nova “paisagem memorial”, onde se combinam diversos elementos: a mudança da imagem do sobrevivente, a mutação da identidade judaica e os usos políticos do genocídio.
Não por acaso, fazendo parte dessa nova paisagem da memória, arquivos públicos e privados começam a ser criados no início dos anos 1980 para recolher, sob a forma de vídeos, os testemunhos daqueles que os norte-americanos chamariam dali em diante de “sobreviventes”.
Declaradamente impactado pela série, o presidente Jimmy Carter (que governou os EUA de 1977 a 1981) deu início ao processo de criação de um museu nacional dedicado ao Holocausto, que viria a ser fundado em 1993 como United States Holocaust Memorial Museum. Com essa instituição iniciava-se uma nova forma de pedagogia, transmissão e “americanização” do genocídio, marcado agora pela ideia de sobrevivência e superação.
No ano seguinte, Steven Spielberg, como desdobramento de seu “A Lista de Schindler” (1993), cria a Survivors of the Shoah Visual History Foundation (fundação de história visual dos sobreviventes da Shoah), mudando a escala — agora global— da coleta de testemunhos. Para se ter uma ideia, em 1995, a fundação Spielberg já havia recolhido nos EUA, na Europa, na África do Sul e em Israel quase 20 mil testemunhos em vídeo.
Já na Alemanha Ocidental, o impacto da série foi imediato, levando o Parlamento a revogar o estatuto que limitava a acusação de crimes de guerra. Como comentou recentemente o diretor Marvin Chomsky, essa foi talvez a primeira vez que “uma nação promulgou uma lei diretamente afetada pela exibição e pela resposta a um programa de televisão”.
Com a mudança, as autoridades alemãs passaram a investigar e processar criminosos de guerra nazistas, enquanto os jovens do país, em um processo de internalização do alcance e do horror do Holocausto, começaram a inquirir seus pais e vizinhos, promovendo um verdadeiro acerto de contas histórico.
A série foi reexibida neste ano na Alemanha, em seu 40º aniversário e num contexto de crescente antissemitismo e negacionismo histórico. O jornal Der Spiegel comentou que uma trivial série de TV americana conseguira fazer no final dos anos 1970 o que centenas de livros, peças, filmes e documentários sobre os campos de concentração não haviam conseguido em três décadas de pós-guerra: “informar os alemães sobre os crimes cometidos em seus nomes”.
A história da repercussão da série “Holocausto” é fascinante e radical, levando à pergunta: face a um contexto global de disputa pela verdade, manipulação da informação, revisionismo histórico, recrudescimento do autoritarismo e formas diversas de violência de Estado, o que podem o cinema e as séries de televisão? A resposta não é simples nem direta, mas, como se vê, seu escrutínio faz-se necessário.
Criada pelo roteirista norte-americano Craig Mazin, produzida pela HBO e exibida originalmente de 6 de maio a 3 de junho, a minissérie de televisão “Chernobyl” (que segue disponível no HBO Go) foi recebida pelo mundo com estrondoso sucesso de público e da crítica especializada. Na última terça (16), foi a minissérie com mais indicações ao Emmy, principal prêmio da TV americana, concorrendo a 19 troféus. Na trilha de sua antecessora “Holocausto”, “Chernobyl” atualiza a questão que o cinema moderno vem colocando.
Há décadas, esse cinema do pós-guerra, que também poderíamos chamar de “o cinema de depois dos campos”, tem diligentemente trabalhado e elaborado narrativas, nos âmbitos da ficção, do documentário e do ensaio, a respeito das consequências históricas e sequelas psíquicas da sucessão de violências e desastres que marcaram sem trégua o século 20 e continuam a incidir arrasadoramente sobre o 21.
Recolhendo depoimentos, reencenando momentos traumáticos, reconstituindo contextos políticos autoritários e construindo verdadeiros arquivos audiovisuais, o cinema e a televisão puderam no século passado criar uma paisagem mnemônica indelével, participando ativamente das dinâmicas políticas, culturais e sociais e antecipando-se, muitas vezes, ao trabalho dos historiadores.
Inventor de mundos e testemunha de uma sociedade marcada pela catástrofe, o audiovisual contemporâneo tem, cada vez mais, tentado formular respostas ao seu papel face à violência exercida por Estado e instituições. Evidentemente, cada obra oferecerá uma resposta a partir de suas próprias inquietações, que, nos casos mais interessantes, recusam estratégias narrativas meramente denuncistas ou sentimentalistas, lidando com a dificuldade da linguagem diante de um real traumático, de difícil apreensão.
Tal é a força da série “Chernobyl”. Oferecendo aos espectadores uma viagem ao coração de um dos maiores desastres da história, a explosão de um dos reatores da usina nuclear ucraniana em abril de 1986, a minissérie, em cinco capítulos e apenas cinco horas de duração, reconstitui o momento da explosão, a vasta operação de limpeza, a subsequente investigação do acidente e as consequências humanas, políticas e sanitárias que o desastre deixou.
Caracterizada por extrema verossimilhança na representação da tragédia, dos corpos irradiados às placas dos carros soviéticos, passando pelo teor dos diálogos entre funcionários da usina, burocratas, cientistas e moradores da região, “Chernobyl” evita velhos clichês narrativos e não poupa o espectador de uma angústia persistente.
Nessa encenação pós-apocalíptica, em que não há heróis, vilões e muito menos qualquer possibilidade de superação final, o roteirista Craig Mazin e o diretor Johan Renck acham o tom justo entre o filme de terror, o thriller político e o drama realista. Como se nota no decorrer da série, a dupla não economiza em pesquisa histórica nem abusa de efeitos especiais e de excessos que costumam abalizar tentativas de representação da catástrofe.
A julgar pela altíssima pontuação (9,5 numa escala até 10) recebida no site IMDb (Internet Movie Database), a maior base de dados sobre audiovisual na internet, o público dos quatro cantos do mundo foi bastante tocado pela série, que se tornou a mais bem avaliada dentre as produções concorrentes.
Publicações como o New York Times e o francês Le Monde não pouparam elogios; figuras como o cineasta John Carpenter e o escritor Stephen King reconheceram qualidades. Até o ministro da Cultura russo, Vladimir Medinski, se empolgou com um “magistral!”, enquanto o Kremlin debatia se estava diante de um salutar mergulho no passado soviético ou de um novo golpe de propaganda ocidental contra Moscou.
Seja como for, nesse país que até hoje não realizou um trabalho de memória e elaboração da violência de Estado cometida pela antiga União Soviética, uma outra versão do desastre já está sendo gestada.
Baseada em uma histórica verídica e “ainda não contada”, conforme promete sua propaganda, “Chernobyl” está longe de ser uma série “documental”, como algumas leituras apontam, deixando margem para muita fantasia e teatralidade.
Mas o tom sombrio e esverdeado da fotografia, como uma paisagem em vias de se decompor ou apodrecer, e o peso que cada ator carrega em cada pequeno gesto e no próprio corpo, com a densidade daqueles que já perceberam que não há salvação pessoal possível, fazem da série uma experiência narrativa notável, alegoria do fim e da destruição.
Nessa construção, o destino dos personagens é desprivatizado, despossuído, articulando-se, incontornavelmente, ao destino coletivo de uma nação em vias de se esfacelar e ao do próprio planeta, de agora em diante contaminado. A dimensão pessoal é assim remetida à esfera pública, por meio de uma genealogia das mentiras de Estado.
“Qual é o custo da mentira?”, pergunta-se o cientista Valery Legasov logo nos primeiros minutos do primeiro capítulo, uma fala que faz reverberar, intencionalmente, o atual momento político pelo qual o mundo em geral, e o Brasil em particular, têm passado, marcado por toda sorte de “disputa” (um eufemismo para manipulação, negação e falsificação) em torno das verdades científicas e históricas.
Em entrevista à revista Vice, Mazin diz que diante de um desastre provocado por uma sucessão de mentiras que não pouparam a vida de dezenas de milhares de cidadãos soviéticos, expostos a altíssimos graus de radiação sem proteção, ele só poderia responder com uma encenação baseada num compromisso com a verdade.
Esse vínculo ético com o passado e com o destino de homens e mulheres comuns, diretamente afetados pelo desastre, foi sem dúvida amparado pela riqueza e contundência dos testemunhos recolhidos e editados pela jornalista e escritora Svetlana Aleksiévitch.
Em seu “Vozes de Tchernóbil” (Companhia das Letras), a autora bielorrussa escreve que o acidente nuclear não foi apenas uma catástrofe humana, política e ambiental, mas, antes de tudo, “uma catástrofe do tempo”, já que o tempo da vida humana e da vida do planeta foi completamente redimensionado face ao tempo “eterno” da radiação.
Declarada fonte de inspiração de Mazin, apesar de estranhamente não mencionado nos créditos da série, o livro foi escrito ao longo de 20 anos por Aleksiévitch e compõe sua obra de teor testemunhal, laureada com o Nobel de Literatura em 2015: expressão máxima do reconhecimento oficial que o campo do testemunho e dos estudos do trauma vem adquirindo desde o início dos anos 1980 —e do qual a série “Holocausto” foi um disparador.
Dedicada àqueles que pereceram e aos que sobreviveram, “Chernobyl” tenta dar visibilidade e legibilidade, nas palavras de Aleksiévitch, a um “enigma ainda difícil de decifrar”, a “uma realidade que está acima do nosso saber e acima da nossa imaginação”, fazendo eco à célebre afirmação de Elie Wiesel, que, tendo sobrevivido a Auschwitz, escreve: “Falar é difícil, senão impossível. Mas calar é proibido”.
Em um momento de crise da democracia e grave ameaça ambiental ao futuro do planeta, “Chernobyl” chega como uma mensagem de advertência, endereçada a essa espécie de “Weimar global” em que nos encontramos. Mas agora, diferentemente da época da Guerra Fria, o telefone vermelho não vai tocar. O alarme soou faz tempo.
Como lembrou o cronista Antonio Prata em sua coluna “Bem-vindos a Chernobyl” nesta Folha (16/6), “num mundo 4°C mais quente, em 2100, boa parte da África, da Ásia, das três Américas e da Austrália ficarão inabitáveis”. E continua: “Estima-se que a poluição causada pela queima de combustíveis fósseis mate 7 milhões de pessoas por ano. Um holocausto a cada 12 meses”.
Não seria exagero ponderar que, assim como “Holocausto” foi decisiva na percepção do que foi a catástrofe da Segunda Guerra, “Chernobyl” poderia vir a adensar os debates em torno do beco sem saída energético em que nos metemos, entre a iminência de novos acidentes nucleares catastróficos (com a utilização de energias “limpas”, como a nuclear) e a morte a prestação do planeta por meio do emprego abusivo de combustíveis fósseis.
Entre um e outro extremo, “Chernobyl” vocaliza as preocupações, sobretudo, de jovens gerações de consumidores, cidadãos e espectadores —que aliás já vêm se mobilizando em diversas cidades do mundo— em torno da crise ambiental planetária e seu horizonte cataclísmico.
Face à “colapsologia”, novo domínio de estudos que emergiu na França a partir das pesquisas de Pablo Servigne e Raphaël Stevens, autores da obra “Comment Tout Peut S’Effondrer” (“como tudo pode desmoronar”), a pergunta sobre o que pode o cinema e o audiovisual diante das violências e negligências dos Estados precisa ser recolocada. Poderia “Chernobyl” disparar uma nova “era da testemunha” que impacte efetivamente ações e políticas? Que coloque em foco no debate público alternativas energéticas renováveis?
Evidentemente, não cabe ao campo da arte e da cultura formular políticas públicas, mas se pode pressupor que lhes cabe inventar novas linguagens e pedagogias.
O cinema, como se sabe, não é simplesmente um conjunto de imagens e sons, uma reunião de representações da realidade, mas um agente cognitivo e sensível, um operador, potencialmente transformador, da própria realidade.
Por isso, defender a vocação pedagógica do audiovisual não significa dizer que as obras devam nos dar lições de moral e nada tem a ver com a violência propagandista e autoritária inerente aos esforços de “reeducação pela imagem”.
Como defende o filósofo e historiador das imagens Georges Didi-Huberman, a pedagogia que interessa ao cinema é aquela que, na qualidade de uma poética das imagens, pode abrir o sentido (significação) aos sentidos (sensações) aguçados do espectador.
Trata-se então de uma pedagogia baseada nas emoções que, não se reduzindo a simples estratégias de identificação, pode engajar os espectadores de maneira ativa e reflexiva, fazendo com que possamos abrir os olhos para a violência do mundo inscrita nas imagens.
O que a Shoah, ou o Holocausto, como paradigma da dificuldade da representação da violência extrema assinala é que esse singular e incomparável momento da história precisa, justamente, ser comparado, isto é, não ser deixado isolado em seu devir histórico.
E, para isso, é preciso uma pedagogia que tente dar legibilidade àquilo que até então parecia ilegível, incompreensível ou invisível. Uma pedagogia, em suma, que nos estimule a imaginar. Nem que seja imaginar um outro fim do mundo possível.
Ilana Feldman, doutora em cinema pela ECA-USP, tem pós-doutorado em teoria literária pela Unicamp e realiza pós-doutorado em meios e processos audiovisuais na ECA-USP.
Ilustrações de Adams Carvalho, pintor e ilustrador.













































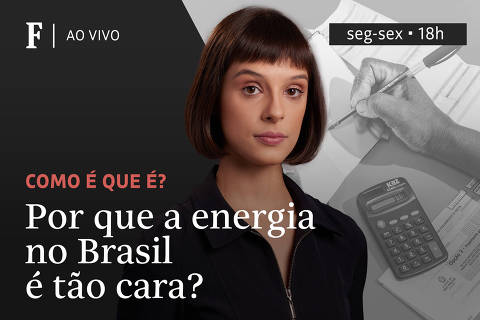

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.