[RESUMO] Ao comentar reação negativa a artigo de Lilia Schwarcz, na Folha, sobre o novo álbum visual de Beyoncé, pesquisadora argumenta que o erro de antropóloga foi ter sido condescendente no intuito de evitar ofensas, desviando-se da confrontação das ideias, o que resulta em um enfrentamento indeciso ao racismo, que em nada emancipa.
Causou espécie nas últimas semanas o artigo “Filme de Beyoncé erra ao glamorizar negritude com estampa de oncinha”, de autoria da antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwarcz, publicado nesta Folha.
Em se tratando da mais importante artista pop do nosso tempo, cujas produções espetaculares chegam sempre cercadas de expectativas amplificadas, a reação negativa ao artigo de Schwarcz foi acachapante e tornou-se, em um lapso de tempo curtíssimo, um dos “trending topics” das redes sociais.
Na paisagem densa, onde não cessam de florescer perspectivas diversas, sobressaem-se três questões que vêm dominando o debate: 1) o exame das formas culturais africanas de modo essencialista e reducionista; 2) a não legitimidade da autora para falar de temas tão caros à comunidade negra planetária, já que se trata de uma mulher branca; e 3) a obstinação do racismo nas máquinas de produção e difusão dos discursos, no caso em tela o jornalismo, que seguem sovinas em partilhar o comum do mundo com grupos historicamente discriminados.
De forma abreviada, este artigo se debruça sobre tais questões e tenta, a partir delas, dar mais uma volta no parafuso e arguir que, embevecidos por esses embates candentes, deixamos de fora o foco principal do incêndio. Reservemos por ora essa provocação.
De partida, não devemos negligenciar o fato de que “Black Is King”, álbum visual de Beyoncé, é um produto da indústria cultural e como tal comporta toda sorte de recepção e interpretação, inclusive as que habitam o polo das críticas negativas.
Também de partida, devo dizer que o artigo de Lilia Schwarcz é ruim não porque ultrapassou os limites da ética do bem dizer, mas porque, de um lado, adota o traje da boa consciência antirracista, indeciso quanto ao tom argumentativo a ser adotado, receoso em ferir suscetibilidades, e, de outro, despe-se de uma crítica estética capaz de dar suporte à análise que faz do filme.
O que se lê é um texto pendular, imerso na profundeza de um pires, que ora se inclina para o elogio, ora para a reprovação (pendendo para elogios). Vamos às questões.
Sobre reducionismos e essencialismo
Para Lilia, o filme reconstrói uma África essencialista, idílica, que não mais existe e que parece nada dizer para jovens ambientados no contexto politizado e racializado do Black Lives Matter. Diz ela: “Duvido que jovens se reconheçam no lado didático dessa história de retorno a um mundo encantado e glamorizado”.
Porém, para Lilia, que tipo de horizonte cultural o ambiente político do Black Lives Matter constrói de tal modo a tornar impossível a identificação daqueles jovens com “Black Is King”? Um rápido sobrevoo sobre as práticas de consumo juvenis negras contemporâneas parece não autorizar tal afirmação.
A ideia de uma África imaginada, idílica, da forma que foi posta, de maneira desleixada, soa também estranho. E não porque o diz, mas como o diz. Parece Lilia esquecer da regra de ouro de Benedict Anderson, segundo a qual nações são narrações. A crítica ao figurino de oncinha, leopardo, brilho e cristal como recurso estereotipante derrapa de forma evidente no solo dos estereótipos.
A título de lembrete, o capitalismo se incumbiu de dar um toque atemporal para o que o mercado batizou de estampa de animal print, com peças que vão do cool ao kitsch (sem dizer que o que Lilia considera vestimentas integrantes de um mundo encantado integram sistemas culturais complexos na África, ontem e hoje, conforme muitos artigos que se opuseram aos seus argumentos vêm demonstrando).
Mas o que dizer de artigos e posições de pessoas, grupos, estudiosas e ativistas africanos que tiveram posição semelhante a de Lilia Schwarcz? Significa que eles podem, pois são negros? De Jade Bentil, historiadora e feminista negra, passando por Boluwatife Akinro, Judicaelle Irakoze, até chegar em produtoras e produtores culturais engajados com a emancipação da África, tem-se um conjunto espesso de críticas que enxergam em “Black Is King” um flerte com o estereótipo e o reducionismo.
De acordo com Bentil, há o risco de largas consequências de com o filme se cair na wakandização (uma referência a Wakanda, país fictício da série de HQs e do filme “Pantera Negra”, que, para ela, essencializou as culturas africanas pelo Ocidente, reduzindo-as a um bloco monolítico); para Irakoze, Beyoncé constrói indiretamente uma narrativa que não consegue se livrar dos liames das amarras colonizantes, apesar de considerá-la uma artista transcendente, capaz de instalar em nós uma imaginação libertadora. Pois bem, qual seria a diferença entre a análise Lilia Schwarcz e das pessoas acima referidas?
A diferença é que Lilia dispensou a companhia da análise abalizada, utilizou ferramentas inadequadas, fez uso de lupas com foco distorcido. O problema não é, portanto, falar de essencialismo, mas ser essencialista para dele falar; não é flagrar a presença do estereótipo, mas estereotipar para demonstrá-lo.
Em torno da legitimidade de falar sobre o filme
Lilia Schwarcz pode (e deve) se expressar publicamente sobre “Black Is King” e sobre tudo o mais que se sentir autorizada. A crítica em relação à sua fala pública para discorrer sobre uma gama variada de temas alusivos à questão racial negra ganha validade quando pomos em cena o debate, também febril, sobre quem está autorizado a incidir no espaço público com o discurso competente.
Para o teórico francês Jacques Rancière, a partilha do sensível “dá a ver quem pode tomar parte do comum em função do que faz, do tempo e do espaço nos quais essa atividade é exercida. Ter esta ou aquela ocupação define, assim, as competências ou incompetências para o comum. Isso define o fato de ser ou não visível em um espaço comum, dotado da palavra comum”.
A reivindicação não é, portanto, pelo silenciamento de Lilia Schwarcz, mas pela escuta de outras vozes (venho insistindo que a escuta é uma decisão política). Em uma sociedade racista e patriarcal, não são apenas os corpos de mulheres e homens negros que sofrem asfixia —suas vozes também são abafadas, interditadas, desconsideradas.
A intelectual e fundadora do feminismo negro brasileiro, Lélia Gonzalez, proferiu palestra memorável em que principia desconcertantemente: “Agora o lixo vai falar”.
Com ironia fina, a fala de Lélia incidiu sobre a distribuição do sensível, perturbou os lugares onde são determinados os modos de articulação entre formas de ação, produção, percepção e pensamentos. E tal distribuição não significa atribuir a grupos historicamente discriminados o previsível papel de falarem apenas de si próprios.
A responsabilidade das instituições e o papel do jornalismo
A fatura dessa assimetria deve ser endereçada também a este jornal e a tantos outros veículos de informação que tornam visíveis, em sua esmagadora maioria, corporeidades raciais hegemônicas para o exercício da vocação de construir e partilhar o comum no campo da crítica cultural. A propósito, o que vimos designado como crítica cultural no Brasil padece da falta de presença significativa de vozes negras e indígenas.
Voltemos ao foco principal do incêndio, apenas referido linhas acima. Já que o erro e o acerto foram a métrica para avaliar o texto de Lilia Schwarcz, em que ela errou? Em dizer que o filme “Black Is King” é essencialista? Em ter aceito o convite da Folha, mesmo assumindo publicamente que não entendia do riscado? Em ser branca falando de temática negra?
Se formos permanecer nessa trilha, defendo que o erro de Lilia reside na condescendência, ao contrário do que a maioria das críticas assinalou. Ela é condescendente do início ao fim do seu artigo e assim permanece quando pede desculpas e assume o erro por ter dito o que não deveria ter dito.
Sinceramente, não esperava desculpas de Lilia porque texto ruim não se conserta com retratação, mas com as possibilidades de ser superado, do ponto de vista do argumento, por outros textos e posições discursivas.
Quando a autora pede para Beyoncé sair da sala de jantar e deixar a história começar outra vez, e em outro sentido, revela sem dizer que “Black Is King” a desagradou mais do que consegue enunciar. Algum problema nisso? Nenhum.
A questão é que, ao tentar agradar, ao tentar se posicionar do lado de uma boa consciência antirracista, foge de uma crítica estética que seja capaz de demonstrar por que efetivamente é preciso construir a história em outro sentido, uma vez que elenca mais coisas boas que ruins em “Black Is King”.
Eis o erro de Lilia: tentar poupar mentes e corações negros, ser condescendente, não “pegar pesado”, não ferir (tanto que pede desculpas).
Dizer que foi elogiosa com o filme ao mesmo tempo que sugere zerar o jogo, construir a história em outro sentido, é uma flagrante contradição que põe em cena os efeitos tóxicos de uma neblina difícil de transitar, onde a boa consciência antirracista parece não saber muito como se posicionar e o que dizer quando se engaja na luta contra o racismo, como acredito ser o seu caso.
Sobre esse episódio, poderíamos provocar: o que representa a convocação antirracista? E como se responde a ela, em sendo parte do mundo privilegiado?
Uma das reações mais virulentas ao artigo foi motivada pelo fato de Lilia mandar Beyoncé sair da sala de jantar, o que significou para muita gente um enunciado autoritário e senhorial. Se a gente circunstanciar a frase, a coisa muda de figura: sabe-se que o mando e a subalternização se configuram no imperativo, em frames discursivos que posicionam as pessoas em lugares sociais determinados, pressupondo assimetrias.
A relação assimétrica, no caso em questão, não deixa de existir, mas desta vez quem está na posição de poder não é Lilia e nem a Folha, mas Beyoncé. Suplementarmente, pode-se dizer que, do ponto de vista da forma, uma crítica cultural comporta tons prescritivos e imperativos.
Pode-se ainda retrucar que a frase é sim arrogante, senhorial e colonizada porque não atinge Beyoncé, mas milhares de mulheres negras que se sentem representadas por ela. Novamente discordo: só em um mundo neoliberal, atravessado por eus, se pode cogitar que o processo de identificação com uma celebridade se dá também a partir das críticas que se fazem a ela. Por mais que insistamos que Lilia Schwarcz teve ataque de sinhá, que foi autoritária, o efeito dessa sentença resultou inócuo, beirando ao ridículo.
A insistência no enunciado é motivado, portanto, por outras questões, uma vez que é pela condescendência argumentativa que o texto de Lilia nos afeta, mesmo se fizesse uso de atenuantes semânticos. E nos afeta da pior forma, pois exclui de antemão a possibilidade de escuta a partir do que fere. Fredric Jameson, um dos principais críticos culturais do nosso tempo, diz que a história é o que fere, o que recusa o desejo, o que coloca limites inexoráveis à prática individual e coletiva”.
Inevitavelmente, todas essas discussões me fizeram lembrar bell hooks, pseudônimo (escrito em letras minúsculas) de outra crítica cultural de proa, que nunca é condescendente em seus textos. De Wim Wenders, passando por Madonna até chegar a Spike Lee, tem-se a elaboração daquilo que a própria pensadora chama de crítica cultural radical.
Em certo sentido, bell hooks dialoga com Jameson, para quem é “válida uma crítica cultural empenhada, cuja proposta é compreender o funcionamento da vida social , explorando o potencial cognitivo de suas formas de produção simbólica”.
Ao fazer atalhos para se desviar desse lugar radical de confrontação de ideias porque não pretende ofender “o elo frágil” (reitero: ao pedir desculpa reafirma uma boa consciência antirracista que em nada emancipa), Lilia Schwarcz poderá igualmente ser convidada a sair do seu gabinete ou escritório e deixar a história que fere se manifestar e recomeçar outra vez, e em sentido contrário.


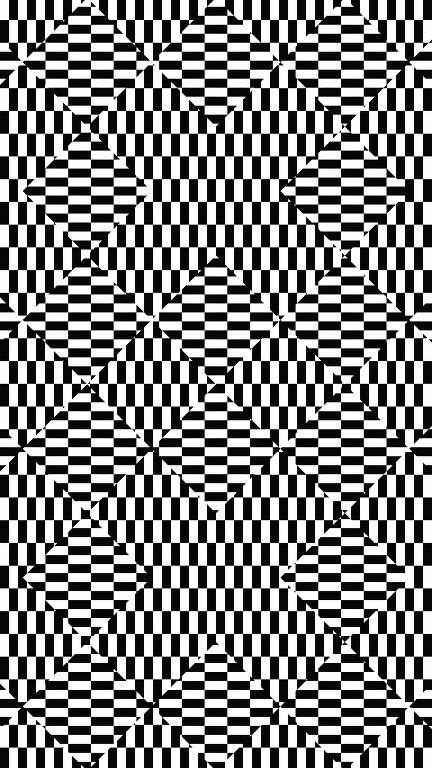








Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.