[resumo] Espantado com as proezas de tecnologias capazes de produzir textos, até mesmo criando propostas a partir de frase de Guimarães Rosa, antropólogo analisa os impactos gerados pela inteligência artificial, aponta dilemas éticos relativos a seu uso, teme pelo aumento da dependência em relação aos países produtores de softwares e almeja que as novas práticas façam florescer no Brasil modos mais diversos e colaborativos de pensar.
GPT-3 é o nome da nova estrela da busca por IA (inteligência artificial). Foi lançado em maio deste ano pela OpenAI, companhia que vai completar cinco anos desde sua fundação bilionária financiada por, entre outros, Elon Musk.
Até agora, o acesso a sua já lendária gigacapacidade de geração de textos surpreendentes, sobre qualquer assunto, é privilégio de pouca gente rica e poderosa. Há, contudo, atalhos divertidos para pobres mortais: um deles é o jogo “AI Dungeon” (masmorra de IA), criação de um estudante mórmon, que desde julho funciona com combustível GPT-3.
O objetivo dos jogadores é criar obras literárias de ficção com ajuda desse modelo de IA. A linguagem de partida é o inglês, mas usei português, e o bichinho teve jogo de cintura admirável para driblar minha pegadinha.
Fui até mais implicante. Não usei apenas português, usei Guimarães Rosa. Copiei e colei, da primeira página de “Grande Sertão: Veredas”: “Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego”. O “AI Dungeon”, que até aquele ponto estava falando inglês, pegou a deixa e continuou assim: “Uma fogueira crepitante brinca e lambiça em torno de um lindo carvalho”.
Tudo bem, Rosa nunca escreveria essa frase. Fiz uma busca: crepitar não aparece em nenhum momento de “Grande Sertão: Veredas”, e carvalho não costuma ser vizinho de buritis. Porém, o GPT-3 entendeu que precisava mudar de língua para jogar comigo e resolveu arriscar: uma fogueira não fica deslocada no meu quintal, ainda mais uma fogueira brincante. E fez o favor de confundir Rosa com James Joyce, inventando o verbo lambiçar, que meu corretor ortográfico não reconhece, talvez para sugerir uma lambida caprichada ou sutilmente gulosa.
Fiquei espantado. Não é todo dia que recebo uma resposta tão desconcertante. Fiz outra busca, aproveitando os serviços do Google: não há registro da frase completa que o “AI Dungeon” propôs. Foi realmente uma criação original. Uma criação “bem criativa”.
(E testei Joyce também: quando inseri, de “Ulysses”, sampleado igualmente de sua primeira página, “Introibo ad altare Dei”, o jogo foi apenas um pouco menos surpreendente, mandou de volta a tradução do latim para o inglês.)
Originalidade. Criatividade. A combinação disso tudo parece mesmo atributo de um ser inteligente, que tem consciência do que está fazendo ou pensando.
Pelo que entendo, já que minha pouca inteligência não é muito treinada nessa matéria, o GPT-3, certamente o mais parrudo modelo de geração artificial de textos com intenção de pé e cabeça, tem uma maneira muito especial de pensar, que não sou capaz de diferenciar daquilo que acontece entre nossos neurônios: seu método é estatístico, probabilístico.
Está fundamentado na análise de uma quantidade avassaladora de textos, quase tudo que existe na internet, em várias línguas, inclusive linguagens de computador. Sua estratégia mais simples, e certamente estou simplificando muito, é identificar quais palavras costumam aparecer com mais frequência depois de outras. Assim, em suas respostas, chuta o que no seu “pensamento” parecem ser as respostas mais “prováveis”.
Claro que não “sabe” do que está falando. Talvez, no meu teste Rosa, se tivesse escrito peixe, no lugar do carvalho poderia surgir um “lindo tubarão”; e isso não significaria que essa IA entenda profundamente a distinção peixe-árvore.
Mas qual profundidade o entendimento precisa atingir para ser reconhecido como verdadeiramente inteligente? E o chute não é, afinal, uma característica corriqueira dos artifícios da nossa IA? Não estou chutando aqui descaradamente, falando daquilo que não domino, ou não entendo?
Não estou escrevendo isto para tentar definir o que é inteligência ou consciência; melhor voltarmos a um território mais concreto: a probabilidade. Há algo de inusitado em uma fogueira que brinca. Não deve ser tão comum assim essa associação de ideias ou palavras, mas árvore remeter a carvalho deve indicar um treinamento de “machine learning” (aprendizado de máquina) que não aconteceu no Brasil.
Outros “pés de quê” são por aqui estatisticamente mais prováveis de despontarem em nossas memórias “nacionais” quando penetram no reino vegetal. Estou pensando, é claro, em tema bem batido do debate sobre IA: o “bias”, ou viés, inevitável em seus modelos, consequência dos dados que alimentaram seu aprendizado, não importa quão “deep learning” (aprendizagem profunda) tenha sido.
São conhecidos os exemplos mais preconceituosos, como o da IA de identificação de fotos que classificou pessoas negras como gorilas, pois no seu treinamento a quase totalidade dos seres humanos que “viu” era gente branca. Problema dos bancos de dados? É preciso ir mais “deep”.
Então, lembro-me do primeiro artigo assinado por Kai Fu Lee, empresário baseado na China, que li no jornal The New York Times. Resumo: na corrida pela IA, EUA e China ocupam as primeiras posições, muito na frente dos demais países. Poucas grandes companhias serão vencedoras.
Cada avanço exige muitos recursos, inclusive energéticos tradicionais, vide o consumo insustentável de eletricidade para o GPT-3 aprender a “lambiçar”. Muitos empregos vão sumir. Todo o mundo precisará de algo como “renda universal”. De onde virá o dinheiro?
Resposta assustadora de Kai Fu Lee, em tradução do Google Translator, sem minhas correções: “Portanto, se a maioria dos países não for capaz de tributar a IA ultra-lucrativa, empresas para subsidiar seus trabalhadores, que opções eles terão? Prevejo apenas um: a menos que desejem mergulhar seu povo na pobreza, serão forçados a negociar com o país que fornecer a maior parte de seu IA software —China ou Estados Unidos— para se tornar essencialmente dependente econômico desse país, recebendo subsídios de bem-estar em troca de deixar a nação ‘mãe’ IA. as empresas continuam lucrando com os usuários do país dependente. Tais arranjos econômicos remodelariam as alianças geopolíticas de hoje”.
Apesar dos muitos erros, a conclusão é bem compreensível: uma nova teoria da dependência. Eis o pós-colonialismo, ou o cibercolonialismo, como destino inevitável para a humanidade?
Isso sem tocar em algo central no pacote a ser negociado: a colônia se submeterá também ao conjunto de “bias” da “nação ‘mãe’ IA”. Prepare-se: florestas de carvalho, sem buritis.
Recentemente, mas antes do “hype” do GPT-3, o mesmo Kai Fu Lee virou notícia dando nota B- para a atuação da IA durante a pandemia. Ele passou sua quarentena em Pequim. Diz que entregadores de suas compras foram sempre robôs —e, pelo que vi na temporada 2019 do Expresso Futuro, gravada por Ronaldo Lemos e companhia na China, eu acredito.
Ficou decepcionado, todavia, com a falta de protagonismo do “machine learning” no desenvolvimento de vacinas e tratamentos. Eu, com minha ousadia pouco preparada, chutaria nota semelhante, talvez C+, para seguir o viés universidade americana.
Aplaudi, por exemplo, quando a IBM liberou os serviços do Watson para organizações em seu combate contra o coronavírus. Ou quando empresas gigantes, como Google e Amazon, proibiram o uso de suas tecnologias de reconhecimento facial depois das manifestações antirracistas pelo mundo todo.
No entanto, empresas menores, com IAs de vigilância não menos potentes, aproveitaram a falta de concorrência para aumentar sua clientela. E vimos como os aplicativos de rastreamento de contatos e contaminações anunciam a transparência totalitária de todos os nossos movimentos, através de algoritmos que já tornaram obsoletas antigas noções de privacidade.
Tudo bem assustador, para quem defende princípios democráticos. Contudo, nem o Estado mais autoritário terá garantia de controle de seus próprios segredos.
Esses problemas são reconhecidos por toda a comunidade de desenvolvedores de IA. Há muitos grupos —como The Partnership on AI, que inclui da OpenAI a Electronic Frontier Foundation— que se dedicam há anos ao debate sobre as questões éticas do uso da inteligência artificial.
Debate extremamente complexo e cheio de becos perigosos, como demonstra a trajetória de Mustafa Suleyman, uma das personalidades mais fascinantes do século 21. Ele foi um dos três fundadores da DeepMind, a empresa britânica, depois comprada pelo Google, que criou aquela IA famosa que venceu o campeão mundial de Go, jogo de tabuleiro criado na China há mais de 2.500 anos.
As biografias do trio poderiam inspirar filmes ou séries. Demis Hassabis tem pai grego-cipriota e mãe de Singapura; Shane Legg nasceu no norte da Nova Zelândia; e Mustafa Suleyman é filho de sírio taxista imigrante em Londres.
A história de Suleyman pré-DeepMind é curiosa: enquanto estudava na Universidade de Oxford, montou um serviço telefônico para cuidar da saúde mental de jovens muçulmanos. Depois foi consultor para resolução de conflitos. No mundo da IA —hoje cuida de “policy” no Google— nunca teve papas na língua. Procure por suas palestras e entrevistas no YouTube: sempre tocou em todas as feridas, como se fosse crítico de fora, mas com lugar de fala do centro mais poderoso.
Gosto especialmente de sua palestra na Royal Society, com seu estilo pós-punk e apresentado pela princesa Ana. Mesmo assim, com toda sua consciência política muito clara e preocupações éticas que me parecem muito sinceras, Mustafa Suleyman se viu metido em um escândalo que envolve a acusação de uso sem autorização de dados de pacientes do NHS (serviço britânico de saúde pública) para desenvolvimento de aplicativos que pretendiam ajudar a monitorar doentes hospitalares em estado crítico.
Foram muitas as explicações da DeepMind, do Google e do NHS. Exemplo de problemas com os quais vamos viver cada vez mais e que precisam de novos marcos regulatórios para determinar que algoritmos podem se meter com nossas vidas —e, sobretudo, quem vai entender o que pode um algoritmo e o que pode a empresa dona desse algoritmo.
Uma coisa já aprendi, pensando nesse tipo de problema: diversidade não é importante apenas nos bancos de dados usados em processos de “machine learning”, mas também nas maneiras de cada IA “pensar” e nos sistemas de segurança para auditar os algoritmos que moldam esses pensamentos.
Essa necessidade tem sido mais bem explorada nas experiências que reúnem desenvolvedores de IA e artistas. Acompanho com enorme interesse o trabalho de Kenric Mc Dowell, que cuida da aproximação de artistas com os laboratórios de “machine learning” do Google.
Seus trabalhos mais recentes investem na possibilidade de existência de inteligências não humanas e na busca de colaboração entre tipos diferentes de inteligências e modos de pensar, incluindo a inspiração nas cosmotécnicas do filósofo chinês Yuk Hui, que andou pela Paraíba e pelo Rio de Janeiro no ano passado.
Na mesma trilha, sigo a evolução da prática em artes e robótica de Ken Goldberg, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele publicou um artigo no Wall Street Journal em 2017 defendendo a ideia que se tornou meu lema atual: esqueçam a singularidade, viva a multiplicidade.
Através de Ken Goldberg também aprendi o que é floresta randômica (“random forest”), método de “machine learning” que usa não apenas um algoritmo, mas uma mata atlântica de algoritmos, de preferência cada um pensando de um jeito, com decisões tomadas em conjunto, procurando, assim, entre outras vantagens, evitar vieses “individuais”.
Minha utopia desesperada de Brasil: que a “random forest” seja aqui cada vez mais verdejante. Com desenvolvimento de outras IAs, ou IAs realmente outras. Inteligências artificiais antropófagas. GPTs-n ao infinito, capazes de pensar nas 200 línguas indígenas que existem/resistem por aqui. Chatbots que façam rap com sotaque tecnobrega paraense, anunciando as fórmulas para resolução de todos os problemas alimentares da humanidade.
Inteligência não nos falta. Inteligência como a da jovem engenheira Marianne Linhares, que saiu da graduação da Universidade Federal de Campina Grande e foi direto para a DeepMind de Londres.
Em outro mundo possível, poderia continuar por aqui, colaborando com o pessoal de “machine learning” da UFPB (e via Github com o mundo todo), talvez inventando uma IA que realmente entenda a literatura de Guimarães Rosa. Ou que possa responder à pergunta de Meu Tio o Iauaretê, ”você sabe o que onça pensa?”, pensando igual a uma onça. Bom. Bonito.
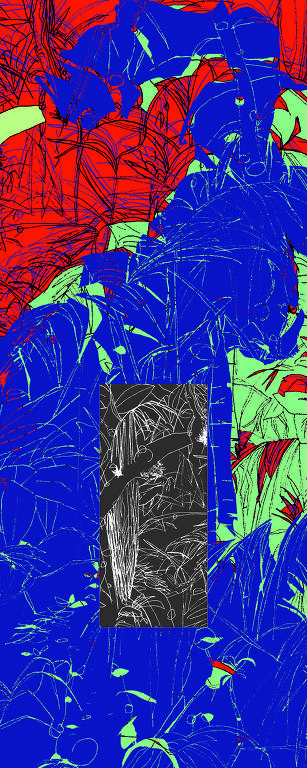



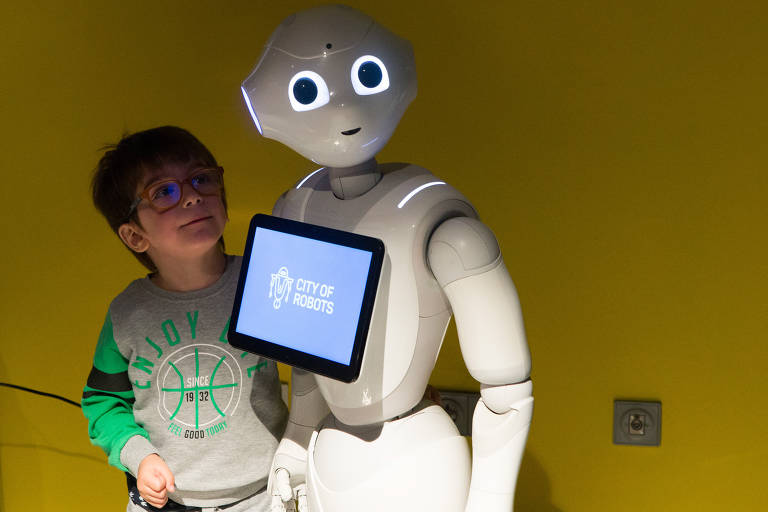





Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.