[RESUMO] Roteirista de "A Febre", protagonizado por índios e em grande parte falado na língua tucano, comenta a proliferação de produções artísticas indígenas nos últimos anos. Ainda que abaladas pela pandemia e pelo desmonte do setor cultural, tais obras trazem à tona o manancial intelectual e criativo dos povos ameríndios, até agora relegado às periferias da cultura pelo processo colonial ainda em curso.
O longa-metragem de ficção “A Febre”, que estreia no Brasil em novembro depois de ter sido premiado em diversos festivais nacionais e internacionais, traz uma série de questões pertinentes para o debate da descolonização da arte e do pensamento aqui e alhures.
Embora não tenha sido dirigido e nem originalmente escrito por indígenas (a direção é de Maya Da-Rin; o roteiro, por sua vez, assinado também por ela, por mim e por Miguel Seabra Lopes), o filme traz inovações importantes com relação à prática do cinema brasileiro contemporâneo anterior às pandemias da extrema direita e da Covid-19. Protagonizado por atores indígenas (Regis Myrupu e Rosa Peixoto), “A Febre” é em grande parte falado na língua tucano, um dos idiomas mais importantes da Amazônia.
Ao tratar da trajetória de Justino, trabalhador de um porto de cargas em Manaus, e de sua filha Vanessa, uma auxiliar de enfermagem que acaba de ser aprovada em medicina na UnB, o filme explora os dilemas das relações entre gerações de indígenas e suas vidas nas grandes cidades brasileiras sem, contudo, ser propriamente realista.
Trata-se, antes, do conflito entre realidades múltiplas, já que a doença do personagem Justino revelará razões outras que aquelas previstas pela medicina ocidental.
Justino é um personagem da fronteira entre mundos, que vive os desafios do contraste entre, por um lado, as relações de afeto comunitárias e interespecíficas das sociedades indígenas e, por outro, as limitações que essas formas de vínculo enfrentam nas metrópoles, marcadas pela economia do trabalho assalariado.
Mais do que tratar da “temática” ou da “questão” indígena, “A Febre” se dedica a revelar a poética, ainda mal compreendida, do profundo confronto entre modos de existência. O longa-metragem, entretanto, não está sozinho nessa tarefa, cada vez mais necessária, de ultrapassar a redução temática para atingir aquilo que ela deixa de lado: o imenso manancial intelectual e criativo dos universos ameríndios que, até agora, têm sido relegados às periferias da cultura pelo processo colonial ainda em curso.
É importante perceber que não se trata de uma moda passageira, mas da progressiva abertura de um espaço que sempre foi negado aos povos originários e que muito traz para ampliar e revisar os repertórios de uma atualidade em colapso.
Afinal, os povos ameríndios há milênios desenvolvem suas especulações criativas e intelectuais, assentadas em configurações de mundo que não colocaram a nossa existência mútua em risco de desaparecimento, como no caso do capitalismo global.
Aqui, as palavras do artista e escritor macuxi Jaider Esbell são esclarecedoras: “Aquelas pinturas deixadas nas rochas são códigos dizendo ‘cavem, aprofundem, usem seus recursos para o autoconhecimento, para a autonomia’. Que recursos seriam esses? Memórias, xamanismo e outras habilidades extrassensoriais. A arte empregada na compreensão de si enquanto indivíduo fragilizado na dispersão, mas que, tendo acesso à tecnologia de ponta, flui sem perder a razão de pedir permissão ao deus do lugar”.
A entrada em cena de artistas indígenas (mas, também, de curadores, escritores, pesquisadores, políticos e pensadores como João Paulo Barreto, Ailton Krenak, Davi Kopenawa, Daniel Munduruku, Sonia Guajajara e Daiara Tukano) revela muito bem essa estratégia de devorar as mídias e tecnologias dos brancos para pensá-las de outra forma.
Ela é uma expressão do que Naine Terena chama de quarto momento da história dos povos indígenas no Brasil, marcada pela autorrepresentação e pelo ativismo, desdobramentos da autonomia política notável na atuação de figuras como o advogado Luiz Eloy Terena, da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), fundada em 2005.
Não são poucos, entretanto, os desafios para que essa renovação possa seguir adiante e transformar efetivamente os horizontes da cultura. Abalados pela pandemia e pela destruição do setor cultural pelo governo federal, projetos expositivos importantes tiveram suas agendas suspensas ou adiadas para 2021.
“Véxoa: Nós Sabemos”, curada por Naine Terena, foi a única que manteve a sua programação na Pinacoteca de São Paulo e exibe agora para o público obras de 23 artistas indígenas, dando assim uma demonstração expressiva de sua efervescência.
Outros projetos, entretanto, foram temporariamente suspensos, tais como a grande exposição a ser curada por Sandra Benites no Masp. A retomada desses e de outros tantos projetos, contudo, deverá consolidar a produção da arte indígena contemporânea e sua contribuição fundamental para a revisão de narrativas e de impasses civilizatórios.
Se somadas às diversas pesquisas de pós-graduação em andamento por estudantes indígenas nas universidades públicas do país (que, espera-se, não se tornem inviáveis por cortes de bolsas e de políticas de ações afirmativas), o epistemicídio histórico a que são submetidos os povos indígenas poderá aos poucos ser compensado.
Ao contrário do que o senso comum ocidentalizado e a ortodoxia científica imaginam, os universos intelectuais ameríndios, fundamentos para as atuais produções artísticas, não são deficitários com relação às formas de conhecimento promovidas pela escrita alfabética (história, filosofia, ciência etc.). Longos e belos gêneros de poéticas verbais seguem falados em centenas de línguas, sendo aos poucos traduzidos com o rigor que merecem, outrora dispensado apenas aos clássicos do antigo mundo europeu.
Régis Myrupu, pajé além de ator agora premiado pelo Festival de Locarno, na Suíça, retraduziu e reelaborou em tucano os diálogos escritos para “A Febre” que tratavam das implicações narrativas e cosmológicas da doença de seu personagem; inscreveu carne, memória e crítica no que antes era um esboço de cena vislumbrado em português.
Valeu-se dos recursos das enciclopédicas artes da memória dos povos do Alto Rio Negro exatamente para produzir autonomia e arte, assim ressignificando tecnologias de ponta não menos sofisticadas do que a singular habilidade verbivocovisual dominada por xamãs e narradores.
É essa habilidade que está por trás, diga-se de passagem, da notável composição de cenas trazida por filmes como “Yãmĩyhex: As Mulheres-Espírito”, de Sueli e Isael Maxakali (2019), “As Hiper-Mulheres”, de Takumã Kuikuro, Leonardo Sette e Carlos Fausto (2012), “Ava Yvy Vera – A Terra do Povo do Raio” (2016), realizado pelo coletivo de cineastas guaranis e caiovás, “Bicicletas de Nhanderú” (2011), de Patrícia Yxapy e Ariel Ortega, entre outros.
A diversidade de produções promovida pelos criadores e pensadores indígenas está, portanto, bem adiante de uma contemporaneidade às voltas com a descoberta, já bastante atrasada, de que a busca por outras formas de existência não é apenas necessária, mas inevitável.
A capacidade ritual de produzir relações entre humanos e outras formas de vida, tão comum nos universos indígenas, é uma chave para a compreensão do sentido de produções que se assentam sobre vastos e antigos sistemas de pensamento. Afinal, são justamente essas relações que faltam a um mundo incapaz de lidar com crises virais derivadas da monocultura, do avanço das manchas urbanas e da desigualdade social.
O pensamento e a arte indígena sabem muito bem que a revisão de narrativas e de políticas de representatividade é apenas o passo inicial, e urgente, para que se desenvolva aquela tarefa ainda mais fundamental: sustentar o céu para que ele não despenque, mais uma vez, sobre nossas cabeças.


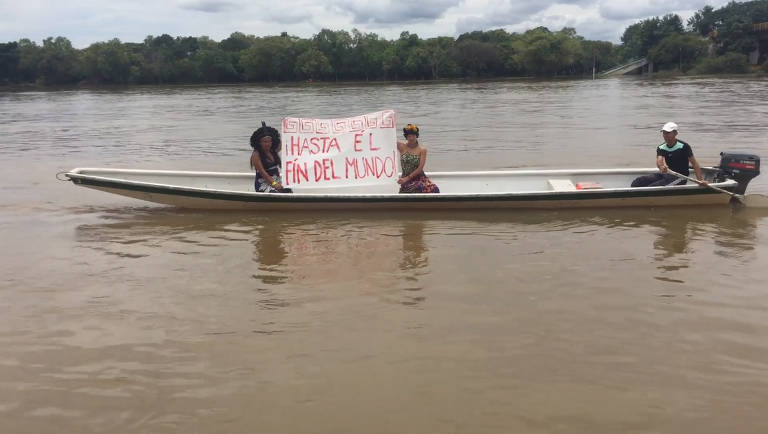








































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.