[RESUMO] Crítico de cinema analisa o impacto do VAR e dos estádios vazios na lógica do espetáculo futebolístico. Assumindo um protagonismo ainda maior em um período em que os jogos destinam-se exclusivamente às câmeras, o árbitro de vídeo altera o modo de atuação dos atletas, torna o esporte refém do detalhe microscópico e oferece ao telespectador novas possibilidades de experiência estética.
Brasil, agosto de 2020. Em um acesso de ira, o goleiro do Botafogo, Gatito Fernández, acerta um chute memorável. O alvo, no entanto, não é o gol, mas a cabine do árbitro assistente de vídeo, o VAR, que recebe um golpe certeiro o suficiente para cair e quebrar.
O episódio —um jogador de futebol desferindo um pontapé em um monitor de vídeo à beira do gramado— é novo. O gesto, contudo, remonta a um precedente exemplar na história das lutas operárias: basta lembrarmos do ludismo, levante proletário que, no início do século 19, notabilizou-se por promover a destruição de máquinas como ato de protesto.
Com o movimento ludista, a máquina, antes emblema de racionalidade e eficiência produtiva, transforma-se em ameaça social. Hoje, em pleno mundo digitalizado do século 21, a revolta neoludista de Gatito demonstra que a introdução da tecnologia em certas áreas da atividade humana segue sendo um agente desestabilizador.
Além disso, o descontentamento do goleiro com o intervencionismo tecnológico possui lastro na ficção científica: pensemos na infinidade de filmes em que robôs cibernéticos subvertem seu próprio sistema operativo, adquirem autonomia e passam a atemorizar a espécie humana. A catarse se dá quando os computadores são destruídos e a humanidade é salva.
Em se tratando do árbitro de vídeo, ainda existem pessoas controlando a máquina. Ou é a máquina que as submete à sua inteligência fria e despersonalizada?
Futebol pós-humano
Criado para minimizar as polêmicas de arbitragem, o VAR tem feito justamente o inverso. Não importa o que aconteça em campo, é preciso aguardar pela decisão do árbitro de vídeo. A bola pune, mas quem assina ou anula a sentença é o VAR, sancionado pela “neutralidade” do aparato técnico.
Não é mera coincidência que o VAR tenha ganhado protagonismo em tempos de estádio vazio. Sem torcida, a única razão de ser do esporte é alimentar simultaneamente o complexo midiático e o sistema de vigilância da sociedade panóptica. Ele se torna a confirmação de um processo de declínio do espaço público e expansão do privado. É exclusivamente para as câmeras que o espetáculo acontece —e para os interesses dos grupos econômicos por trás dele.
Em 1984, Paul Virilio anteviu que lugares outrora dependentes das massas de espectadores, a exemplo das arenas esportivas, dispensariam a presença efetiva de um público, pois a transmissão ao vivo já se convertera em seu motor financeiro, a ponto de “se pensar seriamente em deixar de lado as arquibancadas e o público esportivo, televisionando as partidas ou corridas em estádios vazios, ocupados apenas por painéis publicitários”. A profecia precisou de três décadas de neoliberalismo global e de uma pandemia, mas foi concretizada.
O replay, alma do futebol
Um dos personagens do documentário “Eis os Delírios do Mundo Conectado” (2016), de Werner Herzog, é um jovem cientista que desenvolveu um time de futebol de robôs. “Você acha que um dia seu time ganhará da seleção brasileira?”, pergunta o diretor. “Espero que sim”, o rapaz responde.
Curioso observar que o grande time do momento, o avassalador Bayern de Munique, adota o modelo operacional da máquina, com os jogadores menos preocupados em brilhar individualmente que em funcionar como peças de uma engrenagem.
Nas resenhas esportivas, tem-se falado de “mecanismos” para se referir a jogadas bem-executadas coletivamente. Os atletas hoje jogam com um sensor acoplado ao corpo, que mede sua frequência cardíaca e seus deslocamentos no gramado. Nos treinos, utilizam-se drones e telões.
Essas novas metodologias estão em sintonia com o papel decisivo que o VAR assumiu no futebol. Afinal, o que faz o árbitro de vídeo senão trazer a mediação tecnológica para o centro do jogo?
Jean Epstein dizia, nos anos 1920, que o close-up é a “alma do cinema”. Cem anos depois, o replay passa a ser a alma do futebol. Velho conhecido de quem acompanha o esporte pela televisão, o procedimento atua agora dentro do campo, sob a chancela dos mil olhos do árbitro de vídeo, o Dr. Mabuse do futebol moderno —para alguns, o exterminador do futuro.
Um paradoxo se instala
De um lado, o jogo fica refém do detalhe microscópico, já que a lupa do VAR detecta infrações imperceptíveis a olho nu. Do outro, o que acontece à altura do gramado (como o drible) importa menos que aquilo que pode ser estudado no plano zenital do drone (as linhas de marcação, os movimentos de conjunto).
A percepção de jogo dos atletas cada vez mais se condiciona a uma métrica maquínica. Talvez, nos próximos anos, desponte um novo repertório de gestos e posturas corporais no esporte, não mais configurado para o olho humano, mas para uma imagem sempre na iminência de ser recuperada —a imagem de um flagrante delito.
O VAR apenas transpõe para o futebol a paranoia digital já presente em outras tantas esferas da experiência subjetiva contemporânea.
O mito da transparência
No filme “Blow-Up” (1966), de Michelangelo Antonioni, um fotógrafo registra cenas românticas de um casal em um parque. Revelando as imagens, descobre indícios de um possível crime. À medida que amplia as fotos, os elementos suspeitos se multiplicam.
Ora, é com uma “síndrome Blow-Up” que estamos lidando no futebol. A fotografia se troca pela imagem digital, mas a vertigem interpretativa é a mesma: a procura obsessiva por acontecimentos que só aparecem através da visão hipertrofiada por uma prótese tecnológica.
“Quanto mais os telescópios forem aperfeiçoados, mais estrelas surgirão”, afirmou Flaubert no século 19. Podemos parafrasear: quanto mais o VAR for aperfeiçoado, mais pênaltis e impedimentos surgirão.
Lembremos do gol do São Paulo anulado na partida contra o Atlético Mineiro, em 3 de setembro: as linhas traçadas por computação gráfica demonstraram que o atacante estava um milímetro à frente —logo, tecnicamente impedido. “OK Computer”.
Todavia, olhando para a imagem, alguns elementos causam inquietação. A começar por aquele que é o principal objeto de escrutínio do VAR: o frame, isto é, a imagem congelada em uma das frações de segundo da duração total do evento —o justo instante em que a bola sai do pé de um jogador para encontrar o outro em condição de jogo ou em impedimento, por exemplo. Um primeiro desafio se impõe: localizar o frame certo.
O problema, porém, não acaba aí: existe a relatividade do lugar do observador. Dependendo da posição da câmera, o mesmo lance pode dar vazão a interpretações díspares —e cotejar os diferentes pontos de vista nem sempre é suficiente para fornecer um laudo conclusivo. Reduzido a duas dimensões, achatado na superfície do monitor, o lance recuperado na imagem já sofreu uma drástica transformação, que os cálculos com base nas informações visuais digitalizadas só podem compensar até certo ponto.
Ao fim e ao cabo, trata-se de uma imagem: não de um decalque imediato da realidade, mas de sua substituição por signos representacionais. Toda imagem implica algum grau de distorção e simulacro. No limite, nenhuma imagem pode ser considerada verdadeira.
Não nos concerne, portanto, discutir se o árbitro de vídeo traz mais justiça para o esporte. Cumpre, antes, indagar se o futebol está ou não no rol das atividades lúdicas que se beneficiam de uma presença pervasiva da tecnologia. Como isso afeta mais profundamente o esporte e a parcela do mundo social que ele mobiliza? A pergunta precisa ser feita sem preconceito tecnofóbico, mas a tecnofilia cega tampouco ajuda.
Na verdade, o as sunto extravasa o esporte e abrange toda uma discussão sobre as relações que entretecemos com as interfaces tecnológicas. Até que ponto determinada inovação enriquece nossa experiência do mundo e quando começa a empobrecê-la?
Estética do VAR
Numa genealogia das mídias ópticas, o VAR estaria em algum lugar entre as experiências oitocentistas de decomposição analítica do movimento —o zoopraxiscópio de Muybridge, a cronofotografia de Marey— e as técnicas de varredura eletrônica mais recentes. Ele se insere, portanto, em uma antiga busca positivista pela verdade dos fenômenos visíveis, que atribui à imagem maquínica o poder de conhecimento científico do mundo.
O que a história nos ensina, porém, é que muitas vezes o instrumento criado para “corrigir” a visão humana acaba gerando novos pontos cegos, aumentando a incerteza que supostamente viria a solucionar.
O VAR não está imune a essa contradição. Nada garante que sua lógica de hipervisibilidade não bagunce ainda mais o meio de campo —até porque, em certas situações, o excesso de informação também pode atrapalhar a interpretação.
É da natureza dos objetos técnicos produzir efeitos que vão além da finalidade para a qual foram fabricados. Questão básica de epistemologia da técnica, como já ensinava o filósofo francês Gilbert Simondon.
No caso específico do VAR, é evidente que os efeitos engendrados já ultrapassaram as metas originais. Para a prática do futebol, cabe aos envolvidos reavaliar a relação custo-benefício.
Mas se sairmos da perspectiva do esporte e encararmos o VAR de um ponto de vista estético, talvez possamos nos surpreender com experiências inauditas.
Por exemplo: na partida entre Santos e Flamengo, em 30 de agosto, cada lance revisado demorou cinco minutos, provocando uma curiosa descompressão narrativa do jogo.
Em um primeiro momento, houve o suspense costumeiro. Em seguida, a espera demasiada transformou o gramado em um foco de vivência improdutiva e tempo morto, contrariando os atuais imperativos de jogo intenso e veloz.
O VAR se pôs então a serviço do “slow movement”, corrente cultural voltada para práticas de resistência às prerrogativas contemporâneas de hiperatividade, produtividade e aceleração generalizada da vida psíquica e social.
Em termos plásticos, nada supera os vaivéns da imagem nos lances revisados. Os gestos se decompõem e se recompõem sub-repticiamente, em sucessivos avanços, recuos, repetições, desacelerações, pausas —uma pesquisa poética do movimento, comparável, guardadas as proporções, aos trabalhos de Godard com o vídeo e aos filmes experimentais de Martin Arnold.
Eis, portanto, o inesperado: extrapolando seu protocolo técnico, o VAR talvez tenha se convertido em ferramenta estética, em meio de intensificação das potências plásticas da imagem em movimento. Se essa experiência visual se presta a alguma apreensão objetiva, aí já é outra história.











































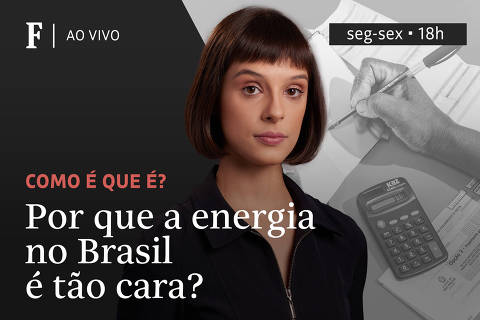

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.