[resumo] Em entrevista à Letras Libres, revista mensal de cultura e política, o jornalista argentino Alejo Schapire comenta seu mais recente livro, no qual afirma que a esquerda abandonou seus valores históricos universais, como a liberdade de expressão, para, em nome da defesa de minorais raciais e sexuais, se associar a práticas totalitárias e dogmas obscuros, pondo em risco o livre pensamento.
Alejo Schapire é jornalista especializado em cultura e política externa. Foi colaborador do suplemento Radar do Página/12, do La Nación e do Perfil e trabalha na rádio pública francesa. No livro “La Traición Progresista” (Península, 2021), ele critica o fato de uma parte da esquerda haver renunciado a alguns de seus valores históricos, como a liberdade de expressão ou um ideal universal de emancipação, e reprova o que avalia como comportamentos muitas vezes puritanos, alianças estranhas com o obscurantismo religioso e uma espécie de monocultura informativa que pode ofuscar a análise.
“La Traición Progresista” critica o fato de parte da esquerda ter abandonado valores históricos como a liberdade de expressão, o Estado laico, ideais universais etc. Às vezes não é simples saber quando essa mudança se produziu. Em que momento você a situaria e que razões a explicariam? 1989 é o ano da queda do Muro de Berlim e da fatwa declarada pelo aiatolá Khomeini, que coloca um preço na cabeça de Salman Rushdie devido à publicação de “Os Versos Satânicos”. Esse é, sem dúvida, um dos primeiros momentos em que fica claramente exposta a divisão entre as duas esquerdas: a universalista, emancipadora e antitotalitária, que enxergava na religião o ópio do povo, e a esquerda emergente, de tipo identitário, relativista no âmbito cultural e disposta a fazer vista grossa para o obscurantismo religioso.
Foi bastante significativo o fato de o ex-presidente Jimmy Carter, um progressista, ter publicado no New York Times um artigo de opinião em que condenou o livro por ser “um insulto direto a milhões de muçulmanos”. Seria o primeiro caso notório de abandono de princípios em uma longa série de traições à tradição livre-pensadora da esquerda, que alcançaria seu ponto culminante no ataque ao Charlie Hebdo.
Entre todo o espectro político, foi essa nova esquerda que encontrou mais justificações e fez mais objeções a condenar o ataque terrorista.
Outro momento em que a esquerda europeia se distanciou do universalismo talvez se situe dez anos antes, quando a revolução iraniana fascinou Jean-Paul Sartre e Michel Foucault, que enxergaram nela uma forma de anticolonialismo e anti-imperialismo, dois dos principais impulsos que movem a esquerda identitária hoje. Quanto aos jovens iranianos de esquerda que se deixaram seduzir por aquela revolução, eles não viveram para contar a história.
Diante da evidência do fracasso do modelo alternativo que a URSS propunha, o colapso dela levou parte da esquerda a enxergar no islã político um novo polo e poder de fogo capaz de fazer frente ao sistema capitalista. Assim, o muçulmano, visto como o oprimido arquetípico, foi adotado por essa esquerda como um proletariado substituto.
Este tipo de livro, gênero que nasce da decepção com a esquerda, deve parte de sua força ao fato de ser pessoal, porque relata uma trajetória ou uma descoberta do autor. Ao mesmo tempo, uma das críticas frequentemente feitas ao gênero é que, precisamente por estar discutindo com aqueles que antes eram seus companheiros, você tem uma espécie de fixação ou pelo menos uma atenção intensificada que modifica sua perspectiva. Essa possibilidade o preocupa? Entendo a crítica; meu livro pode ser interpretado como fruto de uma desilusão, a fixação que se pode ter por um ex-cônjuge, e eu assumo isso em princípio.
Também é verdade que, por ser uma experiência íntima, pode se perder a distância sadia para uma análise, mas a educação política dificilmente pode ser feita à margem de uma educação sentimental. Ao mesmo tempo, pensar, pensar de verdade, é pensar contra si mesmo, contra seu próprio campo. A possibilidade de ser injusto ou de estar enganado me preocupa mais que a de pecar por excesso de emoção.
Você diz ter consciência de que o guarda-chuva da incorreção política às vezes é usado por racistas e falsos transgressores. Esse mecanismo de associação é utilizado às vezes para desativar ou não escutar críticas feitas à esquerda. Isso é algo que o preocupa? Você acredita que haverá alguém da esquerda que dirá: “Sim, isto me faz repensar minhas posições”? A extrema direita identitária viu na denúncia do “politicamente correto” a oportunidade de apropriar-se de um questionamento alheio para dar rédea solta a seu racismo e homofobia. Não podemos ser ingênuos nesse sentido.
O jornal histórico da extrema direita francesa, Minute, divulga ao lado de seu nome o slogan “semanário politicamente incorreto”. E se a esquerda ou qualquer linha de pensamento o denuncia, está certa.
O problema é quando a esquerda regressiva se converte numa patrulha moral, dedicada a castigar e vigiar quem se distancie de seu revisionismo histórico anacrônico à luz da nova moral em voga, de seu macartismo (a cultura do cancelamento), de sua neolinguagem e seus códigos.
É uma esquerda obcecada com a raça e a sexualidade como prismas privilegiados da realidade. Ela está disposta a acabar com a liberdade de expressão de democratas e universalistas, que entram em uma definição de “fascistas” ampliada a cada minuto que passa.
Meu livro se dirige àqueles que, como eu, se descobriram órfãos, abandonados por uma visão de mundo que deu uma virada para associar-se à intolerância, ao totalitarismo terceiromundista, ao obscurantismo, ao antissemitismo e às formas mais rematadas de machismo e homofobia, desde que se digam “anti-imperialistas”. Eles colocaram o ódio aos Estados Unidos e Israel acima de qualquer outra consideração.
Você fala da fabricação do falso consenso. O que é isso exatamente? A esquerda abandonou o trabalhador para enfocar as minorias étnico-sexuais e os ganhadores da globalização: a população urbana branca com nível de instrução superior. É a ela que a esquerda se dirige. Seu reduto não é mais a fábrica, o campo, o mundo trabalhista —seu meio natural hoje é a universidade, a mídia, a militância, a arte subvencionada, os setores que formam a opinião pública, a opinião autorizada.
Esse consenso em torno do que se pode dizer é fabricado nas grandes cidades, que costumam ser progressistas. A internet acabou com a imprensa escrita rural e regional. Assim, cria-se uma distorção dupla.
Primeiro, a voz do mundo urbano progressista, com seus estudos universitários, está super-representada. Por outro lado, esses formadores de opinião evoluem dentro de uma bolha ideológica na qual se convencem de que o viés que os cerca em seu âmbito diário é a opinião prevalecente no resto da sociedade, como uma opinião comum.
Assim se cria um falso consenso que acaba sendo exposto na realidade quando Trump ou o brexit vencem —um fenômeno que os formadores de opinião não souberam prever por estarem fora de contato com essa outra realidade.
Você é argentino, mora na França, acompanha o que acontece na Espanha. Boa parte dessa discussão vem do mundo anglófono. Que diferenças e semelhanças enxerga no que acontece em diferentes países?
Esse experimento fabuloso que são os Estados Unidos define o tom do que vai acontecer depois no Ocidente. Graças a seus orçamentos grandes, as universidades elitistas americanas, e em menor medida as inglesas, absorvem as melhores cabeças do mudo e produzem os conceitos que em seguida são importados pela Europa, ou através do ativismo nos campus online ou por meio de sua versão popular: Hollywood.
Embora a chamada “French Theory” (Foucault, Deleuze, Derrida, Lacan, etc.) fosse francesa, ela floresceu junto ao movimento dos direitos civis nos EUA e hoje retorna ao Velho Continente como um bumerangue.
Essa importação —ironicamente, aqui não vale a denúncia do imperialismo cultural norte-americano— coloniza toda a linguagem da militância identitária europeia e latino-americana, quer seja feminista, LGBT+, “interseccionalidade”, “desconstrução”, “privilégio branco”, “MeToo”, “Black Lives Matter”, todo o jargão chega com o selo “made in USA”.
Apesar de a Europa não ter a mesma história dos Estados Unidos, a grade de leitura costuma ser a mesma, embora aqui tenha mais peso o debate em torno da descolonização e do islã, devido às disputas históricas e à demografia.
A particularidade da França é que, por ter uma forte tradição universalista, ela possui ferramentas mais robustas para questionar essa investida essencialista que reduz as pessoas às suas identidades étnicas e sexuais.
Quanto tempo você acha que vai durar a reivindicação da linguagem inclusiva?
A “linguagem inclusiva”, as aspas são obrigatórias porque não consta que alguma vez ela tenha incluído alguém, vem ganhando terreno, passando de ser um sinal de reconhecimento entre ativistas periféricos para hoje fazer parte da linguagem administrativa e até mesmo, em casos como o da Venezuela —que, diga-se de passagem, não tem nem aborto legal nem casamento homossexual— da Constituição. Sua função real é colonizar a linguagem, marcando-a com bandeiras.
É o modo que essa ideologia tem de deixar marcas visíveis de sua conquista, além de ser uma expressão narcisista de quem a usa. Por mais que seja cacofônico e antieconômico do ponto de vista da linguagem, o que se está fazendo é dizer “vejam que boa pessoa eu sou”.
O livro começa citando uma frase de Christopher Hitchens. Hitchens dizia que não se pode ser apenas um pouco herético. Você concorda? Diante de um movimento que atua como uma religião secular, com seus dogmas, seus sistemas de unção, excomunhão, chamado ao arrependimento e toda uma gama de pecados que vão da “microagressão” ao “fascismo”, quem não se posiciona inequivocamente é vomitado.
O macarthismo de esquerda busca uma pureza impossível, é uma máquina de excluir e, como toda revolução, termina por devorar seus filhos. Logo, quem pensa que as heresias menores serão toleradas que aguarde sua vez de ser jogado na fogueira. Não tenha dúvida de que ela chegará.
Um dos temas do livro é o antissemitismo. Entre a esquerda, ele muitas vezes assume o disfarce de rechaço às políticas de Israel ou ao próprio Estado de Israel. Como se pode fazer críticas legítimas sem cair no antissemitismo? Por que Israel é, em suas palavras, uma obsessão progressista? Não há nada de errado em criticar o governo de Israel. De fato, os primeiros a fazê-lo, na única democracia em uma região marcada por ditaduras e teocracias, são os israelenses. São eles próprios e suas ONGs que redigem os informes quando denunciam violações dos direitos humanos, que depois são usados contra o Estado judaico por aqueles que querem vê-lo desaparecer. A crítica contra um governo não é antissemitismo.
Em contrapartida, o que querem os movimentos de esquerda como o BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções) é, como o Irã, a destruição da única garantia que os judeus têm de que Auschwitz não poderá se repetir.
O antissemitismo está na exclusividade desse ódio obsessivo a um povo que vive numa superfície do tamanho de um selo postal. A China tem 1 milhão de muçulmanos de etnia uigur em campos de concentração e reeducação. Você por acaso já viu manifestações da esquerda diante de embaixadas chinesas? As viu diante das embaixadas de Mianmar para protestar contra a perseguição aos rohingyas?
Não, questionar a legitimidade da existência de um país só se aplica a Israel, entre os mais de 190 países reconhecidos pela ONU.
Há dois elementos que também são citados nesta questão das guerras culturais. Por um lado, a influência das redes sociais, com uma horizontalização que enfraquece as instituições. Por outro, uma disputa entre as elites, onde a ideologia cumpre a função de promover uma mudança muitas vezes geracional. Creio que a liberdade, e o caos, que muitas vezes impera nas redes sociais vai diminuir. A China tinha os meios para erguer um sistema paralelo e proibir as plataformas ocidentais, embora sua propaganda circule muito oficialmente no Facebook e no Twitter. A Rússia, com menos recursos econômicos, tenta fazer o mesmo.
Outros regimes autoritários “anti-imperialistas” restringem seu uso. No Ocidente, vê-se cada vez mais pressão para regular os conteúdos. Curiosamente, porém, ela vem não tanto do poder político quanto da militância progressista, que reivindica o direito de “não ofender” e a luta contra o que ela chama de “discurso de ódio”, que evidentemente nunca é feito pelo próprio campo, mas pelo do outro.
Incluo entre esses ativistas os funcionários e diretores dessas plataformas, que se movimentam nas mesmas bolhas progressistas que a imprensa e a academia e que já nem sequer pretendem apresentar-se como meros suportes neutros à comunicação, razão pela qual setores conservadores pedem que assumam seu papel verdadeiro de editores responsáveis.
A exclusão de Donald Trump de todas as redes mais populares é um divisor de águas que fecha o parênteses de certa liberdade ou anarquia, conforme se encare a questão. As guerras culturais vão continuar, mas as bolhas vão se fortalecer, já que todos querem cada vez mais estar entre seus semelhantes e não ser incomodados por outras visões da realidade.
Alguns dias atrás Simon Kuper dizia que o tema agora deveria ser a economia e como combater a desigualdade; que devemos dar adeus às guerras culturais e à obsessão identitária. Outros, como Ramón González Férriz, também creem que a dimensão identitária perdeu ímpeto ou vai perdê-lo. Você concorda?Noto, sim, certo cansaço com o clima sufocante, o medo de ser o próximo na lista do cancelamento cultural sob o império da “tirania do bem”. Também há o medo do crescimento da ultradireita identitária, com a migração maciça do voto da classe trabalhadora branca para esse tipo de populismo.
Para grande parte da esquerda europeia, sobretudo na França, essa opção se coloca claramente: ou você volta a falar com seu eleitorado popular tradicional sobre temas econômicos e os problemas cotidianos dos eleitores ou você desaparecerá do mapa. Nos Estados Unidos, os dois polos identitários estão se fortalecendo: a direita com Trump e o chamado “Squad”, a ala esquerdista jovem dos democratas. Parece que esses dois polos vão marcar a agenda política dos próximos anos.
Na Espanha, o Vox e o Podemos, que destacam as questões identitárias, também parecem encarnar essa polarização crescente.
Em última análise, o que acontece é que as pessoas não estão mais votando, com base em argumentos, para escolher um melhor projeto coletivo de sociedade e país, mas pelo status que cada partido promete à sua “tribo”, à qual cada um pertence em função dos determinismos do nascimento.
Tradução de Clara Allain




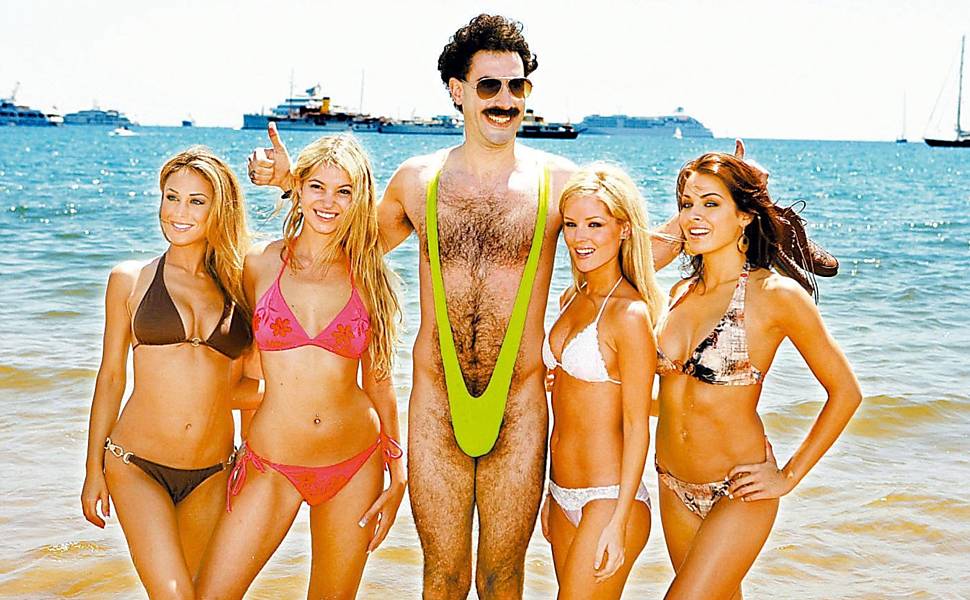






Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.