[RESUMO] Discursos que apontam pautas identitárias como entrave à política de esquerda desconsideram as relações entre o universal e o particular hoje. A exploração sob o capitalismo continua a moldar a universalidade da condição de trabalhador, mas políticas emancipadoras devem combinar a particularidade de minorias que sofrem opressões à luta contra a desigualdade econômica.
Uma declaração recente do diretor da Fundação Perseu Abramo, Alberto Cantalice, reacendeu a discussão no interior da esquerda sobre o que fazer com as chamadas pautas identitárias.
Ao afirmar no Twitter que o "identitarismo" é um "erro" criado por "ativistas dos Estados Unidos", que obscurece "a questão central" da desigualdade e divorcia a esquerda "da realidade do povo", o dirigente do PT trouxe de volta à baila o problema da relação entre universalismo (o "problema central" da desigualdade) e os particularismos expressos nas demandas de mulheres, indígenas, pessoas negras, LGBTQIA+ e outras.
O problema é que nem a história dessas pautas nem a oposição entre universal e particular são tão simples quanto a afirmação pretende — e entender isso é chave para que a conversa possa avançar.
Universal de quem?
Há uma tensão intrínseca a todo universal, que decorre do fato de que quem o invoca é sempre um particular: quem diz "o humano", por exemplo, é sempre um humano concreto, em circunstâncias concretas que o determinam particularmente como homem ou mulher, jovem ou velho, empregador ou empregado.
Isso gera um questionamento inevitável sobre a possível contaminação do universal pelo particular: quanto da universalidade que identifico não é decalcada das condições concretas em que vivo e, portanto, parte de minha particularidade? Até que ponto o que considero universal não é feito à minha imagem e semelhança? Em que medida o que vejo como objetivamente universal não é, na verdade, meu ângulo subjetivo sobre o mundo —que é objetivo (porque mundo) mas subjetivo (porque ângulo)?
Essa dúvida é parte da estrutura formal do universal. Quem o invoca não só pode sempre ser questionado sobre ela, como jamais terá condições de respondê-la definitivamente —já que, se nossa particularidade contamina nossa percepção do universal, é justamente à medida que não podemos tornar-nos plenamente conscientes de sua influência.
Universal para todos
Um momento-chave na constituição teórica do marxismo foi a observação de que o capitalismo é objetivamente produtor de universalidade: não importa a língua ou a cor da pele, ele separa os trabalhadores dos meios de produção e os reduz à capacidade de trabalhar, única coisa que eles têm para vender em troca de condições de subsistência. Era isso que os autores do "Manifesto Comunista" entendiam por proletariado.
Acontece que essa universalidade do trabalhador se firmou inicialmente em ambientes concretos sob circunstâncias concretas. Mais especificamente, na Europa e na América do Norte entre meados dos séculos 19 e 20, quando o proletariado realmente existente era majoritariamente branco, homem, heterossexual, cisgênero, cristão.
Foi quando essa composição social começou a mudar, a partir dos anos 1960, que mulheres, não brancos, gays, imigrantes e outros grupos começaram a apontar que o universal "trabalhador", tal como ele era praticado pela maioria dos sindicatos e partidos, estava contaminado pela particularidade daquilo que o movimento operário fora até ali. Embora a palavra pretendesse designar a universalidade, ela era empregada de maneira restrita.
Em um certo sentido, então, essas eram lutas pela expansão do universal: para livrá-lo do seu decalque em uma certa particularidade e torná-lo mais amplo, inclusivo — mais universal.
Isso era explícito no pensamento de Frantz Fanon, no feminismo negro de Lélia Gonzalez, no debate em torno do trabalho reprodutivo promovido por Silvia Federici e Mariarosa dalla Costa, na Frente de Libertacão Gay, na Liga dos Trabalhadores Negros Revolucionários de Detroit.
Porém, mesmo em trajetórias mais tortuosas, como as de Malcolm X e dos Panteras Negras, o nacionalismo negro dos primeiros tempos desaguaria em posições universalizantes como a Coalizão Arco-Íris de Fred Hampton e o comunalismo de Huey Newton.
É verdade que essas lutas nunca deixaram de assumir também a forma de uma afirmação, muitas vezes dura e combativa, da particularidade de mulheres, negros, gays etc., mas essa combatividade tem de ser vista em seu contexto.
Se essas diferenças precisavam ser afirmadas com contundência, era porque haviam sido longamente negadas pelo modo como os universais "trabalhador" e "humano" se confundiram com os interesses e demandas do "padrão" homem branco, heterossexual, cristão, cisgênero, "conservador nos costumes".
Se a contundência às vezes se acirrou a ponto de virar antagonismo foi em grande parte pela reatividade com que partidos e sindicatos a receberam.
Tapando com a peneira
O que explica essa reatividade não é apenas a inércia do hábito.
Ao mesmo tempo que reduz todos os indivíduos à sua força de trabalho, o capitalismo se aproveita das diferentes estratificações no interior do universal "trabalhador" para empurrar salários e condições de vida para baixo, explorando todos mais eficientemente.
Por outro lado, essa estratificação não deixa de oferecer alguma compensação simbólica a quem não está nas camadas mais baixas.
Trata-se daquilo que o pensador negro norte-americano W.E.B. Du Bois designou "salário psicológico" e que consiste na possibilidade de experimentar uma superioridade relativa em relação a quem, mesmo com renda igual, está em um degrau inferior: "Eu um sou um pobre explorado, mas pelo menos não sou negro, mulher, gay...".
Dito cruamente, o cálculo de muitos sindicatos e partidos operários foi que, enquanto as "minorias" fossem minoria em termos numéricos, discutir suas opressões específicas não só não trazia vantagens políticas como, ao questionar as pequenas compensações identitárias que o "operário padrão" podia extrair do racismo, sexismo e homofobia, enfraquecia o apoio da maioria.
Ainda hoje, é essa aritmética que com frequência se esconde sob o discurso que justifica escolhas conservadoras alegando um "conservadorismo natural" da classe trabalhadora.
Enxergar lutas pela expansão do universal como divisionismos particularistas foi, então, sintoma da reatividade de quem, em vez de acolhê-las, rechaçou-as como ameaças a uma homogeneidade em vias de desaparecer.
A razão para essa resposta foi, em última análise, a falta de coragem para enfrentar as estratificações do próprio capitalismo —o que implicaria, em nome da solidariedade com trabalhadores pertencentes às "minorias", perturbar hierarquias nas quais o padrão majoritário ocupava posições comparativamente vantajosas.
Pode-se pensar que essa narrativa não se aplicaria a países como o Brasil, onde os brancos nunca foram maioria na força de trabalho. Isso, no entanto, seria esquecer a força de estratificações como o gênero e o fato de que, entre nós, aquilo que historicamente serviu para encobrir as diferenças raciais foi o universal da miscigenação e a ideologia da democracia racial.
Irreversível complexidade
Ainda assim, não é o caso que, meio século depois, o saldo dessas lutas não foi a ampliação, mas a dissolução do universal "trabalhador" —e sua substituição por diversos particularismos?
A resposta é sim apenas se isolamos o primeiro e o último momento de um processo e, descontando tudo que houve no meio, dizemos que um é a causa do outro. É um recurso retórico lamentavelmente comum, haja vista o quanto ainda se escuta que junho de 2013 "causou" a eleição de Jair Bolsonaro.
Mas, de novo, a realidade é mais complexa.
O questionamento do universal "trabalhador" nos anos 1960 e 1970 se deu em um contexto geracional mais amplo de rejeição da rigidez característica do regime fordista instituído ao fim da Segunda Guerra.
A afirmação das diferenças ia de mão com a recusa da disciplina fabril e de papéis sociais fixos, logo também de uma certa imagem do trabalhador. O capitalismo respondeu a essas demandas por autonomia com desregulação e a precarização neoliberal.
Aí está o principal. Não foram as ideias das "minorias" que dissolveram o velho proletariado, mas os arranjos materiais do mundo: o ataque organizado a sindicatos e à legislação trabalhista, a deslocalização das cadeias produtivas e a flexibilização da atividade laboral, que dificultam a solidariedade e a identificação de interesses comuns e o consumo individual garantido pelo acesso a crédito barato e não mais pela renda do salário.
Foi só após essa transformação que se consolidaram correntes identitárias inteiramente divorciadas da análise de classe e da crítica ao capitalismo. Foi então que antigos partidos da classe operária, cuja reatividade alimentara essas tendências no passado, se juntaram a elas nos anos 1990, gestando aquilo que Nancy Fraser chamou de neoliberalismo progressista.
O insight marxista sobre a universalidade da condição de trabalhador no capitalismo segue válido: a exploração e a desigualdade continuam sendo as bases mais amplas sobre as quais construir uma política emancipadora.
Contudo, Humpty Dumpty quebrou e não há como colar-lhe os cacos. A universalidade hoje não é um ponto de partida conceitual, mas de chegada prática: resultado de um processo contínuo de construção de alianças e relações concretas de solidariedade capazes de efetivamente incorporar, na pragmática política do conceito, todas as particularidades às quais ele pretende se aplicar.
É preciso incluir questões como raça e gênero na luta contra a desigualdade econômica tanto quanto pautar a desigualdade na luta contra diferentes opressões. Não há outra saída.
Botar a culpa da insuficiência do conceito em quem a aponta é, assim, triplamente equivocado: porque falsifica a história, porque vai na contramão do trabalho de universalização que é preciso fazer e porque, ao responder reativamente, só reforça a rejeição que diz querer combater no outro lado.
É também, ironicamente, uma forma nostálgica de identitarismo, que se agarra a uma roupagem particular que o universal assumiu no passado para não enfrentar o desafio de ampliá-lo e complexificá-lo no presente.






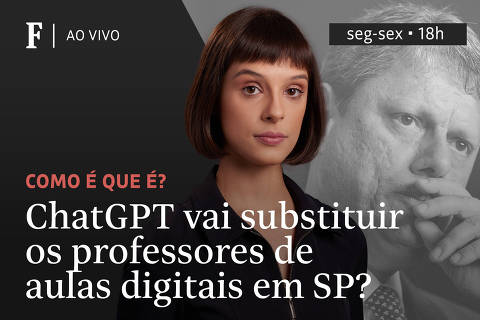

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.