A questão fiscal brasileira voltou a causar preocupações. O país parece andar em círculos, retornando ao ponto inicial, mas com dívida e gastos mais altos e os mesmos problemas na qualidade dos serviços públicos e no atendimento das demandas sociais.
O primeiro ato da mais recente tragédia fiscal se iniciou no segundo mandato de Lula e se acelerou no governo Dilma, quando o superávit primário de cerca de 3,5% do PIB (Produto Interno Bruto) deu lugar a um déficit de 2,5% do PIB ao ano.
A piora do déficit ocorreu pelo aumento expressivo de gastos públicos de caráter permanente, impossíveis de serem cortados uma vez aumentados. Ficaram famosas também as “pedaladas”, que escamoteavam a realidade das contas públicas, mas que em tempo cobrariam seu preço.
Tamanha irresponsabilidade veio a custar o mandato da presidente, e, pior, levou o país à pior recessão da história da República (até então).
Mesmo antes da pandemia, o país já vinha com déficit primário desde 2014 e esperava-se que o resultado fosse zerado em 2022, com nove anos de déficits consecutivos. Hoje, mesmo cumprindo teto de gastos, o primário só voltará ao positivo em 2025, com 12 anos de déficit. Em reais, o Brasil sairá de um déficit primário de R$62 bilhões em 2019 para mais de R$800 bilhões em 2020! Como efeito, a dívida pública explodiu.
Parte deste déficit se deveu à queda da arrecadação com a parada súbita da economia. Parte substancial se deveu às medidas de gasto público para o enfrentamento da pandemia.
Dentre os países emergentes, não há país que sequer se aproxime do endividamento do Brasil. Antes da pandemia, o país tinha dívida de uns 15 pontos percentuais de PIB acima do segundo país mais endividado.
Não obstante, resolveu-se fazer uma política de gastos de “primeiro mundo”, isto é, num volume de recursos que só poderiam ser bancados por um país desenvolvido. O que torna o Brasil um caso único é que nenhum emergente chegou perto da combinação de dívida e gasto que o país teve em 2020, claramente muito fora da sua capacidade.
Isso pode ser aferido no gráfico 1. O que tornou esse fato possível foi o teto de gastos, que garante que a partir de 2021 o país volte a limitar o gasto público de modo a se manter solvente.
O principal foco da estratégia de gasto público durante a pandemia foi a criação do Auxílio Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (doravante, AE), uma medida para complementar a renda do trabalho perdida com o distanciamento social. A PNAD-Covid, pesquisa do IBGE iniciada em maio, traz elementos importantes para a avaliação do impacto do AE, bem como da sua necessidade de extensão no futuro.
Durante o distanciamento social, a renda efetiva do trabalho caiu de maneira expressiva em relação à habitual: esta medida parece a mais apropriada para medir o efeito da pandemia. No gráfico 2, vê-se a evolução de maio a agosto: houve notável progresso, em particular no setor informal, com a renda subindo de 64% para 80% do habitual. Como sabido, a renda do setor público praticamente não se alterou no período.
Em grande medida, a melhora de renda reflete o aumento de horas trabalhadas, que, entre os informais, subiram de 66% para 84% das horas habitualmente trabalhadas entre maio e agosto, refletindo o aumento importante de mobilidade e retorno à normalidade da economia. Os dados estão no gráfico 3. O setor público segue com o menor número de horas trabalhadas em relação à habitual, e com o menor incremento desde maio, apesar dos rendimentos terem se mantido (e em alguns casos, até se elevado).
Como o AE afetou a renda dos domicílios? A renda do trabalho dos domicílios que receberam o AE saiu de 71% para 83% do habitual de maio a agosto. Adicionando o auxílio emergencial, a renda total recebida foi a 138% da habitual em agosto, muito superior à renda pré-pandemia. Evidentemente, não é função do programa emergencial conceder aumentos significativos de renda para a população com um custo fiscal impagável.
Enquanto a PNAD captura recebimentos de AE de R$27,5 bi em agosto, o pagamento reportado pelo Tesouro foi de R$45,4 bi, de modo que é possível que este recebimento esteja subestimado. Usando o dado do Tesouro, a renda efetiva em agosto teria sido de 174% da renda habitual dos domicílios que receberam o AE, quase 2 vezes a renda de antes da pandemia. Estimamos que um benefício de R$188 em agosto seria o suficiente para repor integralmente a renda perdida pelos domicílios.
A economia segue se recuperando e a mobilidade vem subindo depois de agosto (como atesta, por exemplo, o crescimento das vendas no varejo e da produção industrial recente), de modo que a renda do trabalho deve seguir crescendo, reduzindo a necessidade de prorrogação do AE.
A perspectiva para o início da inoculação de uma vacina entre o fim de 2020 e o começo de 2021 também melhorou, de modo que é razoável supor que o grau de mobilidade deverá seguir aumentando, e com isso, a renda do trabalho.
Não apenas, mas a própria estrutura de incentivos dada pelo AE afeta a decisão de trabalho das famílias: quanto maior o benefício, menor a necessidade dos domicílios de buscar trabalho, e menor a renda do trabalho efetiva.
Em conclusão, a decisão acertada do ponto de vista fiscal e do propósito do programa (de compensar emergencialmente a renda perdida durante a pandemia) é a de efetivamente descontinuar o programa a partir de janeiro, bem como o Estado de Calamidade.
Por mais meritório que seja, o propósito do AE não é o de reduzir a pobreza pré-existente no Brasil.
A fim de avançar sobre este problema estrutural, o caminho a seguir é o da focalização das políticas de transferência, conforme proposto pelo Programa de Responsabilidade Social, elaborado com o patrocínio do CDPP (Centro de Debate de Políticas Públicas).
Urge criar espaço, sem malabarismos ou pedaladas, dentro do teto, efetivamente cortando gastos ineficientes e usando melhor os recursos da já elevada carga tributária. Quanto mais conseguirmos racionalizar o uso de recursos no setor público, mais poderemos fazer do ponto de vista da diminuição da pobreza que assola o país.
Para isso, temos que acabar com todos os privilégios anacrônicos, não apenas de corporações do setor público, mas de segmentos do setor privado, que drenam recursos da sociedade em benefício próprio, à despeito do todo, em particular dos mais pobres. O caminho de não enfrentar os problemas e se esconder nos atalhos fáceis e populistas só nos levará a mais miséria no futuro.
Sendo assim, o debate atual sobre criar mais um gasto permanente para atenuar a pobreza deve considerar que o país simplesmente não tem espaço fiscal para acomodar mais gastos, pelo contrário. Deveríamos estar pensando em como reduzir o déficit de maneira mais rápida, para garantir alguma sustentabilidade para a dívida.
Não é por capricho, portanto, que as reações dos preços de ativos, câmbio, juros e bolsa, são extremamente fortes quando o governo dá mostras de querer abandonar a única âncora que segura toda a sustentabilidade da dívida, que é o teto de gastos.

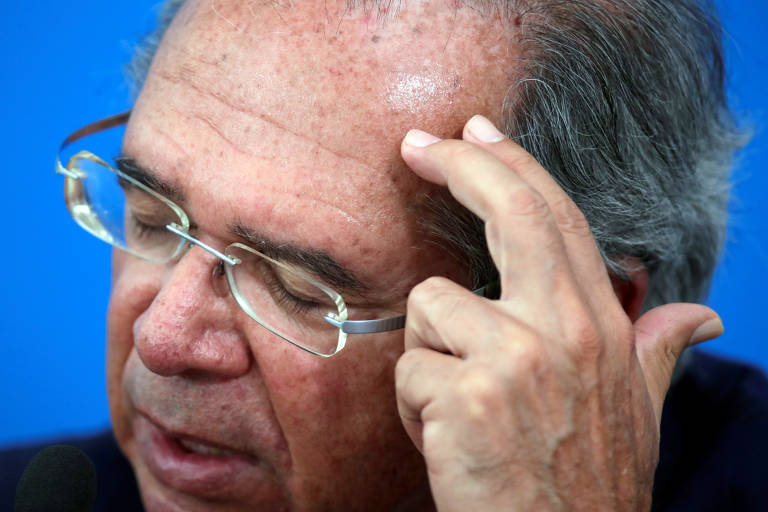



































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.