Em 2011, Joseph Safra surpreendeu a banca da Faria Lima, de Wall Street, da City e de Genebra ao comprar o banco suíço Sarasin. A operação dobrou o volume de recursos sob sua gestão em uma única tacada.
Perguntado por um banqueiro que cuidava do seu patrimônio pessoal por que um conservador da vida toda tomaria aquele risco aos 76 anos, Safra respondeu: “Meu filho, tem coisas que você faz porque são estratégicas. Estou comprando um negócio caro, mas bom. É o melhor lugar para o dinheiro estar, melhor até que o Tesouro americano. E se o governo americano fizer alguma besteira?”
Na época, Donald Trump era apenas o chefe do Aprendiz. “Ele fala pouco, mas sente o vento. Não precisa de muitas palavras para saber para que lado as coisas vão”, afirma o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, amigo de Joseph Safra desde os anos 1970.
Outro amigo de tempos ainda mais remotos, tão logo assumiu o poder, após o golpe militar de 1964, Antônio Delfim Netto fala do último remanescente de uma linhagem de banqueiros, dos quais fizeram parte Olavo Setúbal, Amador Aguiar e Walter Moreira Salles.
“Os bancos hoje são dominados por burocratas, que são dominados, eles mesmos, por algoritmos. O Zé julga olhando nos teus olhos, vendo teu passado, vendo teu projeto, e aposta em você”.
Avesso a aparições públicas, o banqueiro, empresário e filantropo era o menos conhecido entre as pessoas mais poderosas do país. Sua retidão tinha origem em preceitos judaicos e no temperamento tímido, mas nada disso o impediu de frequentar o centro da vida da corte, no Brasil e no exterior, ao longo de mais de meio século.
Numa linha do tempo que vai da posse do presidente do Banco Central Ernane Galvêas, em 1968, ao jantar pré-evento “Person of the Year” oferecido a Jair Bolsonaro em Nova York, em maio de 2019, ele esteve presente à sua maneira —nesta última, já muito fragilizado, fez de tudo para não chamar a atenção, o que, obviamente, era impossível.
Um dos banqueiros mais bem sucedidos do seu tempo, Joseph Safra consolidou e expandiu o conglomerado financeiro de sua família —em 1969, seu banco tinha uma agência em Santos e outras duas no centro de São Paulo, na rua 15 de Novembro e na rua Barão de Itapetininga.
Após a morte trágica do irmão, em 1999, Joseph assumiu à frente da dinastia, tornando-se ele próprio uma estrela da elite do capital.
Desde 2015, era o banqueiro com a maior fortuna pessoal no mundo. Sob sua liderança, o Banco Safra se firmou como uma das principais instituições financeiras privadas do país —desde a década de 1960, figura entre os dez maiores bancos brasileiros.
Atravessou crises políticas e econômicas, a concentração no setor financeiro e a abertura de capital dos bancos mantendo o mesmo perfil: conservador, sob a mão forte do dono (pré-algoritmos) e obsessivamente reservado.
Após a compra do Sarasin, liderou uma fase de expansão internacional e, a contragosto, levou o nome do clã à ribalta. Apesar disso, evitou a todo custo ser visto como “o primeiro” em qualquer área. Como financista judeu, sentia o antissemitismo sempre à espreita.
Os amigos falam de um sujeito delicado, de poucas palavras e guiado pela intuição —entre a prática religiosa do judaísmo, a família numerosa e a ética do trabalho. No Brasil, por estranho que possa parecer, dizia ter encontrado um país menos turbulento que a Europa e o Oriente Médio do pós-Guerra. Suas conexões com o mundo, na fabulosa intersecção do Ocidente com o Oriente, a fluência em várias línguas e o peso do sobrenome muitas vezes fizeram dele o interlocutor ideal para os outros donos do poder.
“Quem me apresentou ao Shimon Peres foi ele”, disse FHC, que certa vez adiou uma visita presidencial a Israel por causa de um conselho dado pelo banqueiro.
Joseph viveria os pontos altos entre diversas crises. Os negócios mal-sucedidos na BCP, na Aracruz e no fundo de Bernard Madoff deixaram fissuras, mas não chegaram a manchar sua reputação nem a comprometer a confiança da clientela.
As menções ao seu nome em escândalos políticos recentes, nas operações Lava Jato e Zelotes, também ficaram nas chamuscadas. Já as tragédias e os conflitos familiares deixaram marcas profundas.
Joseph viveu essa trama como irmão caçula que ascende nos negócios, sobrepondo-se até se tornar o seu líder supremo, e como pai, assistindo aos filhos Alberto e David numa batalha pelo futuro do Banco Safra.
Em um país onde a desigualdade é como um vulcão que quase nunca dorme, foi um doador importante de inúmeros projetos sociais. Neste mesmo país, viveu encastelado em uma mansão de 11 mil m² que, mais tarde, disse ter se arrependido de construir.
O exercício do poder em uma instituição privada que atravessa diversas atividades humanas —o banco— e, ao mesmo tempo, o desejo de desaparecer sob os holofotes do escrutínio público foram a fonte de permanente conflito. Em tudo o que fazia e construía, tinha um quê de monarca, o que apenas aumentava os contornos do drama.
Agora, a despeito do seu esforço para não virar notícia, firma-se como uma lenda, ao lado de seus antepassados banqueiros e de figuras ilustres de casas como Morgan, Rockefeller e Rothschild.

































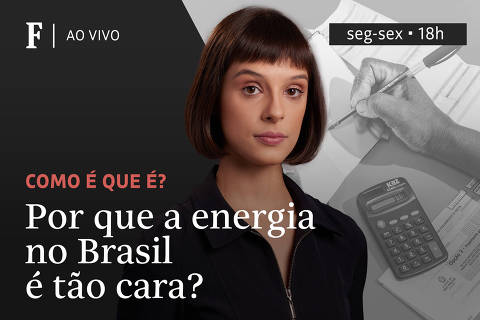

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.