Ele muitas vezes vê seu filho de três anos xingar o mundo, gritar "quero ir para casa" e cobrir os olhos para não ver ninguém parecido com os muçulmanos que foram mortos ao seu lado.
Às vezes ele abraça o filho com força. Mas, em geral, sente-se culpado por ter levado o filho à mesquita onde os tiros acabaram com a oração da sexta-feira, e por não impedir que ele fosse atingido.
"Eu vi fumaça saindo de um buraco na fralda dele", diz Zulfirman Syah, lembrando o dia em que um atirador entrou em duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, há um ano, matando 51 pessoas e ferindo outras dezenas, incluindo ele e seu filho. "Eu não pude protegê-lo."
Syah, um artista com olhos escuros e apáticos, sabe que a culpa é irracional; ele não pôde ajudar seu filho porque ficou inconsciente depois de mergulhar sobre o menino e receber tiros nas costas e na virilha.
Mas o terrorismo deixa feridas nos corpos e nas mentes. Para Syah, sua mulher, Alta Sacra, e seu filho, Roes, os últimos 12 meses foram definidos por uma angústia que recua e depois retorna com força.
A dor vem quando eles têm de lidar com um sistema de saúde que os deixa à própria sorte. Quando enfrentam teóricos da conspiração que usam um vídeo de Syah para negar a realidade.
Quando a psique ferida de seu filho os afasta da normalidade. E, agora, quando o aniversário do ataque realizado em 15 de março de 2019 lhes causa mais um choque emocional.
Sua experiência dolorosa aponta forças que o mundo ainda não pôde conter: armas, tecnologia e racismo.
Em sua vida cotidiana —documentada em diversas visitas de um repórter e um fotógrafo do New York Times—, a história é mais simples. É o amor teimoso combatendo um trauma que não vai embora.
"Você acha que o analgésico fez efeito?", perguntou a enfermeira alguns dias após o ataque. Syah balança a cabeça. Ele está deitado num leito de hospital em Christchurch.
A enfermeira tira a atadura que cobre suas costas, revelando um buraco vermelho e úmido do tamanho de uma bola de tênis.
Examinando o ferimento com o que parece um canudo estreito, ela segue um caminho sinuoso de cerca de 30 cm dentro de seu corpo —um dos muitos sinais que levam os médicos a acreditar que o atirador usou balas de ponta oca, que rasgam a carne mais que a munição comum.
Syah, 41, um pintor cujas obras foram expostas em uma galeria respeitada em sua Indonésia natal, tenta não ser um incômodo para sua esposa.
Sacra, 35, uma professora de Delaware (EUA), é mais esquentada e exigente com um sistema de saúde que nunca viu tantos ferimentos de bala.
O que eles enfrentam juntos é um complexo conjunto de ferimentos. Além das costas, as balas rasgaram a coxa de Syah, seu cotovelo, parte do pênis e o escroto.
Como muitas outras vítimas, eles são imigrantes nesta cidade de 380 mil habitantes, espremida entre montanhas e o Pacífico azul.
Eles chegaram com vistos de trabalho temporários dois meses antes do ataque, casados havia três anos após se conhecerem por um aplicativo de casamento muçulmano. "Alta veio para mim como um presente de Deus", diz Syah.
A versão dela é menos mística. É filha de cristãos fundamentalistas, casou-se jovem, divorciou-se, mudou-se para Bali, converteu-se ao islã, conheceu seu marido, casou-se e teve Roes (pronuncia-se Rou-is).
A parte da família feliz "aconteceu muito depressa", diz ela.
E é com eficiência que pretende preservá-la. Num minuto ela para na loja para comprar um tablet para que seu marido possa ver filmes e entrar na internet; no outro está no quarto dele, colocando pomada em seus lábios rachados, brincando sobre como espera que ele suporte os germes dela.
Quando ele voltou para casa duas semanas depois do ataque, porém, ela sentiu dificuldade.
Syah chegou ao apartamento de dois quartos, no primeiro andar, carregando um equipamento que drena o pus do ferimento em suas costas, mas o hospital esqueceu de incluir um carregador.
Ele também tem um cateter —mas veio sem instruções, provocando buscas frenéticas no YouTube.
Também não há um plano claro para sua medicação, ou para terapia física ou psicológica. "Não há nada nos papéis do hospital que me digam o que fazer", diz Sacra.
Enquanto Syah está deitado na cama, tentando atrair Roes com chocolate, Sacra tenta organizar a terapia para o filho e conseguir um clínico geral para o marido. O que mais a consome é o mais elementar: e se ele morrer?
Numa noite, algumas semanas depois, a pressão ficou forte demais. Ela grita para o marido, para sua irmã mais velha, Leah Sacra, que veio dos EUA para ajudar, e para o mundo. "Vou cortar meu pescoço", berra.
Sua irmã se senta com ela quando ela cai no chão e chora. "Sinto-me um fracasso", diz Alta. "Não sou uma boa mãe. Não sou uma boa esposa."
A notícia de que Syah salvou o filho se espalhou rapidamente pela Indonésia e pelos Estados Unidos, com uma mistura de artigos meio precisos e postagens nas redes sociais.
Para Sacra, parece é tragédia invasiva; pessoas distantes se sentem bem, e os traumatizados se sentem usados. Ela passa horas enviando mensagens a fontes, a plataformas, à polícia e ao FBI, pedindo que imagens e posts sejam removidos.
Quando o massacre ocorreu, Sacra estava preparando o almoço. Recebeu uma ligação de seu marido, que caiu. Ela ligou de volta. "Só escutei sons horríveis", diz ela. "Pessoas em agonia."
Havia orações misturadas com choro, árabe misturado com inglês.
"Diga alguma coisa, diga alguma coisa", ela lembra ter gritado. "Só uma palavra!" "Caos, caos, caos", seu marido respondeu. "Fui ferido."
O telefone ficou em silêncio. Syah tinha desmaiado no tapete. No vídeo, Roes puxa o pai, tentando subir no corpo dele —e para se afastar de um homem de abrigo cinza que está a centímetros de distância, parecendo morto.
Roes foi atingido por estilhaços. Ele recebeu pontos nas nádegas e nas pernas. Se não fosse seu pai, teria sido pior. "Eu fiz o que qualquer pessoa teria feito", diz Syah.
Mas não consegue deixar de se perguntar se poderia ter feito mais. Ele se senta sobre algumas almofadas extras no sofá, o mesmo sofá onde sua mulher estava combatendo teorias da conspiração.
De início, Roes usava óculos de sol dentro de casa. Quando seu pai voltou do hospital, ele o olhava, depois evitava seu olhar e mantinha distância do homem que costumava colocá-lo para dormir todas as noites.
O que Roes mais odeia é ver sua mãe ou seu pai deitados no tapete, o que lhe lembra claramente o tiroteio. Mas rostos e objetos também o perturbam. Um dia, a polícia trouxe os sapatos que ele tinha deixado na mesquita, e sapatos se tornaram um de seus muitos gatilhos.
A cura, para todos eles, é lenta e incompleta. Uma semana depois do tiroteio, uma enfermeira preenche formulários para colocar Roes em atividades de arte terapia.
Mas isso não acontece. As consultas são canceladas. Ele cai entre as rachaduras.
Então, em junho, Sacra "enlouquece". Ela procura qualquer pessoa na Nova Zelândia que pratique uma terapia de contar histórias conhecida como dessensibilização dos movimentos dos olhos e reprocessamento, em que os traumas são lembrados em breves doses enquanto um terapeuta distrai ligeiramente o paciente.
O doutor Allister Bush, psiquiatra infantil em Wellington, responde imediatamente ao e-mail dela.
Ele pede que ela escreva a história de sua família para Roes, passando de um começo confortável aos momentos do trauma à sua vida atual de amor e segurança.
"Um dia Roes olhou e viu mamãe deitada no chão", escreve ela em inglês e indonésio. "Ele ficou 'takut' [assustado] e disse: 'Mamãe não deita! Mamãe não deita!'. Mas estava tudo bem, mamãe só estava cansada."
Quando ela lê a carta inteira para ele na primeira sessão com Bush, Roes participa, mas está irritado. Na segunda vez, porém, o menino parece estar à beira das lágrimas. Para sua mãe, a dor parece progresso.
Mas o problema não se evapora. Mesmo depois de sessões com um terapeuta local, mesmo depois de eles se mudarem para uma nova casa com paredes brancas e claraboias, Roes continua se comportando de maneira confusa.
Alguns dias ele brinca sem incidentes. Coloca os sapatos como qualquer menino de 3 anos. Mas também há episódios inesperados de raiva. No entanto, lentamente, a angústia se dissipa.
Sacra vai à terapia para transtorno de estresse pós-traumático. Ela começou um novo emprego como defensora de saúde mental, colocando sua abordagem inflexível a trabalhar para os outros.
A rotina de Syah começa com orações ao amanhecer. Ele faz o café da manhã para Roes, depois vai de bicicleta à aula de inglês ou pinta na garagem. A única peça que ele terminou desde o tiroteio se intitula "Momentum".
Roes não desvia mais o olhar de seu pai. Ele costuma pegar na estante um livro chamado "Diga por favor, ursinho", que conta a história de um pai que ensina seu filho sobre a amizade.
Perto do final, quando o urso dá um abraço, Roes gosta de fugir —e depois voltar para os braços do pai, espremendo para longe a culpa que resta.
No último fim de semana, Syah e Roes cochilaram juntos sobre um macio tapete cinza em casa. Com os corpos abraçados, o pai segurando seu único filho, foi uma sequência maravilhosamente comum do 15 de março.
Desta vez não havia armas nem heroísmo. Só paz.



































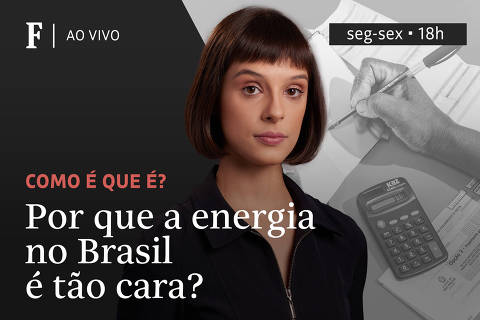

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.