Única superpotência no sentido clássico, político-econômico-militar, num mundo crescentemente multipolar, os Estados Unidos sempre têm sua ação externa sob escrutínio: todos nós somos afetados por quem for eleito presidente por lá, afinal.
Ainda assim, há limites claros sobre o quão poderosa é a pessoa mais poderosa do mundo, e eles não dizem respeito apenas aos freios e contrapesos de um sistema no qual as Casas do Congresso não são cartórios do Executivo e o Judiciário, por mais ameaçado que o balanço pareça hoje, é independente.
Conjunturas política internas têm grande peso na definição de metas externas, seja por influência de grupos específicos com interesses pontuais, seja pelo poder perene do famoso complexo industrial-militar americano.
Há algo mítico acerca da política externa americana, dado que em diversos momentos ela encarnou o espírito do tempo —sendo representada ou proposta pelo presidente.
Assim, a doutrina estabelecida em 1823 para asseverar as Américas como quintal geopolítico por excelência de Washington foi batizada com o sobrenome de James Monroe, que governou os EUA de 1817 a 1825.
Ela é evocada até hoje quando o tema é a espinhosa relação dos americanos com seus vizinhos ao sul, como lembrança de um imperialismo que já foi bastante intrusivo —o apoio a gerações de golpistas nas Forças Armadas da região, Brasil inclusive, dispensa apresentações.
Sob o mesmo prisma, a doutrina do "Grande Porrete" de Theodore Roosevelt (presidente de 1901 a 1909) implementava na prática as intenções de Monroe ("Fale suavemente e carregue um grande porrete", era seu mote ao lidar com insurreições locais).
Na mão contrária, a determinante influência americana no mundo após a implosão dos sistemas imperiais europeus na Primeira Guerra Mundial (1914-18) foi associada diretamente ao nome de Woodrow Wilson (1913-21), que ao fim do conflito delineou os princípios da ordem mundial do século 20 nos famosos "14 Pontos".
Essa aura escamoteia o fato de que atores externos, geralmente inimigos, são tão determinantes para a política americana quando a limitada vontade de seus governantes.
Três casos são clássicos. Harry Truman (1945-53) emergiu como o vencedor da Segunda Guerra Mundial (1939-45, na qual os EUA entraram em 1941) com foco total na reconstrução da Europa. O temor era óbvio: a maciça presença militar e política de outro vencedor, a União Soviética.
Só que sua política externa acabou marcada por um evento exógeno: a invasão comunista do sul coreano com o apoio direto da recém-estabelecida República Popular da China, em 1950.
Levando a uma intervenção direta dos americanos, o conflito que durou três anos não fazia parte de um programa de prioridades de Truman, por assim dizer.
Assim como Cuba não estava nos ambiciosos planos globais de John F. Kennedy quando, aos três meses de seu curto mandato (1961-63, encerrado com seu assassinato), o presidente viu fracassada a invasão da baía dos Porcos pela CIA.
Dali em diante, com os sombrios dias da Crise dos Mísseis de 1962 acima de tudo, a ilha comunista no Caribe dragou boa parte dos esforços e energia de JKF.
Na aurora deste século, o democrata Bill Clinton (1993-2001) bem que tentou avisar seu sucessor republicano George W. Bush (2001-2009) de que o jihadismo liderado por Osama bin Laden era uma ameaça urgente.
Foi ignorado, mas a política externa de Bush e, por consequência de todo o mundo no começo do século 21 foi moldada pela dita guerra ao terror deflagrada na esteira dos ataques do 11 de Setembro contra Nova York e Washington.
Trump, na cadeira em seu primeiro mandato, fez uma bagunça danada nas relações internacionais, a começar pela instauração da Guerra Fria 2.0 contra a China de Xi Jinping.
Isso o aproxima, num sentido, da tradição de Monroe e Roosevelt, mas é possível argumentar que ele apenas reagiu à crescente assertividade de Xi à frente do comando do colosso asiático.
Nesse dilema sobre o que veio primeiro, o ovo e a galinha se confundem numa narrativa que começa no embate entre a decadência chinesa e o imperialismo europeu no século 19.
Isso dito, é inegável que as jogadas foram incentivadas pela mão do americano, e parece que um eventual presidente Joe Biden não fará algo muito diferente.
Naquilo em que a segurança global dependeu, o resultado é misto. Trump foi proativo ao confrontar o Irã e retirar-se do acordo que visava prevenir o desenvolvimento da bomba atômica dos aiatolás.
Chegou à beira da guerra com o país xiita ao mandar matar um alto general iraniano no Iraque, no começo deste ano, mas acabou recuando.
Mais importante, aproveitou o fastio dos árabes com o conflito israelo-palestino para promover uma aliança anti-Irã a partir da pacificação de relações entre Tel Aviv e atores importantes do mundo sunita. Mesmo que Biden retome a acomodação de seu ex-chefe, Barack Obama, com Teerã, a realidade é outra.
No outro conflito real que enfrentou, com a Coreia do Norte, Trump foi totalmente reativo. Assim como Bush, ele havia recebido de Obama um alerta que ignorou.
No caso, a indicação de que a dinastia stalinista de Kim Jong-un iria aprontar. O jovem ditador passou 2017 testando foguetes que poderiam atingir os EUA e até fez um teste nuclear.
Isso jogou Trump numa retórica incendiária, só para aquiescer e aceitar Kim como um igual à mesa em negociações que não levaram a nada além de fotos ainda.
O próximo presidente, seja o republicano ou o democrata, não escapará de lidar com isso, e não parece improvável que, novamente, o fará devido à ação dos adversários.

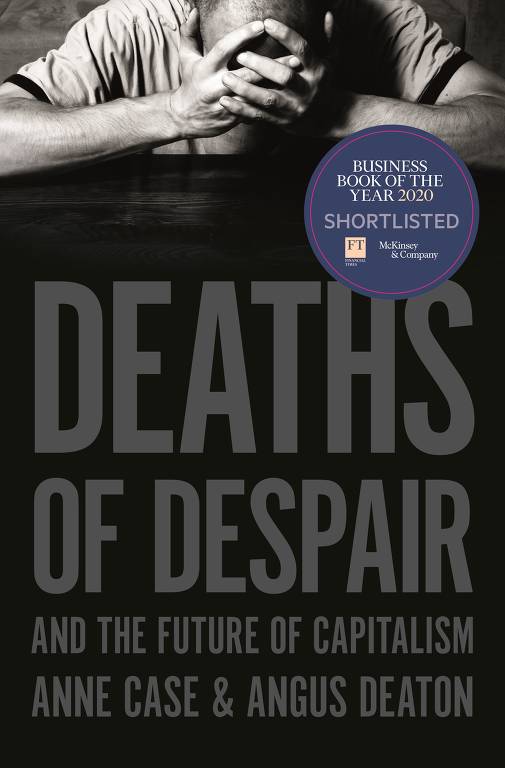





Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.