O dia 13 de setembro de 1993, há exatos 25 anos, será sempre lembrado como o momento em que palestinos e israelenses chegaram mais perto de uma reconciliação.
A criação de um Estado palestino, horizonte vislumbrado pelo Acordo de Oslo, colocaria fim a um conflito que, com distintas manifestações e graus de violência, já durava quase um século.
Tratava-se de uma tarefa complexa. Antes de tudo, era necessário estabelecer um governo transitório palestino e assegurar, gradativamente, a desocupação militar israelense. O ingrediente fundamental era a confiança mútua, algo difícil de construir e mais ainda de manter.
Com essas condições atendidas, as partes poderiam se dedicar à negociação de temas espinhosos, como o status de Jerusalém, a questão dos assentamentos ilegais nos territórios ocupados, o desenho final das fronteiras e o direito de retorno dos refugiados palestinos.
Um cronograma otimista estipulava que tudo isso deveria estar resolvido até a virada da década —fechando o mais sangrento e belicoso dos séculos com chave de ouro.
E nada se resolveu. Pelo contrário: duas décadas depois, o saldo da violência é aterrador.
Durante a segunda intifada, marcada pelo uso de terrorismo suicida por parte de grupos palestinos e pela dura reação militar de Israel nos territórios, estima-se que morreram 1.000 israelenses e 3.000 palestinos.
Desde a tomada de Gaza pelo Hamas, marcada pela tirania interna e pelo uso ostensivo de foguetes contra Israel, três operações militares israelenses deixaram nada menos que 5.000 mortos, a maioria civis.
Para piorar, a região passa por momentos dramáticos.
Israel, sob a batuta do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, afasta-se do seu espírito democrático e caminha, a passos lentos e talvez irreversíveis, rumo a uma etnocracia.
Os palestinos, por sua vez, veem-se rachados entre o reino do terror imposto pelo Hamas em Gaza e a fraqueza do Fatah, tomado pela corrupção e comandado pelo desgastado presidente Mahmoud Abbas, na Cisjordânia.
Tudo isso em meio a um Oriente Médio devastado por guerras sectárias e tragado pela disputa de poder entre sauditas e iranianos, russos e norte-americanos.
Diante desse quadro, haverá outra janela de oportunidade para palestinos e israelenses?
Os céticos dizem que a chamada “solução de dois Estados”, que balizou as negociações de Oslo, tornou-se inviável. Seja pelo número crescente de colonos israelenses vivendo em assentamentos na Cisjordânia, pela ausência de uma liderança palestina ou pela radicalização de ambas as sociedades, parece não haver mais condições objetivas para uma reconciliação nesses termos.
O problema dos céticos é a incapacidade de pensar em alternativas. Variações de um Estado binacional, que acomode no mesmo espaço ambas as aspirações por autodeterminação, parecem ainda mais irrealistas diante da total desconfiança entre as partes.
Dar uma nova chance à solução de dois Estados, portanto, envolve pensarmos nas condições que permitiram o florescimento do processo de Oslo e, sobretudo, em seus erros.
No plano global, o fim da Guerra Fria e o renovado voluntarismo dos Estados Unidos, corporificados na figura do então presidente Clinton, abriu espaço para uma ativa mediação norte-americana.
Em Israel, a liderança política do primeiro-ministro Yitzhak Rabin foi essencial para transformar os ânimos e construir a confiança da sociedade israelense com relação aos palestinos.
Do outro lado, o líder da Organização pela Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, foi capaz de manter o povo unido, mesmo diante das necessárias concessões impostas pelo processo de Oslo.
Foram várias as razões pelas quais Oslo entrou em colapso, vencido o prazo para que se chegasse a um acordo permanente. Talvez a mais importante tenha sido que as negociações não engajaram, de maneira profunda, as respectivas sociedades no processo.
O “espírito de Oslo” não transbordou do mundo político para o social. A morte prematura de Rabin, assassinado por um nacionalista religioso de extrema-direita, e as crescentes dificuldades de Arafat em lidar com o radicalismo de grupos palestinos, como o Hamas, provaram-se obstáculos intransponíveis e desmobilizaram os esforços pela paz.
Hoje, as condições são muito piores do que as de 25 anos atrás. Trump não é Clinton, Netanyahu não é Rabin, e Abbas não é Arafat. Não há vontade política, de nenhuma das partes, para reativar as negociações de paz nos termos de Oslo.
Surpreendentemente, a esperança está justamente numa sociedade civil que parece florescer em meio ao medo e ao desencanto. Há israelenses e palestinos, portadores deste “espírito de Oslo”, trabalhando em grupos de tamanhos variados e refletindo seriamente sobre as possibilidades para a paz.
Deles, poderão surgir lideranças capazes de reorganizar o processo de paz. Ao contrário de Oslo, esse é um processo lento, gradativo e potencialmente doloroso. Mas talvez seja o único caminho para que a primavera israelo-palestina possa finalmente nascer.


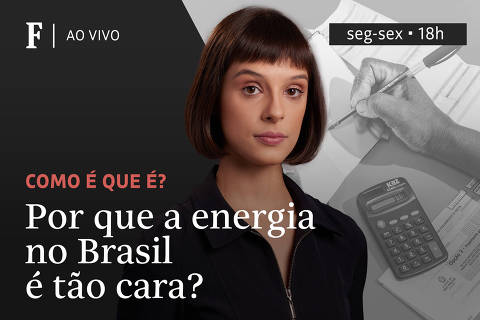

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.