Em se tratando de racismo, o branco ocupa um lugar permissivo. Ao adquirir a consciência da obrigação de ser antirracista, ele não torna isso uma prática ampla e diária. Gerar empregos ou se recusar a ir ao clube frequentado só por brancos é a ponta de um iceberg muito maior.
Um dia, ouvi um conselho à minha observação: “Os pretos que estão no lugar onde você está, estão se divertindo ou trabalhando?”. Percebi que eu, amante dos escritos de James Baldwin (autor da frase “Nem tudo o que enfrentamos pode ser mudado. Mas nada pode ser mudado enquanto não for enfrentado”, citada no subtítulo deste artigo), fã de jazz, neta de judeus e pretos, anulara qualquer tipo de reflexão apoiada na concretude da minha pele branca.
Não tenho eu adotado a prática diária do não racismo. Quando me dou conta disso, sinto uma vergonha que não absolve nem zera essa herança repulsiva. Minha consciência política se dá pela metade. Sei do racismo, li Martin Luther King e aprendo com Spike Lee. O que eu faço com tudo isso? Nada.
Por ser judia e reconhecer semelhanças nos holocaustos a que os povos africanos e judeus foram submetidos, e não ser assim de todo má pessoa, sempre me senti absolvida do rótulo de racista. No entanto, um sentimento de culpa sempre me atormentou. Não a culpa daquele que é autor —uma culpa bem pior, daquele que é conivente. Esse abismo entre a admiração do conceito da luta antirracista e sua prática diária me fizeram reconhecer esse desastroso lugar de conivência.
Ao assistir à morte de George Floyd chorei. Senti-me feliz ao ver os incêndios e as manifestações. Achei que essa alegria se atribuía a uma sensação de vingança. Agora, ao escrever, vejo que não era isso. Era sentimento de absolvição. O grito daqueles manifestantes brancos e pretos era meu também. Eu saíra do lugar de conivência.
Mas será que não sou conivente mesmo? O que fiz na prática após a morte de João Pedro? Assinar abaixo-assinado contra a federalização do caso Marielle? É preciso que o branco não sinta que essas ínfimas ações o absolvem. Nós, brancos, temos uma dívida, e o fato de ela ser ancestral faz com que não nos cause estranheza.
O racismo diário, feito de pequenas ações, excluído da barbárie explícita, não nos comove. Praticamos “a banalidade do mal” conceituada por Hanna Arendt. Nossa conivência nos equipara aos algozes dos campos de concentração que, no julgamento de Nuremberg, diziam “só cumprir ordens de superiores”.
O leitor branco concluirá que estou exagerando. Mas o que aconteceria se o antirracismo fosse uma prática diária de todos que se julgam não racistas? E se saíssemos do lugar de somente assinar manifestos?
O que há na luta contra o racismo que ameaça tanto o branco? Alienação como desculpa não me convence. Falta de empatia também não.
Com todo o respeito aos meus irmãos brancos, concluo que todos que silenciam se tornam racistas.
O fim do racismo não é uma luta restrita aos pretos. É uma luta de uma mãe branca que ensina ao seu filho que Zumbi é um herói. E a exemplo do líder quilombola, a luta não deve se restringir ao campo das ideias.



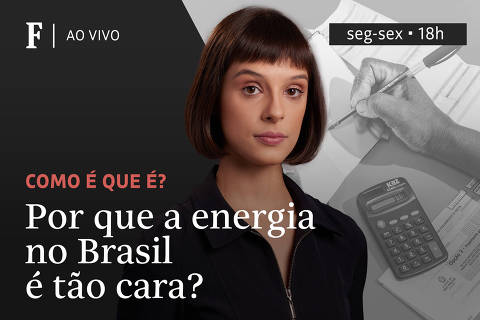

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.