




 |
 |
 |
São Paulo, sábado, 11 de março de 2000
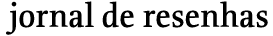 |

|
| Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
A regra da maioria
Quentin Skinner Tradução: Raul Fiker Editora Unesp (Tel. 0/xx/11/232-7171) 116 págs., R$ 14,00 RENATO JANINE RIBEIRO A Universidade de Cambridge tem, como a de Oxford, algumas cadeiras régias, fundadas pelos reis da Inglaterra. É o caso de sua cátedra de história moderna, que recebeu como titular, em 1997, um dos maiores historiadores atuais do pensamento político, Quentin Skinner. Mas o irônico é que o novo professor régio resolveu tratar, em sua aula inaugural, do pensamento que muitos chamam de republicano, na Inglaterra do século 17. Uma delicada defesa do republicanismo seiscentista foi assim o modo pelo qual Skinner revisitou os republicanos da era da guerra civil, alguns dos quais, como o poeta John Milton, apoiaram a execução do rei Carlos 1º. Skinner não fala tanto, porém, em republicanos, mas em "neo-romanos" -o que me parece curioso, pois ele sempre se empenhou em restituir aos pensadores o gume que tiveram em seu tempo: ora, eles então foram mais vistos pela veemência de sua intervenção política no presente do que por sua genealogia teórica. Mas, de todo modo, a idéia de Skinner é que Algernon Sidney, Marchamont Nedham, Francis Osborne, Henry Neville, e os mais conhecidos James Harrington e John Milton, retomaram a teoria romana do Estado livre. Entendiam que só é livre o indivíduo que vive num Estado livre, do qual -ao menos em princípio- se excluem as monarquias. Seria livre o Estado no qual vale a vontade da maioria. Liberdade individual e coletiva Essa é a tese republicana, como se diria no século 17, ou democrática, como foi sugerido recentemente num grupo informal de estudos sobre a República, de que fazem parte alguns intelectuais brasileiros: a liberdade individual se funda na liberdade coletiva. Tal idéia contrasta com a versão liberal, que vai depois desafiá-la e (diz Skinner) vencê-la. Simplificando, a tese neo-romana discute como se funda na sociedade a liberdade, enquanto a visão liberal se centra em preservar uma liberdade cujo titular é o indivíduo, e cuja existência mais se constata -ou defende- do que se funda. Isaiah Berlin, inspirando-se em Hobbes e Benjamin Constant, distingue liberdade positiva (em inglês, liberdade "to", isto é, "para") e negativa ("from", isto é, liberdade "de", no sentido de "em face de" ou "contra"). A primeira é a liberdade coletiva, dos antigos -enorme para a sociedade, quase nula para os indivíduos. A segunda é a liberdade propriamente moderna -o direito do indivíduo a não se curvar aos poderes externos, sobretudo o do Estado. Se, na modernidade, o projeto capitalista é essencialmente o da liberdade negativa dos liberais, protegendo a iniciativa individual contra o Estado e o coletivo -enquanto as revoluções modernas de teor social, desde a francesa, e os movimentos de esquerda retomam a liberdade positiva (ou "antiga")- então, o que Skinner faz é relativizar o alcance da liberdade negativa, ou liberal. Mais ainda: se uma linha separa, desde o século 18 ou 19, uma política de matriz francesa, que passa por revoluções republicanas e cada vez mais sociais, e outra anglo-saxônica, que conhece um desenrolar evolutivo e gradual, mas não revolucionário, no qual o capitalismo é um franco sucesso -então o que mostra Skinner é uma Inglaterra na qual ainda cabia algo como a idéia "antiga" de liberdade, que iria dar na Revolução Francesa e nos projetos de esquerda. Inevitável aproximar essa sua leitura da de um autor a quem ele não cita aqui -Christopher Hill-, em sua fecunda releitura da Revolução Inglesa de 1640 à busca de seus radicais. É claro que Skinner trata do assunto com mais matizes, até porque sua investigação é de filosofia política, e a de Hill se concentrou nos movimentos sociais. A eficácia das idéias Falamos em matizes: um parêntese sobre o método de trabalho de Skinner. No final deste livro-aula, depois de narrar o fracasso histórico dos projetos neo-romanos, ele critica tanto o fechamento da filosofia política sobre si (a exclusão da história, a leitura apenas do texto) quanto a idéia de sua ineficácia prática. Talvez porque tanto a celebração de um isolamento imperial da filosofia em face dos fatos, promovida por alguns historiadores dela, quanto o desdém que por ela manifestam alguns historiadores "tout court", dizendo que as idéias não passam de efeito ou resultado da "verdadeira história" (a dos processos sociais, por exemplo), expressem a mesma limitação: ignoram a eficácia das idéias. E é nessa eficácia que devemos trabalhar a filosofia ou, pelo menos, a filosofia política. Mas retomemos a tese neo-romana. Ela se opõe ao título mesmo da obra fundadora do direito divino dos reis, a "Verdadeira Lei das Monarquias Livres", que o futuro rei Jaime 1º da Inglaterra escrevera em 1598. Seria livre a monarquia, dizia Jaime, quando o rei fosse livre, isto é, absoluto. Já para os neo-romanos, a liberdade de que se fala é a dos súditos, e uma monarquia livre é uma contradição em termos. Assim, tende a perder sentido a velha divisão entre a monarquia, regime legítimo, no qual vigora a lei (ainda que não votada, mas decretada pela vontade de um só) e a tirania, regime ilegítimo, no qual tudo depende do capricho de um único homem. Para cada indivíduo (e neste ponto Locke deverá algo aos neo-romanos, embora lhes modere o tom), depender da vontade alheia passa a ser o mesmo que depender de um capricho, como o do tirano ou déspota. A autonomia de cada pessoa fica ligada à sua própria vontade: não há liberdade, se esta não tiver voz. Daí que um tema-chave se torne o da dependência. A ameaça à liberdade não vem só da coerção ou da força efetivas, mas de sua possibilidade, ainda que remota. Ora, o cerne dessa ameaça está na dependência de alguém em relação a outra pessoa. Uma tal teoria da dependência permite incluir elementos sociais no âmago da política -ao contrário do que fará a doutrina liberal- porque a dependência é, mais que tudo, uma relação social. A crítica à dependência ultrapassa assim uma abordagem só jurídica ou constitucional dos regimes políticos, neles englobando o que modernamente se chamará a questão social. Aqui, penso que convém uma nota adicional. É comum se supor que a discussão do social no político constitui um aporte relativamente recente, bem pós-Revolução Francesa, datando sobretudo do século 19, a um debate que começou por questões mais constitucionais. Marshall, quando distingue três gerações sucessivas de direitos humanos (civis, políticos e sociais), assim entende. Hannah Arendt, quando lamenta que modernamente o debate sobre a qualidade da vida em comum se tenha tisnado do tema da carência ou da escassez (e portanto da economia), assim pensa. Aliás, nesta crença (de que só recentemente o social entra na política) parecem convergir direita e esquerda, na leitura que fazem da história dos últimos 200 anos. Mas esse é um equívoco. O tipo de reivindicação que se expressa na França de 1789, a linguagem em que a revolução se dá, já abrem o social. Antes mesmo disso, a Inglaterra do século 17 mostrava esse vínculo, como a seus distintos modos lemos em Hill e Skinner. E, se voltarmos aos gregos, a ênfase que eles dão à idéia da democracia como regime dos "polloi", termo que denota "os muitos", mas também conota os pobres, deixa claro que desde a Antiguidade a discussão das formas políticas não se produz num vácuo social -até porque era comum criticar-se o governo popular, pelo perigo de que a maioria sem posses confiscasse os bens da minoria rica. Para concluir esta discussão inspirada num livro assim rico, que desloca os pares usuais de opostos e põe reticências na imagem comum de um triunfo fácil e definitivo dos liberais, talvez se possa sugerir que o eixo da contestação liberal à teoria neo-romana esteja na seguinte questão: dentro de que limites vale, mesmo, a regra da maioria? O pressuposto dos neo-romanos ingleses era que só num Estado livre há liberdade do indivíduo. Ora, isso significa que a vontade da maioria constitui a melhor caução para a liberdade de cada um -caução nitidamente superior à vontade de outro indivíduo, erigido em rei. Mas vamos à objeção de Hobbes a esse ponto. A posição de Hobbes Hobbes pensa a liberdade pelo viés do indivíduo. Ora, isso significa que, quando ele compara a liberdade do indivíduo num Estado democrático e num monárquico, não está perguntando tanto como se expressa a voz dessa pessoa (questão neo-romana, republicana ou democrática), mas sim como ela é afetada pelas decisões, e mesmo perseguições, do soberano. Interessa-lhe pouquíssimo o cerne da problemática neo-romana, que consiste em eu, cidadão, influir nos assuntos públicos, por minha voz na assembléia. Hobbes descrê disso, porque ele desqualifica a discussão pública, que se dá mediante a retórica: fonte de equívocos e mesmo de manipulação. Suponhamos que, por princípio, eu seja sempre aquele que sofre o peso do poder. Isso ocorre, ou porque sou súdito de um rei que não me consulta, ou porque, numa assembléia (que por definição comporta pelo menos três membros), eu, sendo um só, sou sempre minoria. A implícita pergunta hobbesiana é: em qual regime padeço menos? (Não é: em qual regime me expresso mais). Padeço menos na monarquia, responde o filósofo, porque nela, desde que leve uma "retired life", uma vida retraída ou em retiro, o rei nem pensará em mim, ao passo que na democracia posso ser facilmente perseguido pelo partido vencedor (ao qual, repito, "de jure" nunca pertenço, porque por princípio sou minoria). O interessante nesse jogo desconfiado é uma desqualificação da regra da maioria. É claro que Hobbes a admite, para a democracia, mas nega as bases pelas quais os democratas a exaltarão. A regra da maioria, tal como a conhecemos, vem dos colegiados clericais da Idade Média, que para decidir em assuntos controversos faziam prevalecer a vontade da "parte maior e mais sadia ("sanior')", segundo mostrou Otto von Gierke. Não bastava pois prevalecer a quantidade: era preciso alegar que ela tivesse qualidade superior. Mas é daí que se vai acabar chegando à idéia de que a maioria represente o todo, inclusive os derrotados, ou minoria. O arremate desse processo está na vontade geral de Rousseau, descrita no Livro 2º do "Contrato Social" como uma simples regra da maioria, mas que depois, no Livro 4º, é condicionada por procedimentos (a inexistência de facções e a redução do papel enganador da oratória) que a convertem quase que em revelação da verdade. Ora, é exatamente essa relação entre maioria e indivíduo, da ordem da representação ou mesmo (no caso de Rousseau) da revelação, o que Hobbes nega. A base do liberalismo Eis o ponto em que esse curioso Hobbes, tão associado por seu Estado forte ao autoritarismo, dá base ao liberalismo: existem irredutíveis ao poder comum. No campo democrático, os radicais exigirão que o poder coletivo decida de tudo, e isso porque, representando a maioria, ele representaria todos. A advertência hobbesiana é que, ante o risco de um poder controlar tudo, o decisivo é uma postura defensiva do indivíduo -e esta funciona melhor na monarquia que na democracia, melhor no conservadorismo do que nas democracias radicais ou socialistas. O que, para concluir, permite sugerir que -se a liberdade neo-romana lida com a construção do social (com todos os riscos que ela comporta)- a liberdade dos liberais, pelo menos tal como cintila em Hobbes, seu precursor, tenha mais a ver com a segurança do indivíduo do que com sua livre iniciativa. Renato Janine Ribeiro é professor de ética e filosofia política na USP, autor, entre outros livros de "Ao Leitor sem Medo - Hobbes Escrevendo Contra o Seu Tempo" (UFMG, 2ª edição). Texto Anterior: Newton da Costa: A realidade física Próximo Texto: Franklin Leopoldo e Silva: O trabalho da hermenêutica Índice |
|
|