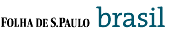|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
LANTERNA NA POPA
Uma fábula futura
ROBERTO CAMPOS
Seis bilhões de gentes pululam
na Terra, 1,2 bilhão delas numa
dieta de emagrecimento de menos de um dólar por dia para viver. Alarmado, o Banco Mundial propõe uma "grande coalizão" de ajuda internacional para evitar que dentro de um
quarto de século 4 bilhões de
pessoas tenham que sobreviver
com menos de dois dólares por
dia.
Nesse cenário dantesco, abundam fotografias de crianças angolanas esfaimadas, enquanto
os adultos se dedicam com inabalável entusiasmo ideológico,
aprendido com as não menos
entusiásticas direitas e esquerdas mundiais, a destruir o que
ainda resta do país.
Associe-se a isso as guerras étnicas ou religiosas entre tâmils e
cingaleses, entre hindus e paquistaneses, entre russos e tchetchenos, a gente se pergunta: haverá esperança para a nossa capacidade criadora, ou será que a
visão do inferno terreno de hoje
terá de ser o baço espelho do futuro?
Não pretendo ser profeta. Espero, aliás, vir a ter, agora nesta
minha idade mais ponderada,
um pouco mais de instinto de
autopreservação, porque as previsões certas que, no passado,
andei fazendo a respeito da economia da pátria amada me custaram muitas pancadas. Mas está ficando difícil resistir às cócegas do otimismo tecnológico.
Nos Estados Unidos, ele anda
especialmente na moda. Fala-se
na morte da inflação e no fim
dos ciclos econômicos da depressão. Nesses últimos 17 anos só
houve uma recessão, quando
tradicionalmente elas repontavam cada três ou quatro anos.
Esse otimismo não chega a ser
uma novidade surpreendente
no ambiente norte-americano,
porque esse povo se desenvolveu
ativo, criativo e crente no futuro.
Hoje, porém, depois de perto de
dez anos de prosperidade contínua, com a Bolsa de Valores
quebrando sucessivamente os
próprios recordes, com o índice
Dow Jones, esse ícone do capitalismo mundial, furando tetos tidos como números mágicos (subindo de menos de 3.000 pontos
entre o começo desta década para perto de 11 mil hoje) -e, tudo
isso "mirabile dictu" com superávit fiscal-, é lícito perguntar:
será que existe mesmo um Papai
Noel tecnológico?
Certa vez mencionei aqui a
"Ideologia Californiana", uma
interessante combinação de extremo radicalismo tecnológico e
inovacional, com um não menos
radical individualismo libertário. Isso, no vocabulário pobre
de alguns membros da "intelligentsia subnacional" tupiniquim, é traduzido como "conservadorismo" político.
O otimismo tecnológico tem
muito a ver com o universo de
informação. Algumas das cabeças mais radioativas do Silicon
Valley e dos territórios em volta
do MIT estão sonhando de olhos
abertos com um Dow Jones de 30
mil (talvez em quatro anos) e
com um cenário de ininterrupta
expansão econômica a 4% ao
ano, com baixa inflação, altíssimo emprego, firme confiança do
consumidor, preços estáveis, juros baixos, salários crescentes e
criminalidade cadente! "Excusez du peu..."
A maioria entretanto ainda
olha desconfiada. Afinal, perto
de meio século de hábitos de verdade científica, ceticismo da mídia e relativismo pós-moderno
não passam à toa. A inflação e
os ciclos econômicos estariam
apenas anestesiados, porém não
mortos. Argumentam muitos
que ondas de otimismo já aconteceram antes.
O papel estimulante hoje exercido pela revolução da Internet
foi desempenhado no começo do
século 19 pelas ferrovias e no albor deste século, pelo automóvel.
Mas há uma diferença. Essas
inovações trouxeram saltos de
produtividade, mas estes foram
descontínuos e não disseminadores de conhecimento, enquanto a Internet parece uma fonte
interminável de difusão tecnológica e multiplicação da produtividade individual.
A interessante revista "Wired", que é uma espécie de Bíblia
da ideologia californiana, usa
um novo termo: a "ultraprosperidade". Eis seus componentes:
uma renda média familiar de
150 mil dólares em 2020, todas
as pessoas atingindo um nível
considerado até hoje privativo
dos ricos, trabalhadores de macacão ganhando tanto quanto
os de terno e gravata, emprego
formal sendo substituído pela
condição de "auto-empresário".
Quando se olha a nova realidade criada pelas tecnologias da
informação, não é tão esdrúxulo
assim. Existem hoje 8 milhões de
milionários nos Estados Unidos,
e estima-se que uns 250 mil se
concentrem no Silicon Valley. E
há quem calcule que uns 30 mil
funcionários da Microsoft também se achem nessa situação,
graças às "stock options".
O mais interessante, porém, é
que toda essa riqueza nova está
fazendo ferver a moda da filantropia. Os americanos sempre
foram dados a um hábito que
aqui não é dos mais disseminados: deixar fortunas para hospitais, fundações de amparo,
obras sociais, universidades, instituições de pesquisas e museus.
Mas, agora, a coisa se exacerbou.
O grande luxo da milionarada
deixou de ser o consumo conspícuo e passou a ser a prática das
doações em escala industrial. Os
marxistas falavam muito na
competição capitalista pela espoliação, mas agora está surgindo um animal novo: a competição pela filantropia. Já há até especialistas em achar a quem dar
e como administrar o processo.
Isso, pelo que se sabe, não é sopa.
Ganhar dinheiro, afinal, parece ser coisa que muita gente
aprendeu a fazer na "nova economia". O problema é aprender
como distribui-lo eficientemente. O profissionalismo está nisso:
saber doar com a mesma eficiência com que se ganhou.
Do ponto de vista dos países
emergentes, seria uma angústia
gostosa preocupar-se com a maximização dos resultados da filantropia. Nosso problema imediato é o de reduzir o coeficiente
de "pilantropia".
Para Bill Gates, que agora inicia sua carreira de filantropo,
com doações na casa dos bilhões
de dólares, o mercado de doações deve parecer exasperante.
Que será melhor para a África:
investir na alfabetização ou em
pesquisa da cura da Aids? Fará
sentido auxiliar a Índia e o Paquistão com dinheiro novo,
quando desperdiçam recursos
num arsenal nuclear para se
protegerem uns dos outros?
Que fazer para o Sri Lanka,
onde tâmils e cingaleses se matam diariamente? Ou pela América Latina, onde o ensino fundamental é grotescamente inadequado e a elite se beneficia de
universidades públicas gratuitas? O problema dos novos ricos
é saber doar; o dos pobres perpétuos é saber usar.
Roberto Campos, 82, economista e diplomata, foi senador pelo PDS-MT, deputado
federal pelo PPB-RJ e ministro do Planejamento (governo Castello Branco). É autor
de "A Lanterna na Popa" (Ed. Topbooks,
1994).
Texto Anterior: Painel
Próximo Texto: Jornalismo Econômico: Folha convoca 39 para testes
Índice
|