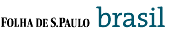|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
LANTERNA NA POPA
A estranha arte de perder credibilidade
ROBERTO CAMPOS
Ao longo de 1998, e agora no
começo de 1999, o Brasil passou
a sofrer uma grave "crise de credibilidade". Essa crise, que é em
parte de percepções psicológicas,
se superpõe às distorções fundamentais oriundas do déficit gêmeo: fiscal e cambial.
Subitamente as conquistas
efetivas do Plano Real, em termos de cura da inflação, modernização econômica pela reformatação do Estado, abertura
internacional e privatização, ficaram esmaecidas. Nem mesmo
a eliminação das incertezas políticas pela reeleição de FHC
-afastando o perigo de Lula,
com seus cacoetes anticapitalistas- conseguiu reverter em onda de pessimismo. Tornou-se
aguda a percepção da "dupla
armadilha". A armadilha cambial, resultante de que a flexibilização cambial indispensável
para a melhoria do balanço de
pagamentos é negativa sob o
ponto de vista da estabilidade
de preços. E a armadilha fiscal,
resultante de que as puxadas de
juros para conter a inflação e
evitar a fuga de capitais estrangeiros agravam a dívida pública
e trazem ameaça de insolvência.
Seria útil, a título de lições para o futuro, examinar os componentes dessa erosão de credibilidade:
1) o fracasso do "pacote 51";
2) a degradação do "risco soberano";
3) a frustração do acordo com
o FMI;
4) o "dezembro negro";
5) a rebelião dos governadores.
A resposta do Brasil à crise
asiática, que começou em julho
de 1997, parecia inicialmente
ágil e adequada. Houve uma
puxada de juros que logrou,
num prazo relativamente curto,
não só repor o nível de reservas
cambiais, mas elevá-las a US$
74 bilhões. Só que as reservas
não eram "reservas", e sim "recursos". A diferença é que a expressão "reserva cambial" só se
deve aplicar a recursos estáveis,
a saber, os oriundos de saldos
em conta corrente ou de investimentos estrangeiros permanentes e de empréstimos de muito
longo prazo. O que conseguimos
foram recursos "voláteis", atraídos por juros altos ou especulação bursátil. São úteis, mas
criam uma ilusão de ótica. No
caso brasileiro, essa ilusão consistiu em acreditarmos que poderíamos continuar praticando
um duplo gradualismo: gradualismo na desvalorização cambial e gradualismo no ajuste fiscal. Entretanto essas coisas são
incompatíveis. A sustentação do
gradualismo cambial exigiria
radicalismo na reforma fiscal.
O pacote fiscal, chamado "pacote 51", teve dois defeitos: (a)
proporções invertidas, pois que
apenas 1/3 consistia em corte de
gastos e 2/3 em aumento de arrecadação, o que implica transferir recursos do setor privado
produtivo para o consumo governamental; (b) implementação assimétrica, porque o aumento de tributação foi executado, e o corte de gastos, desobedecido. No balanço, enquanto
internamente nosso ajuste à crise asiática era considerado exitoso, ele era tido como inadequado pela finança internacional. O aumento de "reservas"
serviu assim como falso sinalizador de um sucesso inexistente.
Uma segunda lesão de nossa
credibilidade adveio de uma
tresleitura da crise russa de
agosto de 1998. Não se tratava
apenas de uma crise temporária
de liquidez, mas de uma dramática mudança da ecologia financeira. Acreditava-se até então
que o "risco soberano" dos países era diferente do "risco de
mercado" do setor privado. Em
princípio, economias grandes
não poderiam falir, porque o receio do contágio depressivo induziria operações de salvamento pelo FMI, pelos Tesouros dos
países-chaves ou por organizações internacionais. E o "risco
soberano" da Rússia parecia envolver condições que tornariam
imperativas operações de salvamento: economia grande, potência nuclear, candidata à inserção no capitalismo ocidental.
Quando o FMI suspendeu os desembolsos, tornando inevitável
a moratória, houve um desastre
ecológico no sistema financeiro.
A aversão ao risco neutralizou
nos investidores o "instinto de
ganância", tornando a alta de
juros inoperante e até mesmo
negativa para a atração de capitais. No caso brasileiro, sabendo-se que o governo é o maior
devedor, a puxada de juros passou a exercer efeito perverso, gerando medo de insolvência.
Nosso pacote de ajuste à crise
russa foi "more of the same", ou
seja, o mesmo tipo de resposta
dado à crise asiática: puxada de
juros e pacote fiscal, com priorização para a extração de receitas sobre o corte de gastos. Apenas a ecologia financeira tinha
mudado. O pacote fiscal foi encarado internacionalmente com
ceticismo, como se fosse um "pacote 51" requentado, e a alta de
juros passou a ser um fator de
intimidação em vez de atração
de fluxos estrangeiros. Em nenhum dos dois pacotes se deu
ênfase a um componente que teria sido eficaz e credível: aceleração das prismatizações, visando à redução do "estoque da
dívida". E nenhuma indicação
foi dada de que nos dispúnhamos a enfrentar tabus ideológicos, como os que até agora impediram a privatização da Petrossauro.
O terceiro episódio foi a patética negociação com o FMI, em
novembro passado. Se havia a
percepção de que a agravação
da crise de pagamentos impunha o abandono do gradualismo cambial, o momento de fazê-lo seria no bojo da negociação
com o FMI, apresentando-se em
conjunto a flexibilização cambial, o pacote de ajuste interno e
o esquema de apoio internacional. Tolamente, esse acordo foi
apresentado ao público como
um endosso internacional à manutenção de nosso gradualismo
de bandas cambiais. Quando,
semanas depois, tivemos de
alargar as bandas e em seguida
adotar o câmbio flutuante,
transmitimos a impressão de
que os financiadores internacionais tinham sido "tapeados" e
de que nossos negociadores
eram irresponsáveis.
Como se isso não bastasse, tivemos um quarto choque adverso à nossa credibilidade: o "dezembro negro". Várias coisas
aconteceram nesse mês fatídico:
(a) foi adiada a votação da
CPMF, componente essencial do
ajuste fiscal; (b) o Congresso rejeitou em primeira leitura, o
projeto relativo a contribuições
de funcionários ativos e inativos
para saneamento parcial do déficit da previdência pública; (c)
houve uma lamentável discussão entre os três poderes sobre o
teto salarial do funcionalismo,
gerando a impressão de que o teto não seria uma barreira intransponível, mas um objetivo a
atingir pelos escalões inferiores.
De tudo isso resultou a impressão de que a sociedade brasileira, em seu conjunto, não se tinha conscientizado da gravidade da crise.
O quinto episódio foi a rebelião dos governadores de oposição, gerando a impressão de
descontinuidade no cumprimento de contratos.
No mês de janeiro de 1999
-paralelamente ao choque do
câmbio flutuante e ao ridículo
episódio de multicefalia no Banco Central- houve melhoria
objetiva em vários pontos. A
CPMF foi votada no Senado, a
Câmara aprovou a contribuição
de ativos e inativos, e melhoraram as perspectivas de uma reforma fiscal mais profunda. Mas
o mal psicológico havia sido feito no "dezembro negro". E houve outro impacto negativo: a declaração de moratória do governador Itamar Franco. Esta provocou no exterior dois receios. O
primeiro é o do "efeito contágio", de vez que a cultura do calote é um cacoete nacional e tem
raízes até mesmo religiosas: a
oração do padre-nosso, em sua
tradução correta do texto latino, postula ao Criador o perdão
de nossas dívidas, "assim como
nós perdoamos aos nossos devedores". O segundo receio é que o
conflito entre governadores de
oposição e o governo central debilite o fervor antiinflacionário
desse último. E que o programa
de ajuste econômico, já difícil
em situações normais, passe a
ter um complicador político, como está ocorrendo na Rússia e
Indonésia.
Para corrigirmos essa erosão
de credibilidade, o Brasil precisa
montar um "choque de credibilidade", cujos componentes são
conhecidos. Um esforço preliminar seria reformularmos nosso
acordo com o FMI, visando à
reabertura de linhas de crédito,
particularmente as comerciais,
indispensáveis para a expansão
de exportações. Teríamos ainda
que acelerar o ajuste fiscal e retomar o programa de privatizações (inclusive privatizações de
conteúdo ideológico, que simbolizem nosso abandono da ideologia estatizante). E temos que
iniciar duas grandes reformulações: a de uma mudança sistêmica na Previdência Social,
substituindo o modelo de repartição pelo de capitalização individual. E a correção das deformações do pacto federativo que,
na Constituição de 1988, descentralizou receitas sem descentralizar funções e responsabilidades.
O temperamento brasileiro é
ciclotímico. Da mesma maneira
que houve um excesso de otimismo com as transformações induzidas pelo Plano Real, está
havendo excesso de pessimismo
com as repercussões do novo
"realismo cambial". A principal
razão de otimismo é que nossa
doença é hoje principalmente do
setor público. O setor privado,
que em última instância é o real
motor do desenvolvimento,
mantém surpreendente capacidade de sobrevivência e flexibilidade de ajuste.
Roberto Campos, 81, economista e diplomata, foi senador pelo PDS-MT, deputado federal
pelo PPB-RJ e ministro do Planejamento (governo Castello Branco). É autor de "A Lanterna
na Popa" (Ed. Topbooks, 1994).
Texto Anterior: Painel
Próximo Texto: Janio de Freitas: Na porta das novidades
Índice
|