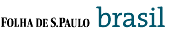|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
LANTERNA NA POPA
A Ásia revistada
ROBERTO CAMPOS
O modelo dos tigres asiáticos
-de autoritarismo confuciano
na política, dirigismo esclarecido na economia, solidariedade
grupal no social- foi objeto de
generalizada admiração no restante do mundo subdesenvolvido. E mereceu o aplauso de
agências internacionais, em
contraste com o medíocre desempenho latino-americano.
Este subcontinente perdeu a década de 80, e nesta década a
recuperação é ainda cambaleante.
Após o terremoto financeiro
que assolou e ainda assola o
leste da Ásia, resta saber quantos edifícios desmoronaram e
quantos sobrevivem do magnífico desenho original. A conclusão é que há ainda muito que
admirar no desempenho asiático, mas o fato é que por muito
tempo admiramos as coisas erradas. Aliás, já dizia Tom Jobim, o Brasil precisa parar de
admirar o que não dá certo.
No caso dos tigres asiáticos,
nossos economistas, sobretudo
os da esquerda nacionalista,
admiravam o dirigismo
bem-sucedido. O governo teria
sido o motor do desenvolvimento, através de tecnocratas esclarecidos, que alocavam créditos
e benefícios fiscais para regiões
dinâmicas e empresas eleitas.
Os asiáticos teriam tido êxito
numa coisa em que as economias ocidentais fracassaram:
escolher vencedores. Alegava-se
que o Brasil precisava imitar o
modelo asiático de micro-gerenciamento, pela formulação
de uma "política industrial".
(Trata-se de um nome que me
provoca calafrios pois o associo
a grandes erros: o monopólio da
Petrossauro, a política de informática e o programa nuclear.)
A política industrial, como
instrumento de desenvolvimento, atingiu seu apogeu na década de 70, através de um maciço
programa de substituição de
importações, e na Ásia, na época do "milagre asiático", no fim
da década de 80.
Parecia irresistível a conexão
entre dirigismo governamental
e desenvolvimento econômico.
Duas características credenciariam o Estado como motor do
desenvolvimento: a capacidade
telescópica de planejar no longo
prazo, a salvo de ameaças à sobrevivência; o controle dos instrumentos fiscal, creditício e
cambial.
Desde então mudou substancialmente a percepção mundial
das virtuosidades relativas do
mercado e do Estado, prevalecendo uma visão mais realista
das limitações governamentais,
com ascendência paralela do
setor privado como motor do
desenvolvimento. É o que está
por detrás da onda universal de
privatizações, provocada por
três fenômenos -a falência dos
tesouros, a globalização competitiva e a velocidade das transformações tecnológicas, incompatível com o sonolento mecanismo decisório dos dinossauros estatais.
Questiona-se, outrossim, a capacidade telescópica do Estado.
Enquanto as empresas privadas
se vêem obrigadas cada vez
mais a planejar para o longo
prazo, por desafios à sobrevivência e pelas pressões competitivas, são os Estados que caem
vítimas do "curtotermismo", seja por soluções político-eleitorais, seja pela corrosão resultante da corrupção.
Isso está provocando um reexame dos supostos sucessos do
dirigismo asiático.
Há sem dúvida exemplos exitosos em que não havia vantagens "comparativas" naturais,
mas se criaram "vantagens"
competitivas pela alocação dirigida de recursos. Mas os tecnocratas planejadores erraram
tanto quanto acertaram (inclusive o Miti japonês, que perdeu
sua aura de planejador carismático). E não há evidência de
as indústrias não eleitas, que
brotaram das vantagens comparativas, terem crescido menos
que as indústrias eleitas, especialmente protegidas. Os incentivos foram mais eficazes quando destinados a reforçar as tendências do mercado do que a
contrariá-las por saltos artificiais.
Houve não só distorções graves, mas corrupção maciça no
dirigismo governamental, que
vieram à tona com a eclosão da
crise que estourou em outubro
de 1997, a partir do sistema financeiro. Na Coréia, houve favorecimento excessivo dos
"chaebols", que tiveram crédito
barato levando à sobreexpansão de várias indústrias, como a
construção naval, a indústria
automobilística, a produção de
chips e a petroquímica. Na Malásia, houve uma floração de
projetos paranóicos, em que
considerações de prestígio político pesaram tanto ou mais que
análises mercadológicas. Na Indonésia, indústrias estratégicas
acabaram tornando-se prebendas familiares, com privilégios
excessivos para semi-monopólios privados.
Parecem ter errado menos as
regiões onde os governos intervieram menos: Hong Kong, em
primeiro lugar, onde o desenvolvimento obedeceu quase exclusivamente as forças do mercado; Taiwan, onde ele se processou principalmente através
de pequenas e médias indústrias. E Cingapura, onde se privilegiaram indústrias de alta
tecnologia, lideradas principalmente por multinacionais.
Isso não significa que não restem políticas a admirar ou
exemplos a imitar nos tigres
asiáticos. Apenas precisamos
admirar coisas diferentes, que
nada têm a ver com o micro-gerenciamento da política industrial.
O que há a admirar são macro-políticas, das quais resultou
que fosse longo o milagre asiático, de 1984 a 1997, em contraste
com o curto milagre brasileiro,
de 1968 a 1973. E que esse rápido desenvolvimento fosse
acompanhado de dramática redução de pobreza, auxiliada esta muito mais pelo "efeito
transbordamento" do crescimento rápido do que por ginásticas assistencialistas. Os elementos essenciais dessa conciliação foram a concentração de
investimentos na educação básica, facilitando a absorção de
tecnologia; a razoável estabilidade de preços resultante do
equilíbrio fiscal; e a orientação
exportadora, indutora de eficiência.
Revisitada a experiência asiática e reavaliada a experiência
brasileira, resta que a política
industrial que nos convém se
reduz a umas poucas regras de
bom senso. A primeira é que o
mais importante incentivo ao
progresso é assegurar-se liberdade empresarial, pela abolição
de monopólios estatais e reservas de mercado. A segunda é
aumentar a previsibilidade econômica, pela estabilização de
preços. A terceira é que, antes
da concessão de incentivos, é
necessário remover obstáculos
pois que, isso feito, na maioria
das vezes o mercado cuidará de
si mesmo.
Roberto Campos, 81, economista e diplomata, é deputado federal pelo PPB do Rio de
Janeiro. Foi senador pelo PDS-MT e ministro
do Planejamento (governo Castello Branco). É
autor de "A Lanterna na Popa" (Ed. Topbooks,
1994).
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
|