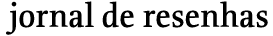|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
A república do Village
VICTOR KNOLL
Na mesma Washington Square que serviu de palco para as personagens de Henry James, no inverno de 1916 John Sloan e Marcel Duchamp galgaram o arco que domina a praça e, instalados em seu topo,
"desenrolaram bolsas de água quente para se sentar, expuseram comida e vinho, acenderam lanternas japonesas e encheram balões vermelhos". Nesse cenário, leram poemas e declararam Greenwich Village
"uma República Livre": um espaço de atuação marcado pela diferença
com a "vida burguesa". Estava inventado o "happening", que somente
em 1959, com Allan Kaprow, se consolidaria como uma prática artística corrente. O gesto de Duchamp e Sloan (que já tomava como tema de
suas pinturas a vida cotidiana de Nova York) vaticinava o destino do
bairro: ao longo dos anos 60, um centro efervescente produtor de arte e
contestador dos costumes.
Tendo em vista caracterizar Greenwich Village como "espaço" de exceção, uma espécie de contralocal, Sally Banes se apropria do conceito
de heterotopia, forjado por Michel Foucault. Prisões e asilos são os
exemplos imediatos, mas salas de espetáculo e parques são também casos de heterotopia: uma justaposição simbólica de diversos espaços em
um espaço único. Sally Banes cita Foucault: as heterotopias "são alguma coisa como contralocais, uma espécie de utopia efetivamente sancionada em que (...) todos os outros locais reais que podem ser achados
dentro da cultura são simultaneamente representados, contestados e
invertidos". Aí temos o sentido do Village a partir do fim dos anos 50.
Aliás, o "happening" instaura uma heterotopia: um lugar de "exceção"
povoado de representações simbólicas, as quais pretendem mostrar o
que se esconde no "espaço real".
Após o breve período "dourado" do pós-guerra, a paisagem norte-americana é sacudida pelo conflito da Coréia, pela marcha dos direitos
civis sobre Washington, pela intensificação da Guerra Fria, pelos assassinatos do presidente Kennedy e do pastor Luther King. As artes não
permaneceriam indiferentes. Mas, segundo Sally Banes -e isso ela
mostra com muita competência-, a revolução artística que então se
instaurava não era apenas o reflexo das convulsões sociais e políticas,
mas, ao lado destas, era uma força atuante, no mínimo coadjuvante.
Essa é uma tese que perpassa todo o livro.
Sally Banes lembra que "cinegrafistas políticos, como os membros do
corpo de cine-jornal nacional, tomaram emprestadas imagens e técnicas "underground" do início da década de 60. E os cartazes políticos foram influenciados pela arte pop, e às vezes até feitos por artistas pop".
Os atores dessa "revolução artística" que se desenvolveu ao longo dos
anos 60 -a autora toma o ano de 1963 como emblemático- foram
John Cage na música, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg nas artes plásticas, Merce Cunninghan e Yvonne Rainer na dança,
Brian de Palma no cinema e, ainda, as sessões de poesia de protesto, o
teatro "off-off-Broadway", o Living Theater e os espetáculos na Judson
Memorial Church. Aí temos poucos nomes e manifestações que se consagraram, mas, na época, o Village estava infestado de artistas e por todos os cantos do bairro fervilhavam espetáculos e recitais.
Ali aconteceu de maneira concentrada -e por isso mesmo reconhecível como uma heterotopia- o que ocorreu durante as duas primeira
décadas do século 20 na Alemanha, quando o que conhecemos como
"expressionismo" reuniu em um mesmo projeto artístico as artes plásticas, a poesia, o cinema, a música, o teatro. Momentos diferentes, tradições diversas. De fato, os ensaios coreográficos de Merce Cunningham estavam ligados não só à música também experimental de John
Cage, mas igualmente à pintura de Robert Rauschenberg.
Aí temos outra tese sempre evidenciada -e justificada- ao longo
do livro: a inter-relação das manifestações artísticas. A "pop art", sempre identificada à pintura, guarda estreita relação com o cinema "underground", com os espetáculos da "off-off-Broadway" e com o happening. Aliás, a "Factory" de Andy Warhol se constituiu em um centro
produtor não apenas de pintura, mas também de cinema -ele próprio
produzindo alguns filmes-, e igualmente espetáculos de dança ali foram gerados assim como peças "off-off" receberam apoio.
Os anos 60 se caracterizaram por uma cultura da contestação, pela liberação sexual, pelo cuidado com o corpo, pelo grito de emancipação
das mulheres, pela defesa dos direitos das minorias. Ao lado da atividade artística e com ela perfazendo um todo, dava-se no Village essa "revolução cultural", cujos efeitos exportados para a Europa resultaram
nos episódios de Maio de 68. Sally Banes vai mais longe: vê nessa união
indissolúvel do artístico, do moral e do ético o fator determinante do
pós-moderno que dominou os anos 70 e 80.
Os anos 60 nos EUA, e em particular na arte que se produzia no Village, caracterizavam-se pela euforia do consumo, por um sentimento de
progresso, por um mercado cada vez mais abarrotado de produtos derivados da alta tecnologia, pelos satélites artificiais e pela marca do pé
do homem no solo da lua como símbolos de poder político, por uma
consciência democrática profundamente enraizada na sociedade. Mas
havia um outro lado. No âmbito social: os assassinatos de Kennedy e
Luther King, a marcha sobre Washington pelos direitos civis, a Guerra
do Vietnã; no âmbito do indivíduo (ou a exploração pública do indivíduo como uma espécie de ícone do comportamento): as depressões de
Elizabeth Taylor, o suicídio de Marilyn Monroe, a solidão de Elvis Presley -para citar três personagens "retratados" por Andy Warhol. Tal é
a contradição inerente à arte norte-americana da época.
A "pop art" se nutriu desses dois lados e os representou. De modo geral, as artes e as produções que integravam diversas artes lidaram, ao
longo dos anos 60, com essa contradição e nela pode-se ver a origem de
um novo ciclo artístico e cultural. Definitivamente o "modernismo"
converteu-se em passado.
Cumpre lembrar que a "pop art", embora tenha o seu berço em Londres, caracteriza-se como um fenômeno artístico tipicamente norte-americano, atrelado à sua sociedade e cultura. Já nos mesmos anos 60
expandiu-se rapidamente pelo mundo ocidental e, entre nós, na época,
Wesley Duke Lee foi pioneiro e Claudio Tozzi um representante dos
mais fecundos.
Em 1963, Duchamp ainda morava no Village e era testemunho das
manifestações artísticas que se davam na "república" que, com Sloan,
proclamara em 1916 do topo do arco de Washington Square.
Victor Knoll é professor de estética do departamento de filosofia da USP.
Texto Anterior: Francisco Alambert: Cartografias euclidianas
Próximo Texto: Celso Favaretto: Da imagem ao conceito
Índice
|