




 |
 |
 |
São Paulo, sábado, 11 de março de 2000
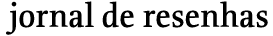 |

|
| Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
Profissões imperiosas
As Profissões Imperiais - Medicina, Engenharia e Advocacia no Rio de Janeiro (1822-1930) Edmundo Campos Coelho Record (Tel. 0/xx/21/585-2047) 304 págs., R$ 22,68 MARIA ARMINDA ARRUDA "As Profissões Imperiais" é um livro inquietante nos mais diversos planos: no assunto, na forma de organização da narrativa, no tipo de tratamento, nos temas que projeta, nas críticas que encerra. A bem da verdade, ele se furta ao simples enquadramento numa área de especialidade, transbordando as costumeiras delimitações disciplinares. Na apresentação, o autor alerta que desejou apenas "explorar em linhas muito gerais uma ou outra idéia colhida em sub-área disciplinar (des)conhecida por "sociologia das profissões", experimentando com elas num lugar e num período particular da história brasileira". O cenário -a cidade do Rio de Janeiro- e o tempo onde "toda a ação transcorre" (momento formativo das chamadas profissões tradicionais, da Independência até o final da Primeira República) balizam as condições situacionais dos agentes, remetidos para a cena de uma história que o autor organiza nos moldes do teatro clássico. Abrindo a narrativa, o sociólogo percorre desde a etimologia do termo "profissão", a transformação dos seus significados, o caráter específico que assume quando se lhe agrega o qualificativo "liberal" e o momento da difusão da expressão. Se na Inglaterra e nos EUA, já no século 18, "liberal arts" traduziam uma educação de cunho humanístico, em Portugal e no Brasil o composto "profissões liberais" só teria utilização no século 20, assim mesmo em sentido diverso do uso corrente na língua inglesa, uma vez que não carreava, necessariamente, a noção de atividade culta, apenas recortava certos tipos de ocupações próprias de indivíduos livres. Dois modelos Optando por uma concepção operacional da categoria, isto é, "ocupações de nível superior" que "não estão inseridas no processo produtivo ou no de acumulação "stricto sensu'", o autor chama a atenção para o caráter histórico do termo, que foi fundamentalmente codificado na literatura anglo-americana, ainda que seja utilizado pelos cientistas sociais como um conceito genérico. As profissões são ocupações brotadas na esteira da modernidade, analisadas segundo duas vertentes básicas: um "modelo anglo-americano" e um "europeu-continental" de processos de profissionalização, duas matrizes históricas das quais teriam surgido, durante o século 20, as formas institucionais das profissões modernas. Em cada um deles, acentua-se a dimensão intervencionista da administração estatal ou a auto-regulação profissional: o Estado ou o mercado, sendo a primeira modalidade característica do continente europeu, e, a segunda, típica da cultura anglo-americana. A partir daí, como pensar a constituição das profissões no Brasil? O encaminhamento da discussão, segundo esses termos, vertebram as reflexões posteriores. Edmundo Coelho revela forte domínio da literatura que tratou do assunto e amplo conhecimento da história da formação das profissões na Europa e nos EUA. Essa estratégia de construção do texto rende muito no âmbito reflexivo, uma vez que permite contrapor ao caso brasileiro outras experiências e extrair diferenças significativas dessa comparação. O autor considera o dilema Estado ou mercado como uma "falsa antinomia", procurando mostrar a relação intrínseca entre as profissões e a formação das condições de governabilidade, bem como o equívoco em identificar liberalismo com ausência da ação estatal. Para o Brasil oitocentista, o sociólogo escande o caráter inadequado da utilização dessa perspectiva antinômica, uma vez que o Estado Imperial não se deixa captar por pares conceituais simplistas. Ele está debatendo com uma literatura, nem sempre totalmente nomeada, que enfrentou a história da construção do Estado Nacional. Posições vantajosas Rejeitadas essas posturas antinômicas, a escolha recai sobre a consideração das ações do Estado, dos médicos, advogados, engenheiros, desenvolvidas nesse momento de formação das profissões. Daí a reflexão encaminha-se para a apreciação da ação efetiva desses profissionais, com o propósito de revelar os modos como realizaram, em diferentes domínios, suas atividades. Absorvidos pela ambiência da Corte, esses "nobres profissionais" foram compelidos a concorrer entre si e externamente à confraria, na busca de posições vantajosas. Suas associações, a Academia Imperial de Medicina, o Instituto dos Advogados Brasileiros e o Instituto Polytechnico do Brasil, foram organismos que congregaram a elite dos profissionais e desenvolveram mecanismos de proteção e autoprojeção social, que se ampliavam na medida em que a participação se estendia para outras sociedades de cunho literário e cultural, igualmente frequentadas por distinguidos intelectuais da Corte. Enquanto a Academia do Dr. Jobim era literalmente um braço do imperador, sempre presente em seus festejos, mesmo a contragosto, o Instituto de Quincas, o Belo (José Tomás Nabuco de Araújo), era o espaço dos altos dignatários da profissão. A primeira, era palco dos assuntos mais irrelevantes, a segunda trazia à cena todas as vaidades e delicadezas cavalheirescas. Já o Instituto Polytechnico tinha como presidente o próprio conde d'Eu e reuniu figuras proeminentes do Império. As associações foram canais de projeção das carreiras, ainda que de formas diversas. Inspiradas nas suas congêneres francesas, afastavam-se no plano das ações concretas. A distinção entre medicina clínica e sanitária, ou higienismo, existente na França, foi aqui nublada, revelando a inclinação para auferir vantagens dos dois lados; o mesmo acontecia nas carreiras jurídicas, nas quais a separação se dava entre aqueles que exerciam a "arte e professavam a ciência do direito" e aqueles que trabalhavam nos tribunais (advogados obscuros, solicitadores, provisionados, rábulas). Não obstante os "notáveis" não se furtavam a combinar as duas modalidades de atuação, quando lhes convinha. Nabuco de Araújo acumulou, sem peias, as funções de conselheiro e de presidente do Instituto, o que revela a distância dos ideais da "Ordre" francesa. Os engenheiros apresentavam-se como arautos da modernidade, vocalizadores da ciência positiva, capazes de encontrar soluções racionais para diferentes problemas. Por isso, não casualmente, o imperador compareceu a 17 sessões do Instituto no curto período de seis meses. Pereira Passos, Paulo de Frontin e mesmo Vieira Souto eram figuras da mundanidade carioca, personagens dos salões afrancesados da nossa "belle époque". Monopólio profissional A questão do monopólio profissional, no entanto, não se punha do mesmo modo para as três profissões. Se, para a elite dos médicos, tratava-se de garantir a exclusividade do exercício de um certo tipo de medicina, haja vista as querelas com os homeopatas e os pedidos constantes de proibição do exercício de diversos tipos de curandeirismo, para os juristas de renome, que ocupavam os mais altos cargos da administração imperial, a regulamentação não se afigurava decisiva. Daí o desleixo na construção do Código Jurídico e o retardamento na constituição da Ordem dos Advogados, efetivada apenas nos anos 1930. Os engenheiros reputados manifestavam débil interesse pela atuação na área privada, pois perseguiam grandes obras públicas, nas quais poderiam demonstrar sua perícia e superioridade em relação aos construtores e mestres-de-obras. A nenhum deles escapava, em suma, o desejo de uma sinecura. Por isso, travavam ácidas disputas por posições no aparelho do Estado. Para além das contendas intracategorias, explicitavam-se as dissensões entre elas. Os médicos, esperando a regulamentação jurídica de sua profissão, perderam a primazia na política de construção das obras de saneamento, tendo que se contentar com o trabalho corriqueiro de tratamento das doenças; os advogados ficaram na sombra com o advento da República, o berço dos engenheiros, uma vez que estavam identificados com a monarquia. Enfim, as competições pululavam, desfazendo a aura de profissões tão prestigiosas. O desfecho dessa história fracamente enobrecida explicita-se no epílogo: "Não foram histórias edificantes. (...) São histórias de elites saturadas de valores excludentes, antidemocráticas, antipovo. São histórias de promiscuidade com o poder ou de explícita (e frustrada) aspiração a essa relação promíscua". Daí o título não se referir apenas às ocupações construídas no transcorrer do século 19, passando a carrear os significados de arrogantes, autoritárias, constituídas no desempenho dos agentes participantes dessa tragédia histórica. O estilo coloquial e o tom irônico combinam-se às constantes interpelações ao leitor e às projeções de humor do autor, o que não parece casual. Tais características sintonizam-se com o ensaio, com o descompromisso em organizar cartesianamente o pensamento, construindo um argumento desfiado no decorrer da exposição, que recusa as grandes generalizações. Esse conjunto recoloca, naturalmente, problemas de natureza analítica. No âmbito implícito, subjazem dimensões que remetem a contextos contemporâneos. Ao fim e ao cabo, para usar uma expressão recorrente no texto, este livro interroga-nos todo o tempo. Maria Arminda do Nascimento Arruda é professora de sociologia na USP. Texto Anterior: Marilena Chaui: Raízes do atraso Próximo Texto: Carlos A. Leite Brandão: Um olhar arquitetônico Índice |
|
|